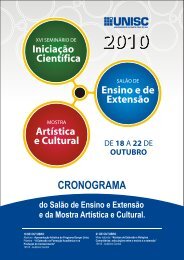Revista Jovens Pesquisadores - Unisc
Revista Jovens Pesquisadores - Unisc
Revista Jovens Pesquisadores - Unisc
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong><br />
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC<br />
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação<br />
EDITORA DA UNISC<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p.1-127, 2010
Comissão de avaliação<br />
Reitor<br />
Vilmar Thomé<br />
Vice-Reitor<br />
Eltor Breunig<br />
Pró-Reitora de Graduação<br />
Carmen Lúcia de Lima Helfer<br />
Pró-Reitor de Pesquisa<br />
e Pós-Graduação<br />
Rogério Leandro Lima da Silveira<br />
Pró-Reitor de Administração<br />
Jaime Laufer<br />
Pró-Reitor de Planejamento<br />
e Desenvolvimento Institucional<br />
João Pedro Schmidt<br />
Pró-Reitora de Extensão<br />
e Relações Comunitárias<br />
Ana Luisa Teixeira de Menezes<br />
EDITORA DA UNISC<br />
Editora<br />
Helga Haas<br />
Profª. Ana Zoe Schiling da Cunha<br />
Profª. Andrea Lúcia Gonçalves da Silva<br />
Prof. Andreas Köhler<br />
Prof. Marcelo Carneiro<br />
Profª. Miriam Beatris Reckziegel<br />
Profª. Juliana Silva – Bolsista Produtividade CNPq<br />
Profª. Fabiana Piccinin<br />
Profª. Heleniza Ávila Campos<br />
Prof. Heron Begnis<br />
Prof. Janrie Rodriguez Reck<br />
Profª. Mônia Clarissa Hennig Leal<br />
Profª. Neuza Guareschi – Bolsista Produtividade CNPq<br />
Profª. Lilian Rodriguez da Cruz<br />
Prof. Marco André Cadona<br />
Prof. Moacir Fernando Viegas<br />
Profª. Rosângela Gabriel<br />
Profª. Silvia V Coutinho Areosa<br />
Profª. Adriane Lawisch Rodriguez<br />
Profª. Alessandra Dahmer<br />
Prof. Ênio Leandro Machado<br />
Profª. Liliane Marquardt<br />
Prof. Rolf Fredi Molz<br />
Prof. Valeriano Antonio Corbelinni<br />
Prof. Carlos Alejandro Figueroa – Bolsista Produtividade CNPq<br />
Editores<br />
Andreia Rosane de Moura Valim<br />
Fabiane Ramos Jungblut<br />
Rogério Leandro Lima da Silveira<br />
R454<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong> [recurso eletrônico] / Universidade de Santa Cruz do Sul,<br />
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. - Vol. 1, n. 1 (2010) – Dados eletrônicos - Santa<br />
Cruz do Sul : EDUNISC, 2010.<br />
Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader<br />
Modo de acesso: www.unisc.br/edunisc<br />
1. Pesquisa – Periódicos. I. Universidade de Santa Cruz do Sul. Pró-Reitoria de<br />
Pesquisa e Pós-Graduação.<br />
CDD: 001.4<br />
Bibliotecária : Luciana Mota Abrão - CRB 10/2053<br />
Avenida Independência, 2293<br />
Fones: (51) 3717-7461 e 3717-7462 - Fax: (051) 3717-7402<br />
96815-900 - Santa Cruz do Sul - RS<br />
E-mail: editora@unisc.br - www.unisc.br/edunisc
SUMÁRIO<br />
APRESENTAÇÃO<br />
Rogério Leandro Lima da Silveira..........................................................................5<br />
INTRODUÇÃO .................................................................................................6<br />
ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE<br />
ANÁLISE DO PERFIL DE MORTALIDADE POR DOENÇA PULMONAR<br />
OBSTRUTIVA CRÔNICA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, RS,<br />
BRASIL<br />
Gabriela Crestani, William Rutzen, Andréa Lúcia Gonçalves da Silva, Tânia<br />
Cristina Malezan Fleig, Marcelo Tadday Rodrigues................................................ 10<br />
AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO SANGUÍNEO DE ATLETAS<br />
CORREDORES NO ENSAIO ERGOESPIROMÉTRICO DE BRUCE<br />
UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO<br />
Franciele Pasqualotti Meinhardt, Hildegard Hedwig Pohl, Miriam Beatris<br />
Reckziegel, Valeriano Antonio Corbellini ............................................................. 17<br />
CONCEPÇÕES SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DA<br />
POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO E ATENÇÃO A<br />
SAÚDE: COM A PALAVRA, GESTORES DE SAÚDE DE MUNICÍPIOS DA<br />
13ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE<br />
Janice Bringmann, Luciele Sehnem, Ari Nunes Assunção, Leni Dias Weigelt,<br />
Luciane Maria Schmidt Alves, Suzane Beatriz Frantz Krug .................................... 28<br />
ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS DA TERRA E ENGENHARIAS<br />
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA BACIA<br />
HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO, SISTEMA AQÜÍFERO GUARANI, RS,<br />
BRASIL<br />
Marluce Purper, Eduardo A. Lobo ...................................................................... 39<br />
BIORREMEDIAÇÃO IN SITU COM PERÓXIDOS SÓLIDOS E<br />
SURFACTANTES DE SOLOS CONTAMINADOS<br />
Tiago Bender Wemuth, Diosnel Antonio Rodriguez Lopez .................................... 49
4<br />
EPOXIDAÇÃO QUIMIO-ENZIMÁTICA DE ÓLEO DE GIRASSOL E<br />
CANOLA BRUTOS VISANDO O EMPREGO EM FORMULAÇÕES DE<br />
FLUIDO DE CORTE EM USINAGEM<br />
Manuella Schneider, André Luiz Klafke, Wolmar Alípio Severo Filho, Rosana de<br />
Cássia de Souza Schneider ................................................................................ 58<br />
ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS<br />
DESENHO DA FIGURA HUMANA NA CHUVA – PROPOSTA DE<br />
VALIDAÇÃO NO BRASIL<br />
Emanueli Paludo, Vivian Silva da Costa, Roselaine Berenice Ferreira da Silva ......... 71<br />
LEITURA E INFÂNCIA: A PRODUÇÃO DOS MODOS DE SER E<br />
PRÁTICAS DE LEITURA<br />
Karen Cristina Cavagnoli, Betina Hillesheim, Lílian Rodrigues da Cruz ................... 82<br />
MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: ESTRATÉGIAS<br />
IDENTITÁRIAS E AÇÃO POLÍTICA<br />
Rafael Petry Trapp, Mozart Linhares da Silva ...................................................... 89<br />
ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS<br />
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS: UMA ANÁLISE DO SETOR METAL-<br />
MECÂNICO NA REGIÃO DOS VALES DO RIO PARDO E TAQUARI<br />
Gabriella Azeredo Azevedo, Mauricio Rennhack Stein, Rejane Maria Alievi,<br />
Heron Sergio Moreira Begnis ...........................................................................................101<br />
O AMICUS CURIAE E O CUSTO DOS DIREITOS: A RELEVÂNCIA DO<br />
INSTITUTO NAS CAUSAS QUE IMPLICAM EM CUSTOS EXCESSIVOS<br />
PARA O ESTADO E AS ESCOLHAS EM MEIO A ESCASSEZ<br />
Julia Carolina Muller, Mônia Clarissa Hennig Leal .........................................................110<br />
ANALISE DE TIPOLOGIAS ARQUITETÔNICAS AO LONGO DA III<br />
PERIMETRAL EM PORTO ALEGRE (RS-BRASIL)<br />
Mariana Louise Sehnem, Heleniza Ávila Campos ........................................................... 120
APRESENTAÇÃO<br />
É com muita satisfação que apresentamos a edição do primeiro número da<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, da Universidade de Santa Cruz do Sul, relevante<br />
iniciativa da Coordenação de Pesquisa, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,<br />
com o objetivo de valorizar e divulgar as atividades de pesquisa desenvolvidas pelos<br />
nossos alunos bolsistas de iniciação científica junto aos projetos de pesquisa<br />
coordenados pelos professores da Universidade.<br />
Esse novo veículo de divulgação científica da UNISC tem como propósito<br />
destacar e divulgar os melhores trabalhos de pesquisa dos alunos dos cursos de<br />
graduação que participam anualmente do nosso Seminário de Iniciação Científica. A<br />
publicação da <strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong> é, portanto um reconhecimento à<br />
qualidade dos trabalhos acadêmicos e ao exemplar desempenho dos nossos alunos<br />
no processo de iniciação à pesquisa.<br />
A Universidade tem o compromisso de proporcionar a inserção do aluno no<br />
meio científico, através da prática de pesquisa e da convivência entre atividades<br />
acadêmicas de graduação e de pós-graduação, possibilitando-lhe a capacidade de<br />
construir uma nova relação com os conteúdos/temas abordados durante sua<br />
formação acadêmica. A participação e o envolvimento dos alunos no cotidiano da<br />
pesquisa, a vivência na aplicação prática dos referenciais teóricos e metodológicos, a<br />
valorização do que já sabe, e as conexões entre os diversos saberes disciplinares,<br />
ampliam as possibilidades de qualificação da formação acadêmica na perspectiva da<br />
construção do conhecimento científico.<br />
O aluno de iniciação científica é estimulado a interagir com os pesquisadores e<br />
a participar de grupos de pesquisa e de atividades dos programas de pós-graduação<br />
stricto sensu, permitindo-lhe viver a experiência da formação científica e profissional,<br />
e oportunizando-lhe, assim, melhores condições para sua evolução como<br />
pesquisador e como cidadão.<br />
A presente <strong>Revista</strong> se insere assim nesse compromisso institucional da UNISC<br />
de valorização da iniciação científica, enquanto importante momento no<br />
desenvolvimento do pensamento científico dos estudantes dos cursos de graduação<br />
da Instituição, além de contribuir decisivamente na formação qualificada de recursos<br />
humanos para a pesquisa, preparando-os para o ingresso na pós-graduação.<br />
Vida longa à <strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong> e aos Programas de Iniciação<br />
Científica da Universidade de Santa Cruz do Sul!<br />
Rogério Leandro Lima da Silveira<br />
Pró-Reitor de Pesquisa e de Pós-Graduação
INTRODUÇÃO<br />
A publicação da revista <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong> refere-se a doze trabalhos<br />
agraciados com Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científica no ano de 2010.<br />
Essa premiação está diretamente relacionada com o XVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO<br />
CIENTÍFICA, promovido pela Universidade de Santa Cruz do Sul nos dias 18 a 22 de<br />
outubro de 2010, que teve por objetivo a integração dos pesquisadores docentes,<br />
estudantes de graduação e pós-graduação. Através desse evento é divulgada a<br />
produção acadêmica, resultante das atividades de pesquisa desenvolvidas pelos<br />
bolsistas que integram os Programas de Iniciação Científica da UNISC e de outras<br />
Instituições de Ensino Superior.<br />
Cabe destacar o envolvimento dos jovens na iniciação científica, na investigação<br />
científica, de modo a contribuir para a formação e qualificação dos acadêmicos,<br />
tornando-os agentes transformadores da realidade e diferenciando-os no mercado de<br />
trabalho. Com isso, paralelo ao evento, ocorreu a realização do prêmio Destaque do<br />
Ano na Iniciação Científica – UNISC valorizando os melhores trabalhos nas quatro<br />
grandes áreas do conhecimento, quais sejam Ciências Humanas, Ciências Sociais<br />
Aplicadas, Ciências Exatas da Terra e Engenharias e Ciências Biológicas e da Saúde.<br />
O processo de avaliação e seleção dos trabalhos envolveu uma análise inicial<br />
realizada por uma Comissão Científica Avaliadora composta por docentes da<br />
Instituição com experiência em atividades de pesquisa e em orientação de Iniciação<br />
Científica. Também fizeram parte desta comissão docentes externos reconhecidos<br />
pelas suas atividades de pesquisa através de bolsa produtividade do CNPq. Os<br />
trabalhos foram selecionados em três etapas, a primeira delas relacionada à<br />
avaliação do resumo inscrito no XVI Seminário de Iniciação Científica, com base nos<br />
seguintes critérios: a) capacidade de síntese, clareza, correção e adequação à<br />
linguagem acadêmica; b) apresentação dos objetivos, da metodologia, dos<br />
resultados parciais ou finais; e c) apresentação de conclusões e/ou resultados<br />
adequados.<br />
A segunda etapa de avaliação se deu por ocasião da apresentação oral dos<br />
trabalhos, onde foram avaliados: a) capacidade de comunicação, clareza e<br />
adequação à linguagem acadêmica; b) apresentação dos objetivos, da metodologia e<br />
dos resultados parciais ou finais e de conclusões; c) domínio do conteúdo; e d)<br />
adequação ao tempo disponível. A terceira etapa de avaliação constitui-se da<br />
sistematização da pontuação atribuída nas etapas 1 e 2 e foi realizada por Comissão<br />
Interna da PROPPG. Como resultado das avaliações foram definidos os doze<br />
trabalhos agraciados com o Prêmio Destaque na Iniciação Científica UNISC entre 228<br />
trabalhos selecionados para o evento.<br />
A divulgação dos trabalhos selecionados foi realizada ao término do evento,<br />
sendo que os autores foram surpreendidos em sala de aula por um ator<br />
caracterizado de Charles Chaplin em encenação que apresentava para a turma o
7<br />
trabalho e o aluno como destaque para os colegas. Após a divulgação no âmbito<br />
acadêmico os vencedores foram convidados a participar de uma solenidade de<br />
divulgação, onde foi anunciada a publicação dessa edição da <strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong><br />
<strong>Pesquisadores</strong>.<br />
A publicação dos trabalhos selecionados no XVI Seminário de Iniciação<br />
Científica da UNISC no formato de artigo é uma forma importante de divulgação da<br />
produção científica produzida pelos acadêmicos e docentes que integram os<br />
Programas de Iniciação Científica da Universidade. Também é uma forma de reforçar<br />
o intercâmbio entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, no âmbito<br />
da UNISC e de outras Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio Grande do<br />
Sul.<br />
É importante ressaltar o apoio que a Fundação de Amparo à Pesquisa do<br />
Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS e o Conselho Nacional de Desenvolvimento<br />
Científico e Tecnológico – CNPq tem nos proporcionado ao longo destes anos de<br />
cooperação, assim como as demais agências de fomento, que investem na formação<br />
de novos pesquisadores através de seus programas de Iniciação Científica.<br />
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade, responsável por<br />
esta publicação, aproveita para externar seus agradecimentos aos membros da<br />
Comissão Científica Avaliadora e a todos os orientadores e estudantes que participam<br />
desse evento.<br />
A seguir destaca-se por área do conhecimento, as principais modalidades dos<br />
trabalhos inscritos no XVI Seminário de Iniciação Científica. Destaca-se que entre os<br />
228 trabalhos selecionados, 31,1% foram da área de ciências biológicas e da saúde,<br />
22,4% da área de ciências humanas, 18% da área de ciências sociais aplicadas e<br />
28,5% da área de ciências exatas, da terra e engenharias, dados apresentados na<br />
Figura 01.<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Área de C.<br />
Biológicas e da<br />
Saúde<br />
Área de C.<br />
Humanas<br />
Área de Ciências<br />
Sociais<br />
Aplicadas<br />
Área de C. Exatas<br />
da Terra e<br />
Engenharias<br />
Figura 1 - Classificação dos trabalhos selecionados para o XVI Seminário de Iniciação<br />
Científica por área do conhecimento.<br />
Fonte: Coordenação de Pesquisa, UNISC, outubro de 2010.
Ciências<br />
Biológicas e<br />
da Saúde
9<br />
ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE<br />
Na área de Ciências Biológicas e da Saúde entre os 72 trabalhos apresentados<br />
no evento, 64 foram de alunos bolsistas de Iniciação Científica da Universidade e 08<br />
trabalhos de alunos de Iniciação Científica vinculados a outras Instituições de Ensino<br />
do Estado do Rio Grande do Sul. A maioria dos trabalhos nesta área foi de bolsistas<br />
do Programa UNISC de Iniciação Científica – PUIC e de Programas de bolsas como o<br />
de verba externa para pagamentos de bolsas em projetos de pesquisa. Também<br />
foram apresentados trabalhos contemplados com bolsas de IC do CNPq e da<br />
FAPERGS. Importante destacar a participação de estudantes participantes do<br />
Programa PUIC voluntário, dados apresentados na Figura 02.<br />
30<br />
Trabalhos apresentados na Área de Ciências Biológicas e da Saúde no<br />
XVI Seminário de Iniciação Científica da UNISC<br />
Nº de Trabalhos<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
Área de<br />
Ciências<br />
Biológicas e<br />
da Saúde<br />
0<br />
PUIC<br />
PIBIC/CNPq<br />
PROBIC/FAPERGS<br />
Outras Bolsas<br />
PUIC VOLUNTÁRIO<br />
Tipo de bolsa relacionada aos trabalhos apresentados<br />
Figura 02 – Modalidade de bolsas dos estudantes participantes do XVI Seminário de<br />
Iniciação Científica na Área de Ciências Biológicas e da Saúde.<br />
Fonte: Coordenação de Pesquisa, UNISC, 2010.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 10-16, 2010
10<br />
ANÁLISE DO PERFIL DE MORTALIDADE POR DOENÇA<br />
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA NO MUNICÍPIO DE SANTA<br />
CRUZ DO SUL, RS, BRASIL<br />
Gabriela Crestani 1<br />
William Rutzen 2<br />
Andréa Lúcia Gonçalves da Silva 3<br />
Tânia Cristina Malezan Fleig 4<br />
Marcelo Tadday Rodrigues 5<br />
RESUMO<br />
Contextualização: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada<br />
funcionalmente por limitação ao fluxo aéreo que não é totalmente reversível. O<br />
tabagismo é o principal fator de risco. A DPOC era a sexta causa de morte no mundo<br />
em 1990, segundo a OMS, com estimativa para tornar-se a terceira até 2020, sendo<br />
que vários componentes contribuem para o crescente aumento na mortalidade por<br />
tal doença, como aumento do tabagismo pelas mulheres, aumento da expectativa de<br />
vida, entre outros. Objetivo: Analisar o perfil da mortalidade por DPOC no município<br />
de Santa Cruz do Sul por DPOC, utilizando uma estimativa de dois anos consecutivos<br />
(2007 e 2008), verificando o perfil dos pacientes como sexo, idade, presença de<br />
comorbidades, se faleceu em ambiente hospitalar ou domiciliar. A intenção do estudo<br />
constitui também uma comparação com os dados presentes na literatura. Método:<br />
Delineamento transversal, levantamento epidemiológico via análise dos registros de<br />
óbitos ocorridos entre os períodos de 01 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de<br />
2008 na cidade de Santa Cruz do Sul, obtidos através da Vigilância Epidemiológica,<br />
registrados tendo como causa-base o DPOC (J44) segundo a Classificação<br />
1 Acadêmica do curso de Medicina, departamento de Educação Física e Saúde da Universidade de<br />
Santa Cruz do Sul – UNISC, Rio Grande do Sul – Brasil. [gabicrestani@yahoo.com.br]<br />
2 Acadêmico do curso de Medicina, departamento de Educação Física e Saúde da Universidade de<br />
Santa Cruz do Sul – UNISC, Rio Grande do Sul – Brasil. [williamrutzen@yahoo.com.br]<br />
3 Coordenadora do Projeto de Pesquisa Reabilitação Cardiorrespiratória e Metabólica e suas<br />
Interfaces, Departamento de Educação Física e Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul –<br />
UNISC, Rio Grande do Sul – Brasil. [andreag@unisc.br]<br />
4 Coordenadora do Projeto de Pesquisa Reabilitação Cardiorrespiratória e Metabólica e suas<br />
Interfaces, Departamento de Educação Física e Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul –<br />
UNISC, Rio Grande do Sul – Brasil. [tfleig@unisc.br]<br />
5 Coordenador do Projeto de Pesquisa Reabilitação Cardiorrespiratória e Metabólica e suas<br />
Interfaces, Departamento de Educação Física e Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul –<br />
UNISC, Rio Grande do Sul – Brasil. [marcelotadday@unisc.br]<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 10-16, 2010
11<br />
Internacional de Doenças, 10ª edição. Resultados: Ocorreram, no período estudado,<br />
113 óbitos devido a DPOC. Desses, a maioria corresponde ao sexo masculino<br />
(65,48%), sendo que a média de idade entre os pacientes foi 74,48 anos. Um<br />
percentual de 77,87 dos óbitos ocorreu em ambiente hospitalar e do total 94,69%<br />
possuíam duas ou mais comorbidades. Conclusão: Os dados obtidos com a presente<br />
análise epidemiológica permite concluir que, na cidade de Santa Cruz do Sul, o perfil<br />
dos pacientes que falecem por DPOC possuem características semelhantes aos<br />
encontrados na literatura. Vale ressaltar que tal cidade estudada possui grande parte<br />
da economia baseada na produção de tabaco, uma vez que várias empresas<br />
fumageiras encontram-se instaladas na região, fato que de certa forma contribui<br />
para os índices de tabagistas no município. A maior incidência do sexo masculino e a<br />
média de idade elevada refletem, entre outros fatores, um maior consumo de tabaco<br />
pelos homens e a característica crônica e progressiva da doença.<br />
Palavras-chave: DPOC. Mortalidade. Óbito.<br />
ABSTRACT<br />
Background: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is characterized by<br />
airflow limitation that is not fully reversible. Smoking is the main risk factor. COPD<br />
was the sixth leading cause of death worldwide in 1990, according to WHO, expected<br />
to become the third until 2020, with several components contribute to the continued<br />
improvement in mortality from this disease, such as increased smoking by women,<br />
increased life expectancy, among others. Objective: To assess the mortality from<br />
COPD in Santa Cruz do Sul in COPD patients, using an estimate of two consecutive<br />
years (2007 and 2008), checking patients' profile such as gender, age, comorbidities,<br />
has died in environment hospital or at home. The intent of the study is also a<br />
comparison with data from the literature. Method: Cross-sectional epidemiological<br />
survey via analysis of records of deaths that occurred between the periods from 01<br />
January 2007 to December 31, 2008 in Santa Cruz do Sul, obtained from the<br />
Surveillance, recorded as having the basic question COPD (J44) from the<br />
International Classification of Diseases, 10th edition. Results: There were, during the<br />
study period, 113 deaths due to COPD. Of these, the majority are male (65.48%),<br />
and the mean age of patients was 74.48 years. A percentage of 77.87 of the deaths<br />
occurred in hospitals and the total 94.69% had two or more comorbidities.<br />
Conclusion: The data obtained from this epidemiological analysis shows that the city<br />
of Santa Cruz do Sul, the profile of patients who die from COPD have features similar<br />
to those found in the literature. It is noteworthy that this city has studied much of<br />
the economy based on tobacco production, tobacco since many are located in the<br />
region, a fact that somehow contributes to the rate of smokers in the municipality.<br />
The higher incidence in males and high mean age reflect, among other factors,<br />
higher tobacco consumption by men and the characteristic chronic and progressive<br />
disease.<br />
Keywords: COPD. Mortality. Death.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 10-16, 2010
12<br />
INTRODUÇÃO<br />
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) era a sexta causa de morte no<br />
mundo em 1990, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), com estimativa<br />
para tornar-se a terceira causa morte até 2020. O maior fator de risco para seu<br />
desenvolvimento é sabidamente o tabagismo, seguido da inalação de agentes<br />
agressores de origem ambiental. Santa Cruz do Sul é considerada a cidade capital<br />
nacional do tabaco no beneficiamento de fumo, e também possui indústria de<br />
fabricação de cigarros. Desta forma, sua economia possui fortes bases nas<br />
fumageiras aqui instaladas, as quais são grande fonte de emprego local e de<br />
incentivo ao tabagismo.<br />
O presente trabalho visa a relatar um estudo de caráter analítico e<br />
epidemiológico, realizado com pesquisa de dados em Santa Cruz do Sul – RS. O<br />
assunto abordado corresponde a DPOC, mais especificamente sobre o perfil de<br />
mortalidade por tal doença nesta cidade.<br />
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA<br />
A DPOC é uma doença crônica, de caráter inflamatório, com limitação do fluxo<br />
aéreo não totalmente reversível. É considerada a sexta causa de óbito no mundo,<br />
sendo a única cuja prevalência continua em crescimento. A DPOC é representada<br />
pela bronquite crônica e pelo enfisema pulmonar e é uma importante causa de<br />
morbidade e mortalidade no mundo moderno. Os pacientes portadores da doença<br />
apresentam as características de obstrução de vias aéreas e destruição das paredes<br />
alveolares com consequente hiperinsuflação pulmonar (GOLD, 2006). Devido ao<br />
caráter progressivo e incapacitante da doença, esta acaba por acarretar um<br />
considerável impacto econômico e social, pela redução na produtividade,<br />
comprometimento do orçamento familiar, aposentadorias precoces e alto custo com<br />
o tratamento e com as internações, que são muito frequentes (FERNANDES et al.,<br />
2006).<br />
Acerca dos fatores envolvidos na patogênese da DPOC, o tabagismo é<br />
responsável por mais de 90% dos casos. Outros fatores correspondem a poeiras<br />
tóxicas como produtos químicos ocupacionais e combustão de biomassa. O<br />
tabagismo é o maior responsável pela ocorrência de doencas respiratórias, desde o<br />
efeito da exposição da criança “in útero” ou nos primeiros anos de vida, até a vida<br />
adulta. A DPOC e o câncer de pulmão destacam-se pelo quadro de progressividade e<br />
incapacidade, apesar de terem um maior tempo de latência em relação às doenças<br />
cardiovasculares relacionadas ao consumo de tabaco (ARAÚJO, 2009).<br />
Ambos os componentes, enfisema pulmonar e bronquite crônica, estão<br />
presentes em proporções variáveis na maioria dos pacientes. A maior resistência ao<br />
fluxo aéreo durante a expiração, decorrente da relação inversa e exponencial entre o<br />
diâmetro da via aérea e a resistência ao fluxo aéreo, faz com que ocorram<br />
aprisionamento aéreo e hiperinsuflação. Outra característica importante é o<br />
componente sistêmico da enfermidade, e sabe-se que a inflamação sistêmica nos<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 10-16, 2010
13<br />
pacientes com DPOC pode estar mais relacionada com a própria doença do que com<br />
exacerbações agudas (MATTOS et al., 2009; MULLER et al., 2006 ).<br />
De acordo com dados do Departamento de Informação e Informática do<br />
Sistema Único de Saúde (DATASUS), o número de internações hospitalares por DPOC<br />
no Brasil no período de 1998 a 2003 foi de 1.480.881, sendo a Região Sul<br />
responsável por 42,3% delas (FERNANDES et al., 2006). O diagnóstico da doença é<br />
feito através da história clínica, com identificação de sintomas característicos da<br />
DPOC (dispnéia crônica e progressiva, tosse, e produção de muco) bem como a<br />
análise de exames de imagem (Raios-X de tórax), laboratoriais e prova de função<br />
pulmonar, ou seja, a espirometria com teste com broncodilatador.<br />
O tabagismo deve ser devidamente interrogado e a quantificação de maços/ano<br />
é um dado importante a ser obtido. No Brasil, 200 mil mortes anuais são causadas<br />
pelo tabagismo e cerca de 16% da população brasileira adulta é fumante. Ressaltese<br />
que em torno de 15% dos indivíduos que fumam um maço/dia e 25% daqueles<br />
que fumam mais de um maço/dia desenvolvem DPOC (ARAÚJO, 2009; INCA, 2009).<br />
METODOLOGIA<br />
Estudo transversal e retrospectivo caracterizou-se pelo levantamento<br />
epidemiológico via análise dos registros de óbitos. Os dados necessários para a<br />
realização deste trabalho foram adquiridos na Vigilância Epidemiológica de Santa<br />
Cruz do Sul-RS, utilizando dados registrados tendo como causa-base a DPOC (J44),<br />
segundo a Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição. Foram analisados<br />
arquivos com dados de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2008, com<br />
exceção dos óbitos fetais.<br />
Dentre os dados analisados, os itens utilizados para avaliar o perfil de óbitos<br />
por DPOC correspondem à idade, sexo, presença de comorbidades e o local do óbito,<br />
se ocorreu em nível hospitalar ou não.<br />
RESULTADOS<br />
No período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, ocorreram 1987 mortes,<br />
considerando excluídos os óbitos fetais. Deste total, 113 ocorreram por DPOC, com<br />
uma prevalência de 5,68%. Quando analisados os gêneros, constatou-se um número<br />
de 74 óbitos do sexo masculino e 39 do sexo feminino (65,48% e 34,52%<br />
respectivamente).<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 10-16, 2010
14<br />
70,00%<br />
60,00%<br />
50,00%<br />
40,00%<br />
30,00%<br />
20,00%<br />
10,00%<br />
0,00%<br />
Mulheres<br />
Homens<br />
Óbitos por DPOC<br />
Gráfico 01 - Óbitos segundo o gênero por DPOC em 2007 e 2008 em Santa Cruz do<br />
Sul/RS.<br />
Fonte: dados da pesquisa, 2010.<br />
A média de idade constatada foi de 74,48 anos. Dentre os óbitos ocorridos no<br />
período estudado, 77,87% ocorreram em nível hospitalar, num total de 88<br />
falecimentos. Os 22,13% restantes dos óbitos ocorreram fora do ambiente<br />
hospitalar, sendo assim 25 óbitos aconteceram em nível ambulatorial. Em relação às<br />
comorbidades as quais os pacientes possuíam, verificou-se que dos 113 óbitos, 107<br />
possuíam duas ou mais comorbidades – 94,69%.<br />
Duas ou mais<br />
comorbidades<br />
Nenhuma ou<br />
uma<br />
comorbidade<br />
Figura 01 – Presença de comorbidades no momento do óbito<br />
Fonte: dados da pesquisa, 2010.<br />
CONCLUSÃO<br />
Os dados obtidos através desta análise demonstram uma relação de<br />
concordância com o que está na literatura. O presente estudo constatou que os<br />
homens falecem mais por DPOC do que as mulheres, podendo tal fato ser justificado<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 10-16, 2010
15<br />
pelo hábito do tabagismo ser mais comum nesta população. Dados do Instituto<br />
Nacional do Câncer (INCA, 2009) afirmam que os homens apresentam<br />
aproximadamente o dobro da prevalência de tabagismo quando comparados às<br />
mulheres.<br />
A média de idade avançada dos pacientes cujo óbito ocorreu em vista da DPOC<br />
também se relaciona com os estudos prévios. O caráter crônico e progressivo da<br />
doença e a demora para o aparecimento dos sintomas, após a exposição ao tabaco,<br />
são fatores contribuintes para tal característica. Há estudos que afirmam que a<br />
incidência é maior em homens do que em mulheres e aumenta acentuadamente com<br />
a idade (GODOY et al., 2007).<br />
O índice maior de mortes no gênero masculino, por DPOC, está condizente com<br />
a literatura revisada. As explicações provavelmente estão no fato do maior índice de<br />
fumantes do sexo masculino em comparação ao feminino.<br />
O tabagismo é a principal causa evitável de mortes prematuras no Reino Unido<br />
e possui grande associação com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), várias<br />
formas de câncer e doenças vasculares crônicas, tais como acidente vascular<br />
cerebral e doenças coronarianas (MOORE et al., 2009).<br />
A cidade em estudo possui um perfil particular, pois grande parte de sua<br />
economia está diretamente relacionada ao principal fator desencadeante da DPOC, o<br />
tabaco. Nos indivíduos que desenvolvem a doença, há uma longa exposição ao<br />
tabagismo até o aparecimento de sintomas e sinais clínicos da DPOC, assim a média<br />
de idade caracteristicamente se eleva.<br />
Assim sendo, fica evidenciado o comprometimento pulmonar e sistêmico da<br />
DPOC, e com isso, medidas de controle ao tabagismo devem ser insistentemente<br />
mantidas e inovadas. A mortalidade por DPOC afeta a população em geral, e o perfil<br />
dos indivíduos que falecem por tal doença em Santa Cruz do Sul segue o mesmo<br />
perfil do que é evidenciado na literatura.<br />
REFERÊNCIAS<br />
GOLD - The Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease, 2006<br />
FERNANDES, Amanda et al.Terapia nutricional na doença pulmonar obstrutiva<br />
crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol., São Paulo, v.32, n.5, p.<br />
461-471, set./out. 2006.<br />
MATTOS, Waldo Luís Leite Dias de et al. Acurácia do exame clínico no diagnóstico da<br />
DPOC. J. bras. pneumol., São Paulo, v. 35, n. 5, p. 404-408, mai. 2009 .<br />
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER – INCA, 2009. Disponível em:<br />
. Acesso em: 14 dez. 2010.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 10-16, 2010
16<br />
GODOY, Ilda et al. Programa de cessação de tabagismo como ferramenta para o<br />
diagnóstico precoce de doença pulmonar obstrutiva crônica. J. Bras. Pneumol. São<br />
Paulo, v.33, n.3, p. 282-286, mai-jun. 2007.<br />
ARAÚJO, Alberto José. Tratamento do tabagismo pode impactar a DPOC. Pulmão RJ<br />
– Atualizações Temáticas. Rio de Janeiro, 2009.<br />
MULLER, Beat et al. Biomarkers in Acute Exacerbation of Chronic Obstructive<br />
Pulmonary Disease. Among the Blind, the One-Eyed Is King. American Journal of<br />
Respiratory and Critical Care Medicine, v. 174, n.8, p. 848-849, 2006.<br />
MOORE, B.; BARRON. T.; JAMES, J.; SCOTT, J.; ROBINSON, K. (org.). Wiltshire Joint<br />
Strategic Needs Assessment (JSNA) for Wiltshire, 2009. Disponível em:<br />
. Acesso em: 12<br />
dez. 2010.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 10-16, 2010
AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO SANGUÍNEO DE ATLETAS<br />
CORREDORES NO ENSAIO ERGOESPIROMÉTRICO DE BRUCE<br />
UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO<br />
Francielle Pasqualotti Meinhardt 1<br />
Hildegard Hedwig Pohl 2<br />
Miriam Beatris Reckziegel 3<br />
Valeriano Antonio Corbellini 4<br />
RESUMO<br />
Os constituintes do perfil lipídico são importantes marcadores bioquímicos de<br />
doenças cardiovasculares (grande causa de morbidade e mortalidade). Para um<br />
diagnóstico de alterações do perfil lipídico se apresenta o método da espectroscopia<br />
no infravermelho (FT-IR). Este estudo avalia a aplicação da FT-IR na obtenção de<br />
dados do perfil lipídico de atletas corredores. Trata-se de um estudo analítico<br />
observacional comparativo, tendo como método de referência os ensaios enzimáticos<br />
baseados na reação de Trinder, comparados à espectroscopia no infravermelho por<br />
reflectância difusa com Transformada de Fourier (DRIFTS), com auxílio das<br />
ferramentas quimiométricas de análise exploratória por agrupamento hierárquico<br />
(HCA) e análise preditiva por mínimos quadrados parciais (PLS) para previsão destes<br />
marcadores bioquímicos. Foram sujeitos 14 atletas da equipe de Atletismo da UNISC,<br />
de 18 a 30 anos, de ambos os sexos, avaliados em repouso e após o teste<br />
ergoespirométrico de Bruce. Os resultados apontam que, na avaliação de atletas, a<br />
técnica de infravermelho (DRIFTS) juntamente com o PLS, foi adequada para a<br />
construção de modelos de calibração e na definição da correlação entre testes<br />
bioquímicos padrões no perfil lipídico e na determinação pelo infravermelho.<br />
Palavras-chaves: Lipídios. Doenças Cardiovasculares. Espectroscopia no<br />
Infravermelho. Análises multivariada.<br />
1 Acadêmica do Curso de Farmácia da Universidade de Santa Cruz do Sul. fran2403@hotmail.com;<br />
2 Doutora em Desenvolvimento Regional – Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)l, Professora<br />
da UNISC; hpohl@unisc.br;<br />
3 Doutoranda em Ciências Aplicadas a La Actividad Física y Salud da Universidade de Córdoba/ES.<br />
Professora da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). miriam@unisc.br;<br />
4 Doutor em Química: área de concentração: Síntese Orgânica – Universidade Federal do Rio Grande<br />
Sul – UFRGS. valer@unisc.br;<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
18<br />
ABSTRACT<br />
The constituents of the lipid profile are important biochemical markers of<br />
cardiovascular disease (major cause of morbidity and mortality). For a diagnosis of<br />
lipid profile is presented the method of infrared spectroscopy (FT-IR). This study<br />
assesses the application of FT-IR obtaining data on the lipid profile of athletes. This<br />
is a analytical comparative observational study, taking as the reference method<br />
assays based on the Trinder reaction, compared to spectroscopy Diffuse reflectance<br />
infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTS) with the aid of chemometric tools<br />
for exploratory analysis<br />
hierarchical clustering (HCA) analysis and predictive least squares partial (PLS) for<br />
prediction of biochemical markers. The subjects were 14 Athletes Team Athletics<br />
UNISC from 18 to 30 years, of both sexes, evaluated at rest and cardiopulmonary<br />
exercise testing after Bruce. Results indicate that the evaluation of athletes, the<br />
technique of infrared (DRIFTS) together with the PLS was adequate for the<br />
construction of calibration models<br />
and determining the correlation between the biochemical profile patterns lipid and<br />
determination by infrared.<br />
Keywords: Lipid. Cardiovascular Disease. Infrared. Multivariate Analysis.<br />
INTRODUÇÃO<br />
O perfil lipídico é constituído pelas concentrações de triglicerídeos, colesterol<br />
total, HDL e LDL no sangue dos indivíduos e deve ser a controlado, pois<br />
concentrações alteradas podem estar relacionadas à doenças (LERARIO, BETTI &<br />
WAJCHENBERG, 2009; MOTTA, 2003). Eles atuam como fontes energéticas, são<br />
componentes da membrana celular, isolantes na condução nervosa, precursores<br />
hormonais e utilizados para a produção de energia, principalmente os ácidos graxos<br />
livres (CAMPBELL & FERRELL, 2007; KANAAN & GARCIA, 2008).<br />
O colesterol é sintetizado por quase todos os tecidos, principalmente pelo<br />
fígado, e basicamente transportado pelas lipoproteínas (CAMPBELL & FERRELL,<br />
2007; BAYNES & DOMINICZACK, 2007), podendo ser de origem exógena,<br />
(proveniente da dieta) ou endógena (sintetizado a partir da Acetil-CoA) ( DEVLIN,<br />
2007). A fração LDL transporta o colesterol do fígado para o plasma e fração HDL faz<br />
o processo inverso, atuando na captação do colesterol celular e conduzindo-o até o<br />
fígado onde é catabolizado e eliminado (CAMPBELL & FERRELL, 2007; BAYNES &<br />
DOMINICZACK, 2007). Os triglicerídeos são sintetizados no fígado e intestino, se<br />
acumulando principalmente nas células adiposas, como uma forma de<br />
armazenamento de energia (KANAAN & GARCIA, 2008; BAYNES & DOMINICZACK,<br />
2007; DEVLIN, 2007; WANG, & MIZAIKOFF, 2008).<br />
Alterações no metabolismo dos lipídios, especialmente a elevação dos níveis de<br />
colesterol e triglicerídeos, associados a doenças como a hipertensão e obesidade,<br />
constituem-se fatores de risco no aumento das doenças cardiovasculares como a<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
19<br />
aterosclerose e podem causar restrição do fluxo sanguíneo, podendo levar a<br />
conseqüências mais graves. Concentrações elevadas de HDL atuam como um fator<br />
de proteção, pois retiram este lipídeo da circulação sanguínea (KANAAN & GARCIA,<br />
2008; BAYNES & DOMINICZACK, 2007; DEVLIN, 2007).<br />
Para o diagnóstico das alterações metabólicas em fluidos biológicos pode ser<br />
utilizada a técnica de espectroscopia FT-IR, caracterizada pela identificação de<br />
compostos e análise de misturas com base em movimentos vibracionais (WANG &<br />
MIZAIKOFF, 2008). A região denominada por infravermelho corresponde à região<br />
situada na faixa de onda de 14290 a 200 cm-¹, sendo mais utilizada a faixa entre<br />
4.000 e 400 cm-1, denominada infravermelho médio (MIR) (SHAW & MANTSCH,<br />
2006; BARBOSA, 2007).<br />
A aplicação clínico-laboratorial de espectroscopia no infravermelho é bastante<br />
utilizada, e apresenta como vantagem um espectro de maior sensibilidade (menor<br />
razão sinal ruído), além de ser uma técnica simples e rápida, não destrutiva, capaz<br />
de oferecer precisão e exatidão para análises, elimina a utilização de reagentes e<br />
necessidade de pouca amostra. A espectroscopia é uma ferramenta da análise<br />
química para detectar constituintes biológicos, tais como DNA/RNA, proteínas e<br />
lipídeos entre outros (WANG & MIZAIKOFF, 2008; SILVERSTEIN & WEBSTER, 2007;<br />
HALL & POLLARD, 1992; GREFF, STROOBANT & HEIJDEN).<br />
Os espectros de FT-IR contêm muitas bandas sobrepostas e sua interpretação é<br />
realizada por ferramentas analíticas multivariadas (WANG & MIZAIKOFF, 2008; ELLIS<br />
& GOODACRE, 2006). Estes métodos de calibração multivariada estão sendo<br />
aplicados com sucesso, a fim de construir modelos para análises específicas em<br />
amostras biológicas. A Análise Discriminante (DA) é um algoritmo que se caracteriza<br />
como uma análise de agrupamento baseado em método e envolve a projeção de<br />
dados. Os métodos não supervisionados, como análise por agrupamento hierárquico<br />
(HCA) usado para encontrar diferenças e semelhanças entre os espectros e também<br />
os métodos da regressão que são intrinsecamente lineares, têm sido propostos para<br />
a análise multicomponentes, onde encontram-se o de mínimos quadrados parciais<br />
(PLS) (ELLIS & GOODACRE, 2006 ESCANDAR et al., 2006; HOLLYWOOD, BRISON &<br />
GOODACRE, 2006).<br />
Devido à grande demanda destes testes em laboratórios e importância clínica,<br />
esse trabalho tem como objetivo geral avaliar a utilização do método de FT-IR, para<br />
determinação do perfil lipídico de atletas visando oferecer melhorias para os<br />
treinamentos.<br />
MATERIAIS E MÉTODOS<br />
Trata-se de um estudo analítico observacional comparativo, de determinação de<br />
perfil lipídico em adultos, por métodos de referência e por espectroscopia FT-IR e se<br />
encontra inserida no projeto: “Correlação entre perfil bioquímico sangüíneo e<br />
desempenho de atletas corredores, no ensaio ergoespirométrico de Bruce e em<br />
provas específicas utilizando espectroscopia no infravermelho”, que é realizado na<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
20<br />
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC e aprovado no Comitê de Ética em<br />
Pesquisa pelo protocolo 2280/09.<br />
Foram realizadas duas coletas sanguíneas nos 14 atletas (Atletismo da UNISC),<br />
adultos de 18 a 30 anos, de ambos os sexos e de várias modalidades. Os atletas<br />
foram submetidos à coleta (realizada por pessoal capacitado) de 5 mL de sangue<br />
total com vacutainer® sem anticoagulante em repouso e 10 min após a aplicação do<br />
teste de força através do protocolo de Bruce. Logo em seguida, foram recolhidas três<br />
alíquotas de 5 µL do sangue total de cada coleta e introduzidos em tubos eppendorfs<br />
de 2 mL com 150 mg de brometo de potássio grau espectroscópico (Vetec) sendo o<br />
material liofilizado por 2 horas a 1x10-3torr.<br />
O restante das amostras de sangue foram processadas para obtenção do soro o<br />
qual foi armazenado a -20ºC até a determinação de triglicerídeos, colesterol total e<br />
colesterol HDL pelos métodos de referência baseados na determinação<br />
fotocolorimétrica de antipirilquinonimina conforme protocolos dos kits nº de catálogo<br />
76, 13 e 87, respectivamente, da LABTEST® (BUCOLO & DAVID, 1973; ALAIN et al.,<br />
1974). LDL foi calculado pela fórmula de Friedewald (FRIEDEWALD, LEVY &<br />
FREDRICKSON, 1972).<br />
Os espectros das amostras de sangue dos atletas foram adquiridos em<br />
triplicatas utilizando acessório de reflectância difusa com fonte de luz monocromática<br />
(PIKE Technologies Madison, USA) conectado a um espectrofotômetro Nicolet Magna<br />
550 FT-IR (Thermo Nicolet Coporation, Madison, USA) com 32 varreduras na faixa<br />
4000-600 cm-1, 4 cm-1 de resolução. Todos os espectros foram adquiridos em<br />
escala de absorbância e normalizados entre 0 e 1, utilizando o programa<br />
computacional OMNIC® E.S.P vol 4.1.<br />
Foi utilizada a avaliação multivariada conduzida pelo programa computacional<br />
PIROUETTE® 3.11 da INFOMETRIX, com aplicação dos algoritmos de análise por<br />
agrupamento hierárquico (HCA) das replicatas e regressão por mínimos quadrados<br />
parciais (PLS) para prever os valores dos parâmetros estudados usando como<br />
conjunto de previsão as amostras excluídas nos respectivos modelos de validação<br />
cruzada (mútua exclusão de um por vez). A seleção do melhor modelo PLS-DRIFTS<br />
para cada parâmetro bioquímico analisado baseou-se (pela ordem de prioridade) nas<br />
seguintes figuras de mérito: valor de coeficiente de correlação (R2) mais próximo de<br />
1 e valor de erro de validação cruzada (root mean square error of cross validation-<br />
RMSECV) mais próximo de zero.<br />
RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
Na tabela 1 se encontram descritos os dados dos atletas, como modalidade e<br />
idade. Os resultados de peso e altura foram obtidos antes da realização do exercício<br />
e através da divisão do peso pela altura2 foi calculado o índice de massa corporal<br />
(IMC) dos atletas. Esta variável apresentou médias de 22,8 e 21,20, correspondendo,<br />
respectivamente, ao sexo masculino e feminino ambas classificadas como “faixa<br />
recomendável”.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
21<br />
Tabela 1 - Dados dos atletas que foram submetidos ao protocolo de Bruce<br />
realizado em novembro de 2009.<br />
N° Modalidade Idade Sexo Altura (cm -1 ) IMC (kg/m 2 ) IMC<br />
1 Fundista 16 masculino 1,78 18,30 BP<br />
2 Velocista (100 e 200m) 18 masculino 1,68 22,25 FR<br />
3 Atleta 19 masculino 1,84 20,88 FR<br />
4 Atleta 16 masculino 1,64 31,40 OI<br />
5 Fundista 29 masculino 1,73 22,89 FR<br />
6 Fundista 29 masculino 1,72 22,03 FR<br />
7 Fundista 14 masculino 1,75 21,71 FR<br />
Média 20,14 1,73 22,80 FR<br />
8 400m 19 feminino 1,66 21,44 FR<br />
9 Salto em distância e 20 feminino 1,68 21,12 FR<br />
triplo<br />
10 Fundista 16 feminino 1,61 18,90 FR<br />
11 Arremesso de peso 19 feminino 1,68 28,20 S<br />
12 Meio fundista 19 feminino 1,65 16,60 BP<br />
13 Marcha 21 feminino 1,67 22,45 FR<br />
14 Atleta 34 feminino 1,72 19,71 BP<br />
Média 21,14 1,67 21,20 FR<br />
IMC: Índice de massa corpórea. CLAS: Classificação do IMC; BP = baixo peso; FR =<br />
faixa recomendável; S = sobrepeso; OI = obesidade tipo 1. Valores em negrito são as<br />
médias dos parâmetros calculados.<br />
As médias obtidas, somando-se os valores no repouso e pós-exercício, nos<br />
testes bioquímicos de triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL e colesterol LDL<br />
são, respectivamente, 79,75; 161,60; 49,57 e 96,08 mg dL-1. No entanto, quando se<br />
observa os valores de repouso as médias são 77,44; 162,88; 48,95 e 98,46 mg dL-1,<br />
já após o protocolo de Bruce foram obtidos os resultados de 82,06; 160,33; 50,19 e<br />
93,71 mg dL-1. Ao comparar essas duas médias, observa-se o aumento na média<br />
dos parâmetros de triglicerídeos e colesterol HDL e diminuição nos outros<br />
parâmetros (colesterol total e LDL), o que é possível visualizar na tabela a seguir.<br />
Tabela 1 - Parâmetros bioquímicos (em mg dL-1) avaliados em amostras de<br />
atletas corredores do Projeto de Atletismo - UNISC durante avaliação<br />
espiroergométrica no protocolo de Bruce, com destaque aos valores considerados<br />
elevados pelas referências.<br />
Atletas Triglicerídeos Colesterol Total Colesterol HDL Colesterol LDL<br />
Repouso Final Repouso Final Repouso Final Repouso Final<br />
01 47,5±1,4 66,4±3,2 185,7±10,6 172,4±9,3 57,1±1,2 57,7±0,5 119,06 101,37<br />
02 111,1±1,2 82,1±7,3 142,4±9,6 139,0±5,8 40,3±0,8 45,1±4 79,9 77,49<br />
03 77,7±6,6 90,1±6,9 153,3±12,8 162,2±10,9 46,7±1,5 48,3±1,5 91,12 95,86<br />
04 68,0±1,8 100,5±5,5 120,9±10,6 113,1±9,5 39,6±1,3 39,0±3,1 67,74 54,02<br />
05 70,4±3,8 94,8±3,2 276,0±45,9 196,2±6,5 44,3±2,1 52,2±0,1 217,63 125,13<br />
06 110,9±3,7 93,8±4,6 163,9±8,4 172,7±10,9 43,9±3,7 45,7±2,8 97,83 108,33<br />
07 28,9±1,3 44,6±1,9 118,2±4,2 125,7±7,3 43,9±2,0 44,0±1,4 68,49 72,76<br />
08 153,5±9,5 129,2±7,9 208,5±8,2 187,0±2,5 49,5±2,2 48,5±0,5 128,37 112,37<br />
09 66,0±3 65,6±0,7 198,0±2,9 209,5±4,6 61,9±1,7 62,2±0,3 122,82 134,25<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
22<br />
10 52,3±2,5 54,7±0,7 127,4±6,3 131,5±4,3 56,9±1,6 59,4±2,7 60,07 61,19<br />
11 66,2±6,4 92,6±5,7 127,7±11,3 136,9±4,7 57,9±2,2 55,4±2,0 56,61 62,35<br />
12 78,9±7,4 44,7±3,6 124,1±2,7 139,3±8,1 44,6±2,5 45,2±1,3 63,75 85,23<br />
13 78,9±7,4 93,0±7,5 176,8±7,4 183,0±8,4 45,1±1,2 48,4±0,4 115,94 115,92<br />
14 73,9±5,3 96,6±6,3 157,4±3,0 176,1±8,4 53,6±1,6 51,7±0,7 89,06 105,71<br />
Média 77,44 82,05 162,88 160,33 48,95 50,19 98,46 93,71<br />
M. Geral 79,75 161,60 49,57 96,08<br />
LDL calculado pela fórmula de Friedewald; valores de referência: triglicerídeos(TG):<br />
>150 mg dL-1; Colesterol Total(CT): desejável < 200 mg dL-1, limítrofes: 200 a 239 mg dL-<br />
1 e alto > 240 mg dL-1 Colesterol HDL: entre 40 a 60 mg dL-1 e Colesterol LDL: desejável<br />
160 mg dL-1. Em negrito estão os<br />
valores que se encontram acima dos valores de referência.<br />
A análise dos parâmetros estudados apresenta desvio padrão dentro da<br />
variabilidade aceitável, descrita pelos protocolos dos testes. Os valores dos três<br />
parâmetros estavam dentro dos limites aceitáveis para utilizar a fórmula de<br />
Friedewald.<br />
Na figura 1 encontra-se o conjunto de todos os espectros dos atletas<br />
investigados, podendo se observar uma homogeneidade entre os mesmos, tornando<br />
necessária a utilização de análise multivariada para obter informações com poder<br />
discriminatório.<br />
1,0<br />
0,8<br />
Absorbância<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000<br />
Comprimento de onda (cm -1 )<br />
Figura 1 - Conjunto de espectros de infravermelho médios de sangue total de atletas<br />
submetidos ao ensaio espiroergométrico de Bruce.<br />
A aplicação de análise por agrupamento hierárquico (HCA) gerou um<br />
dendrograma (Figuras 2 a 4), onde foi possível visualizar o grau de reprodutibilidade<br />
das replicatas de leituras espectrais, observando a formação de dois grupos com<br />
níveis de similaridade de 30%, mantendo as replicatas das mesmas amostras<br />
próximas e dentro do mesmo grupo.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
23<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
Figura 2 - Dendrograma fornecido pela HCA das triplicatas de espectros no<br />
infravermelho de sangue total de amostra de atletas.<br />
14RC<br />
14RB<br />
14RA<br />
11FC<br />
11FB<br />
11FA<br />
10FC<br />
10FB<br />
10FA<br />
09FC<br />
09FB<br />
09FA<br />
08RC<br />
08RA<br />
05FC<br />
05FB<br />
05FA<br />
08RB<br />
08FC<br />
08FB<br />
07RC<br />
07RB<br />
07RA<br />
07FC<br />
08FA<br />
07FB<br />
07FA<br />
04RC<br />
04RB<br />
04RA<br />
02RC<br />
02RA<br />
02RB<br />
01RC<br />
01RB<br />
01RA<br />
01FA<br />
06RC<br />
06RB<br />
06RA<br />
06FC<br />
06FA<br />
06FB<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
Complete<br />
CURSOR<br />
Similarity: 0.342<br />
NODE<br />
Similarity: 0.400<br />
Distance: 14.263<br />
Descendants: 43<br />
3.a 3.b<br />
Figura 3 - Dendrogramas referentes aos grupos do HCA das triplicatas de sangue total<br />
de amostra de atletas. 3.a Dendrograma do primeiro grupo (superior) 3.b Dendrograma do<br />
segundo grupo (inferior) do HCA.<br />
O método se mostrou reprodutível, entretanto, as replicatas geradas foram de<br />
forma aparentes no que se refere a três leituras seqüenciais da mesma amostra.<br />
Como o sangue total é um fluido muito instável, sugere-se muita atenção na<br />
impregnação deste, na literatura foram somente encontrados estudos realizados com<br />
soro e plasma (ELLIS & GOODACRE, 2006).<br />
Um espectro de infravermelho de sangue contém muitas informações<br />
importantes e não há necessidade de utilização de todas as bandas para descrevêlas,<br />
sendo necessário, então, selecionar aquelas onde há maior quantidade de<br />
informação química relevante (SHAW & MANTSCH, 2006; ESCANDAR et al., 2006).<br />
Este princípio, junto com a exclusão de amostras consideradas outliers, foi aplicado<br />
aos conjuntos de dados em estudo sendo obtidos os modelos de regressão por<br />
mínimos quadrados parciais (PLS) para alguns parâmetros bioquímicos da amostra<br />
populacional, descritos na Tabela 3 junto com as respectivas figuras de mérito.<br />
14FC<br />
14FA<br />
14FB<br />
13RC<br />
13RA<br />
13RB<br />
13FC<br />
13FA<br />
13FB<br />
05RC<br />
05RB<br />
05RA<br />
12FC<br />
12FB<br />
12FA<br />
10RC<br />
10RA<br />
10RB<br />
09RC<br />
09RA<br />
09RB<br />
04FC<br />
04FB<br />
04FA<br />
02FC<br />
02FB<br />
02FA<br />
01FB<br />
01FC<br />
12RC<br />
12RB<br />
12RA<br />
03RC<br />
03RB<br />
03RA<br />
03FC<br />
03FB<br />
03FA<br />
1.0<br />
0.9<br />
0.8<br />
0.7<br />
0.6<br />
Complete<br />
CURSOR<br />
Similarity: 0.342<br />
NODE<br />
Similarity: 0.558<br />
Distance: 10.502<br />
Descendants: 38<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
24<br />
Tabela 3 – Resultados de modelagem de PLS-DRIFTS entre amostras de sangue<br />
total e níveis séricos de triglicerídeos, colesterol total e colesterol HDL de atletas.<br />
Modelo Região Espectral (cm -1 ) RMSECV (mg dL -1 ) R 2 VRA (%) VL<br />
TG-C 4000-2400 e 2200-400 23 0,55 99 9<br />
TG-O 3150-2960 e 1700-1400 12,2 0,88 99,8 8<br />
CT-C 4000-2400 e 2200-400 26 0,60 98 5<br />
CT-O 3150-2700 9,3 0,94 98 8<br />
HDL-C 4000-2400 e 2200-400 7,20 0,04 99 10<br />
HDL-O 4000-3600 e 3290-3060 3,8 0,82 91,8 5<br />
RMSECV=erro de validação cruzada; R 2 =coeficiente de correlação de validação<br />
cruzada; VRA=variância relativa acumulada; VL=variáveis latentes; TG=triglicerídeos;<br />
CT=colesterol total; HDL=colesterol HDL. C=Faixa espectral completa; O=Faixa espectral<br />
otimizada.<br />
Em todos os três modelos otimizados observa-se uma melhora significativa na<br />
capacidade preditiva dos componentes do perfil lipídico mostrando que parte da<br />
informação apresentada pelo conjunto de espectros FTIR de sangue total não tem<br />
relação com os níveis séricos dos respectivos biomarcadores. Em relação às regiões<br />
espectrais selecionadas observa-se, em todos os modelos, a contribuição total ou<br />
parcial de freqüências vibracionais características de lipídios incluindo 3020-3000<br />
(=CH de ácidos graxos insaturados e ésteres de colesterol), 3000-2950 cm-1<br />
(asCH3 e asCH2 de ésteres de colesterol e lipídios) e 2950-2880 cm-1 (sCH3 e sCH2<br />
de ácidos graxos, ésteres, glicerol, fosfolipídios e triglicerídeos). Neste contexto, o<br />
modelo preditivo de colesterol total é o mais simples e seletivo constituído por<br />
contribuições de todas as vibrações acima referidas sem mais nenhuma outra<br />
informação estrutural provinda do infravermelho médio (SILVERSTEIN & WEBSTER,<br />
2007).<br />
Já o modelo de colesterol HDL considera apenas parte da contribuição de<br />
C=CH de lipídios insaturados mas inclui informações parciais sobre movimentos<br />
vibracionais de proteínas (N-H, a 3700-3400 cm-1 ) mostrando a grande<br />
contribuição deste componente bioquímico na organização da estrutura desta<br />
lipoproteína.<br />
Por outro lado, o modelo de triglicerídeos é o mais complexo e inclui também<br />
informações de proteínas, porém de outra natureza, diferente daquelas observadas<br />
no modelo de colesterol HDL. As contribuições de informação estrutural protéica no<br />
modelo de previsão de triglicerídeos de atletas, com base nos espectros FT-IR de<br />
sangue total, incluem informações das bandas de amida I (C=O a 1720-1600 cm-1)<br />
e II (N-H a 1600-1480cm-1). Entretanto, este modelo é ainda mais simples que o<br />
encontrado por Shaw e Mantsch (2006), com base em espectros FT-IR de soro, o<br />
qual incluiu as faixas espectrais de 3000-2800, 1800-1700 e 1500-900 cm-1.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
25<br />
A representação gráficos de correlação entre os valores preditos pelos<br />
respectivos modelos otimizados e os valores experimentais encontram-se<br />
representados na Figura 4.<br />
Triglicerídeos Colesterol Total Colesterol HDL<br />
Figura 4 – Gráficos de correlação de modelagem de regressão PLS-DRIFTS otimizados,<br />
entre amostras de sangue total e triglicerídeos séricos, colesterol total e colesterol HDL, para<br />
atletas.<br />
A calibração do modelo baseou-se na recuperação de informações analíticas<br />
quantitativas a partir dos espectros (ELLIS & GOODACRE, 2006; ESCANDAR et al.,<br />
2006). Os modelos de calibração são desenvolvidos separadamente para cada analito<br />
alvo. Por fim cada modelo é validado através de comparação dos valores previstos<br />
pelo PLS com os valores de referência.<br />
Para calibração dos modelos, foram previstas as concentrações de algumas<br />
amostras (tabela 4), as quais foram inicialmente descartas na elaboração do modelo<br />
em questão. Para as previsões dos valores de concentração de triglicerídeos,<br />
colesterol total e colesterol HDL, foram obtidas as correlações de 0,95, 0,15 e 0,10 e<br />
os erros de 7,4, 30 e 6,9 mg dL-1 respectivamente, podendo-se observar um bom<br />
modelo para a previsão das amostras de triglicerídeos, considerando uma alta<br />
correlação aliada a um baixo erro e alcançando o objetivo frente a este parâmetro.<br />
Já para as previsões de colesterol total e HDL os valores obtidos não foram<br />
reprodutíveis, mostrando uma baixa correlação e, no caso do colesterol total, aliado<br />
a um alto erro de previsão.<br />
Tabela 4 - Correlação de valores entre método referência e infravermelho na<br />
concentração sérica de triglicerídeos, colesterol total e colesterol HDL em atletas.<br />
Parâmetros Atletas Referência (mg dL -1 ) Infravermelho (mg dL -1 )<br />
TG 02R 116,09 116,75<br />
TG 04F 97,41 92,51<br />
TG 05F 94,76 103,92<br />
TG 09R 68,98 71,39<br />
TG 06R 110,88 104,19<br />
TG 10F 54,68 54,27<br />
TG 07F 44,65 46,92<br />
TG 14R 73,92 85,53<br />
TG 14F 97,16 85,53<br />
CT 01F 178,88 178,34<br />
CT 02R 142,42 178,35<br />
CT 02F 143,10 178,40<br />
CT 05R 243,78 178,40<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
26<br />
CT 09R 197,96 178,40<br />
CT 09F 209,54 178,40<br />
CT 06R 169,68 178,40<br />
CT 06F 180,41 178,40<br />
CT 11F 139,52 178,40<br />
CT 14R 157,41 166,48<br />
CT 14F 176,15 166,48<br />
HDL 05R 43,14 50,90<br />
HDL 08R 49,46 50,94<br />
HDL 08F 48,53 50,90<br />
HDL 09R 61,94 60,00<br />
HDL 09F 62,17 50,95<br />
HDL 06R 41,98 51,00<br />
HDL 10R 56,90 51,00<br />
HDL 07F 43,95 50,90<br />
HDL 14R 53,57 52,90<br />
HDL 14F 51,71 52,90<br />
TG = triglicerídeos; CT = colesterol total; HDL = colesterol HDL; R: Repouso; F: Final<br />
do exercício.<br />
Os resultados apontam que, na avaliação de atletas, a técnica de infravermelho<br />
(DRIFTS) juntamente com o método de regressão multivariado (PLS) foi adequada<br />
para a construção de modelos de calibração e para a dosagem de marcadores<br />
bioquímicos de perfil lipídico. Nessa perspectiva, considera-se possível a utilização da<br />
espectroscopia FT-IR na obtenção de dados que determinam o perfil lipídico em<br />
amostras de sangue total em atletas. Contudo, é uma aplicação limitada e<br />
dependente de fatores operacionais envolvidos nas etapas de coleta e disposição das<br />
amostras de sangue em presença do KBr. Por fim, a técnica estudada se mostra<br />
promissora no monitoramento da evolução e desempenho de atletas durante<br />
diferentes testes de esforço, inclusive em provas específicas de atletismo, o que está<br />
sendo desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa.<br />
AGRADECIMENTOS<br />
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela bolsa<br />
de Iniciação Científica.<br />
REFERÊNCIA<br />
ALAIN, Charles C., et al, Enzymatic determination of total plasma cholesterol. Clinical<br />
Chemistry, v. 20, n. 4, p. 470-475, 1974<br />
BARBOSA, Luiz C.A.Espectroscopia no infravermelho na caracterização de compostos<br />
orgânicos. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 189 p. 2007.<br />
BAYNES, John W. e DOMINICZACK, Marek H. Bioquímica médica. 2. ed. Rio de<br />
Janeiro: Elsevier, 2007, 716 p.<br />
BUCOLO, Giovanni e DAVID, Harold. Quantitative determination of plasma<br />
triglycerides by the use of enzymes. Clinical Chemistry, v. 19, p. 476-482, 1973.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
27<br />
CAMPBELL, Mary K.; FERRELL, Shawn O. Bioquímica. São Paulo: Thomson, 3v,<br />
2007.<br />
DEVLIN, Thomas M. (Coord). Manual de bioquímica: com correlações clínicas. São<br />
Paulo: E. Blucher, 2007, 1186 p.<br />
ELLIS, David I.; GOODACRE, Royston. Metabolic fingerprinting in disease diagnosis:<br />
biomedical applications of infrared and Raman. The Analyst, v. 131, p. 875–885,<br />
2006.<br />
ESCANDAR Graciela M. et al. A review of multivariate calibration methods applied to<br />
biomedical analysis. Microchemical Journal, v. 82, p. 29-42, 2006.<br />
FRIEDEWALD, William T.; LEVY, Robert I.; FREDRICKSON, Donald S. Estimation of<br />
the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the<br />
preparative ultracentrifuge. Clinical Chemistry, v. 18, n. 6, p. 499-502, 1972.<br />
GREFF Jan van der; STROOBANT, Paul.; HEIJDEN Rob van der. The role of analytical<br />
sciences in medical systems biology. Current Opinion in Chemical Biology, v. 8, n. 5,<br />
p. 559–565, 2004.<br />
HALL, Jeffrey W. e POLLARD, Alan. Near-infrared spectrophotometry: A new<br />
dimension in clinical chemistry. Clinical Chemistry, v. 38, n. 9, p.1623-1631, 1992.<br />
HOLLYWOOD, Katherine; BRISON, Daniel R.; GOODACRE, Royston. Metabolomics:<br />
Current technologies and future trends. Proteomics, v. 6, p. 4716–4723, 2006.<br />
KANAAN, Salim.; GARCIA, Maria A.T. Bioquímica clínica. São Paulo: Atheneu, 2008,<br />
p. 241.<br />
LERARIO, Antonio C.; BETTI, Roberto T. B.; WAJCHENBERG, Bernardo L. O perfil<br />
lipídico e a síndrome metabólica. <strong>Revista</strong> da Associação Médica Brasileira. [online].<br />
v. 55, n. 3, p. 232-233, 2009.<br />
MOTTA, Valter T. Bioquímica clínica para o laboratório: princípios e interpretações. 4.<br />
ed. São Paulo: Robe Editorial, 2003, p. 419.<br />
SHAW, Anthony e MANTSCH, Henry. Infrared spectroscopy in clinical and diagnostic<br />
analysis. Encyclopedia of Analytical Chemistry. 2006.<br />
SILVERSTEIN, Rorbert M.; WEBSTER, Francis X. Identificação espectrométrica de<br />
compostos orgânicos. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A., 2007, p. 490.<br />
WANG, Liqun; MIZAIKOFF, Bóris. Application of multivariate data-analysis techniques<br />
to biomedical diagnostics based on mid-infrared spectroscopy. Analytical and<br />
Bioanalytical Chemistry, v. 391, n. 5, p. 1641-1654, 2008.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 17-27, 2010.
28<br />
CONCEPÇÕES SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DA<br />
POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO E<br />
ATENÇÃO À SAÚDE: COM A PALAVRA, GESTORES DE SAÚDE<br />
DE MUNICÍPIOS DA 13ª COORDENADORIA REGIONAL DE<br />
SAÚDE<br />
Janice Bringmann<br />
Luciele Sehnem<br />
Ari Nunes Assunção<br />
Leni Dias Weigelt<br />
Luciane Maria Schmidt Alves<br />
Suzane Beatriz Frantz Krug<br />
RESUMO<br />
O presente estudo objetivou desvelar os meios utilizados pelos gestores de saúde<br />
para a implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização da<br />
Gestão e Atenção de Saúde. Para a obtenção dos resultados, foram realizadas<br />
entrevistas com cinco gestores de saúde da 13ª Coordenadoria Regional de<br />
Saúde/RS, seguindo, metodologicamente, a trajetória qualitativa. A organização e<br />
a análise dos dados foram realizadas sob o enfoque da Análise de Conteúdo<br />
(Bardin, 1977). Destacou-se que a humanização em saúde para os entrevistados<br />
significa atender bem aos pacientes, sabendo ouvi-los nas suas necessidades e<br />
informando os demais membros da equipe da sua situação. Citou-se, também, a<br />
prioridade ao atendimento dos casos mais graves e aos idosos, assim como a<br />
diminuição das filas e do tempo de espera para atendimento. Como meios para<br />
implementar as diretrizes, foram referidas a triagem, a agilidade no atendimento<br />
e no agendamento de consultas, a distribuição das fichas com horários para<br />
atendimento e a melhoria do espaço físico das unidades. Com base nesses<br />
levantamentos, sugere-se a elaboração de grupos de discussões como espaços de<br />
articulação dos atores para subsidiar a implementação da Humanização da Gestão<br />
e Atenção da Saúde nos serviços, contribuindo, dessa forma, para a efetivação<br />
das diretrizes do Sistema Único de Saúde.<br />
Palavras-chave: Gestão em Saúde. Saúde da Família. Políticas Públicas. Sistema<br />
Único de Saúde.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 28-36, 2010
29<br />
ABSTRACT<br />
The present study aims to unveil the means used by health managers to<br />
implement the National Policy of Humanization of Health Care and Management.<br />
In order to reach the results it was conducted some interviews with five health<br />
managers of the 13th Health Regional Coordination / RS, using as methodology<br />
the qualitative approach. The organization and data analysis were done through<br />
the focus of the content analysis (Bardin, 1977). It was highlighted that the<br />
humanization of health for the interviewed means to treat well the patients,<br />
knowing how to hear them in their needs and informing the other team members<br />
about the patients’ situation. We also mentioned the priority in treating the most<br />
serious cases and the elderly, as well as reducing the lines and waiting time for<br />
care. As a means to implement those guidelines, it was referred the screening,<br />
treatment agility, appointment scheduling, distribution of bookmarks with<br />
schedules for care and improvement of the units physical space. Based on these<br />
surveys, we suggest the establishment of discussion groups as articulation spaces<br />
for the actors to support the implementation of the Humanization of Management<br />
and Health Care in the services, thereby contributing to the effectiveness of the<br />
Unified Health System guidelines.<br />
Keywords: Health Management. Family Health. Public Policy. Unified Health<br />
System.<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
A Estratégia Saúde da Família possui como foco central de atuação a família<br />
que, por sua vez, é compreendida a partir do conhecimento do meio em que vive.<br />
Sob esse foco de atuação, possibilita-se que as equipes de saúde detenham uma<br />
visão mais abrangente sobre o processo saúde/doença, reafirmando, também, a<br />
necessidade de intervenções que se sobreponham às práticas curativistas, que<br />
ainda se encontram demasiadamente avivadas na sociedade, conforme refere o<br />
Ministério da Saúde (1996) apud Rocha (2003).<br />
Além de visar à reordenação do modelo assistencial hospitalocêntrico para<br />
um modelo de atenção baseado na prevenção e promoção da saúde a partir da<br />
atenção básica, a estratégia objetiva, também, promover um maior vínculo entre<br />
profissionais e usuários, contribuindo para a humanização das práticas de saúde<br />
nas unidades (PAULINO, BEDIN e PAULINO, 2009).<br />
Apesar de a palavra humanização remeter, diretamente, à ideia de tratar<br />
humanamente o ser humano, o que se pode visualizar, muitas das vezes, é o<br />
contrário. Prevalece a preocupação com o bem-estar econômico ou, mesmo, com<br />
a redução das pessoas a objetos passíveis de experimentos, em detrimento de<br />
tornar dignas e melhores as condições de vida das pessoas (CAMPOS, 2005). A<br />
humanização praticada nos serviços de saúde pode expressar-se “pelo caráter e<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 28-36, 2010
30<br />
qualidade da atenção, levando em conta interesses, desejos e necessidades dos<br />
atores sociais implicados nesta área” (FORTES, 2004 p.31).<br />
Tendo, como foco de estudo, a humanização e seguindo uma das diretrizes<br />
da pesquisa intitulada “Saúde da Família: um olhar sobre a Estratégia nos<br />
Municípios da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde/RS”, que visa investigar o<br />
processo de gestão da saúde em relação às Estratégias de Saúde da Família,<br />
objetivou-se, através de um recorte desta pesquisa, desvelar, por intermédio da<br />
pergunta norteadora “Quais os mecanismos de implementação das diretrizes da<br />
Política Nacional de Humanização da Gestão e Atenção à Saúde?”, os meios<br />
utilizados pelos gestores de saúde para a implementação das diretrizes da Política<br />
Nacional de Humanização da Gestão e Atenção à Saúde, bem como a forma de<br />
perceber o seu entendimento acerca da humanização em saúde.<br />
Compete ao gestor de saúde a responsabilidade de implantação e<br />
monitoramento da estratégia, além de possibilitar aos trabalhadores da saúde que<br />
ali atuam meios que subsidiem motivação para as mudanças que o modelo<br />
determina (ROCHA, 2003). A responsabilidade desse vai além de determinar<br />
prioridades, definir os investimentos em saúde e promover espaços de<br />
negociação. É de sua competência, também, prover os meios necessários para a<br />
construção da política de humanização no seu município (MELO, 2006).<br />
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA<br />
Instituída no ano de 2003 pelo Ministério da Saúde, o HumanizaSUS vem a<br />
ser um dispositivo para consolidar os princípios do Sistema Único de Saúde<br />
(SUS), por meio da sua aplicação cotidiana nas práticas de atenção e gestão,<br />
estimulando, também, para que os sujeitos envolvidos, usuários, trabalhadores e<br />
gestores promovam trocas solidárias para a produção de saúde e de sujeitos<br />
(BRASIL, 2006).<br />
A discussão sobre os “direitos dos pacientes”, iniciada por volta dos anos 70,<br />
representa o marco inicial para a reflexão das práticas humanizadoras em saúde.<br />
O Hospital Mont Sinai, em Boston, nos Estados Unidos da América (USA), e a<br />
Associação Americana de Hospitais foram os pioneiros a terem a declaração de<br />
direitos dos pacientes reconhecida pela literatura. Esse documento sinaliza para<br />
que os serviços de saúde possibilitem alcançar o mais alto nível de saúde possível,<br />
apontando, também, os pacientes como responsáveis nas tarefas de planejar e<br />
implementar os cuidados inerentes a sua saúde (FORTES, 2004).<br />
A Política Nacional de Humanização (PNH) apresenta-se recíproca aos<br />
princípios do Sistema Único de Saúde, dentre os quais se elencam a equidade, a<br />
integralidade, a universalidade, assim como a promoção da descentralização da<br />
atenção e gestão da saúde. Há de se ressaltar que, para o avanço e cumprimento<br />
das diretrizes do SUS, o governo reconhece que é forçoso pôr em prática uma<br />
PNH que perfilhe itens como: “a fragmentação do processo de trabalho, a<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 28-36, 2010
31<br />
precária interação das equipes de saúde; o desrespeito aos direitos dos usuários,<br />
o baixo investimento em qualificação e a burocratização dos sistemas de gestão”<br />
(BRASIL, 2005 apud ANDRADE e LOPES, 2009).<br />
A Política Nacional de Humanização estrutura-se a partir de princípios,<br />
métodos, diretrizes e dispositivos que contribuem para nortear as ações voltadas<br />
para a efetivação da Política no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2009).<br />
Ressaltam-se, como orientações gerais das incluídas na PNH, a Clínica<br />
Ampliada, Cogestão, Acolhimento, Valorização do trabalho e do trabalhador,<br />
Defesa dos Direitos do Usuário, Fomento das grupalidades dos coletivos e de<br />
redes e a Construção da memória do SUS que dá certo (BRASIL, 2009).<br />
A PNH defende que a gestão e a atenção devam ser trabalhadas<br />
conjuntamente, abolindo a visão reducionista que considera a gestão dos<br />
processos de trabalho uma questão administrativa que deva ser desenvolvida<br />
separadamente das práticas de cuidado (BRASIL, 2006 apud PAULON e ELAHEL,<br />
2006).<br />
A respeito disso, Oliveira, Collet e Viera (2006) apontam que a valorização<br />
dos atores nos diversos âmbitos do SUS, tanto na dimensão das práticas de<br />
atenção como de gestão, fomentam a autonomia dos sujeitos e o trabalho em<br />
equipe multiprofissional, promovendo a democratização desses espaços e<br />
valorizando os trabalhadores que atuam nesses locais.<br />
Ressalta-se que firmar a saúde como valor de troca, e não de uso, é conferir<br />
aos atores envolvidos o compromisso de responsabilidade para com os serviços<br />
de saúde na luta pela humanização desses espaços, através da participação no<br />
controle social, na gestão dos serviços e na melhoria das condições para<br />
trabalhadores e gestores, refletindo em um atendimento de maior qualidade aos<br />
usuários (BENEVIDES e PASSOS, 2005).<br />
3 METODOLOGIA<br />
Este artigo constitui-se um recorte de uma pesquisa mais ampla “Saúde da<br />
Família: um olhar sobre a Estratégia nos Municípios da 13ª Coordenadoria<br />
Regional de Saúde/RS”, em desenvolvimento, do Grupo de Estudos e Pesquisas<br />
em Saúde, da Universidade de Santa Cruz do Sul – RS (GEPS-UNISC).<br />
A investigação seguiu a trajetória qualitativa e a organização dos dados e<br />
sua posterior análise foi sob o enfoque da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977).<br />
Os sujeitos do estudo foram representados por cinco gestores de saúde de cinco<br />
municípios pertencentes à região do Vale do Rio Pardo no Rio Grande do Sul, de<br />
abrangência da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde/RS.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 28-36, 2010
32<br />
Os dados foram coletados por meio de entrevista, do tipo estruturada,<br />
composta por questões abertas. Para este estudo, foi selecionada uma questão<br />
aplicada aos gestores de saúde entre as onze pertencentes ao questionário da<br />
pesquisa maior, citada anteriormente. Os dados foram coletados no período de<br />
março de 2009 a outubro de 2010. O tema se refere aos mecanismos que os<br />
gestores utilizam para a implantação das diretrizes da Política Nacional de<br />
Humanização da Gestão e Atenção à Saúde, no seu município.<br />
A pesquisa foi fundamentada em princípios éticos de acordo com a<br />
Resolução n. 196/96, Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas<br />
envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O projeto de<br />
pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNISC,<br />
sob o protocolo nº 23771/09.<br />
4 RESULTADOS<br />
Através das análises das entrevistas, possibilitou-se averiguar que o conceito<br />
de humanização em saúde, para os entrevistados, remete ao atendimento de<br />
qualidade do usuário e tem seu significado vinculado a atender bem os pacientes,<br />
sabendo ouvi-los nas suas necessidades e informando os demais membros da<br />
equipe da sua situação. Na fala a seguir, evidenciam-se alguns desses aspectos:<br />
Nós nos reunimos cada um na sua esfera, dividimos assim o que<br />
um pode ajudar o outro, discutimos os problemas e<br />
encaminhamos e procuramos estar resolvendo dentro da linha da<br />
enfermagem, e dentro das equipes o que eu coloco em relação é<br />
isso [...] (GestorI).<br />
Citou-se, como prática de humanização, prioridade ao atendimento dos<br />
casos mais graves e aos idosos, assim como a diminuição das filas e do tempo de<br />
espera para atendimento. Esses aspectos podem ser observados nas falas dos<br />
gestores, exemplificadas a seguir:<br />
[...] nós chegamos aqui tinha fila de adulto e idoso, ficavam às<br />
vezes esperando até as quatro, cinco horas da tarde pra ser<br />
atendido, daí a gente mudou, as pessoas retiram sua ficha,<br />
retornam no horário combinado pra consulta, né. Vai pra casa,<br />
pega a ficha e vai pra casa e o idoso sempre tem a preferência, o<br />
idoso é passado na frente [...] a gente faz um acolhimento,<br />
conversa com o usuário, a partir dali né quem... digamos o caso é<br />
mais grave, atenção é especial, passa na frente (Gestor II).<br />
[...] ouvir mais o paciente, trabalhar um pouquinho a ambiência<br />
que também é importante, né, proporcionar um bem-estar assim<br />
em relação ao ambiente onde o paciente se insere, no momento<br />
que entra procurar melhorar tudo em relação a isso, eu acho que<br />
pra destacar esses três que a gente tá hoje pensando em<br />
desenvolver (Gestor I).<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 28-36, 2010
33<br />
Como meios para implementar as diretrizes de humanização, foram referidas<br />
a triagem, a agilidade no atendimento e no agendamento de consultas,<br />
distribuição das fichas com horários para atendimento e melhoria do espaço físico<br />
das unidades. Alguns desses aspectos podem ser detectados nas falas a seguir:<br />
Se toca muito nesse assunto da humanização né, do acolhimento<br />
e tudo mais. A gente faz um acolhimento, conversa com o<br />
usuário, a partir dali né quem... digamos o caso é mais grave, a<br />
atenção é especial, passa na frente como uma triagem que se faz<br />
o trabalho de acolhimento, hoje seria assim, basicamente isto<br />
[...]. As gestantes também são todas agendadas, a primeira<br />
consulta puericultura da criança, do recém-nascido também é<br />
agendada já quando sai da maternidade, já é agendado o teste<br />
do pezinho, a primeira consulta Gestor II).<br />
[...] eu mesmo fico na fila aqui, não deixo formar muita fila, tem<br />
que atender rápido, tem que achar solução; porque a fila judia, se<br />
você já tem um problemas de saúde, e tu ainda fica sofrendo na<br />
fila, é complicado (Gestor III).<br />
As falas também evidenciam que o conforto do paciente nos serviços tem se<br />
monstrado como uma grande preocupação aos gestores. Nesse sentido, Melo<br />
(2006) reforça que é da competência do gestor prover meios para a diminuição<br />
das filas e do tempo de espera, manejar os imprevistos, entre outros. O autor<br />
também evidencia que, em algumas instituições, a visão de humanização em<br />
saúde atrela-se a questões envolvendo a aquisição de melhoria dos equipamentos<br />
médicos ou estrutura física dos locais. Vale ressaltar, porém, que pouco<br />
contribuem esses aspectos se essas melhorias não estiverem sendo inseridas em<br />
um amplo processo de humanização das relações institucionais.<br />
Diante de todo esse contexto, percebe-se que os entrevistados possuem<br />
conhecimento acerca de ações humanizadoras, porém essas se focalizam na<br />
qualidade do atendimento ao usuário, divergindo da compreensão do Ministério<br />
da Saúde que preconiza, na humanização, a valorização dos diferentes sujeitos<br />
envolvidos no processo de produção de saúde, não só o usuário, mas também os<br />
gestores e os trabalhadores nas diversas instâncias (BRASIL, 2006).<br />
A valorização do trabalhador mostra-se de suma importância para a oferta<br />
de um atendimento de qualidade aos usuários, pois depende, diretamente, do<br />
modo de gestão do trabalho, e o trabalhador de saúde é o principal protagonista<br />
neste processo (HENNINGTON, 2008).<br />
Percebe-se, nas falas, concomitantemente, que os gestores ainda<br />
visualizam, no usuário, um sujeito passivo nas ações, revelando o<br />
desconhecimento da corresponsabilidade deste para a consolidação da política de<br />
saúde. Diante dessa percepção, cabe ressaltar que a política de humanização<br />
prevê a participação ativa dos usuários, entendidos e respeitados não como<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 28-36, 2010
34<br />
meros frequentadores dos serviços de saúde (FORTES, 2004), mas, sim, como<br />
membros participantes dos processos decisórios, contribuindo nas definições de<br />
prioridades e avaliação dos serviços e ações nas diversas esferas governamentais,<br />
principalmente através da participação em conselhos e conferências de saúde,<br />
reafirmando a esfera do controle social e da gestão participativa preconizada pelo<br />
SUS (BRASIL, 2009).<br />
Detectou-se o acolhimento, uma das diretrizes de maior importância ética,<br />
estética e também política da PNH, como prática de humanização nesses espaços.<br />
Conforme o documento Acolhimento nas práticas de produção de saúde, do<br />
Ministério da Saúde, o acolhimento contribui para uma maior aproximação e<br />
comprometimento entre equipe e serviços, favorecendo avanços na construção de<br />
vínculos de responsabilidade entre usuários, trabalhadores e gestores e<br />
reafirmando o SUS como uma política essencial para a população (BRASIL, 2006).<br />
Os dados apontam, como incógnita, o conhecimento dos gestores sobre<br />
outras práticas de humanização em saúde, o que leva, diante do averiguado, ao<br />
entendimento de que a Política Nacional de Humanização da Gestão e Atenção à<br />
Saúde ainda é pouco desenvolvida nos municípios analisados.<br />
5 CONCLUSÃO<br />
Pode-se perceber que, entre os gestores entrevistados, existe ainda uma<br />
visão reducionista sobre humanização, sendo a mesma entendida como uma<br />
política voltada estritamente ao usuário e, mais especificamente, à qualidade do<br />
seu atendimento nos diversos serviços.<br />
Revelou-se, ainda, a fragilização do conceito de humanização entre os<br />
gestores, pois é remetida a uma ideia de assistencialismo e boa vontade, prestada<br />
ao usuário, sujeito passível nas ações.<br />
Dentre as diretrizes da humanização trabalhadas, evidencia-se, fortemente,<br />
a diretriz do acolhimento, sendo as demais diretrizes preconizadas timidamente e<br />
evidenciadas nas falas.<br />
Ressalta-se a importância de uma transformação de conceitos<br />
preestabelecidos da gestão e das práticas desenvolvidas nesses locais para a<br />
efetivação do processo de humanização, estimulando o respeito e acolhimento ao<br />
próximo e afirmando o usuário como indivíduo ativo e corresponsável nos<br />
processos decisórios dos serviços de saúde.<br />
Com base nesses levantamentos, sugerem-se trabalhos voltados à<br />
capacitação desses sujeitos quanto à humanização em saúde, conscientizando-os<br />
da sua abrangência e da parcela de responsabilidade de usuários, gestores e<br />
profissionais, possibilitando, dessa maneira, a elaboração de grupos de discussões<br />
como espaços de articulação dos atores para subsidiar a implementação da<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 28-36, 2010
35<br />
Humanização da Gestão e Atenção da Saúde nos serviços, contribuindo, dessa<br />
forma, para a efetivação das diretrizes do Sistema Único de Saúde.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ANDRADE, João Tadeu de; LOPES, Fernanda Bezerra N. Medicina Convencional,<br />
práticas não biomédicas e o processo de humanização. In: NÓBREGA –<br />
THERRIEN, Silvia Maria; ALMEIDA, Maria Irismar de; ANDRADE, João Tadeu de.<br />
Formação diferenciada: a produção de um Grupo de Pesquisa. Fortaleza: UECE,<br />
2009. p. 307 – 325.<br />
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 225 p.<br />
BENEVIDES, Regina; PASSOS, Eduardo. Humanização na saúde: um novo<br />
modismo? Interface, Botucatu, vol. 9, n. 17 p. 389-94, mar.-ago. 2005.<br />
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da<br />
Política Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de<br />
saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico da<br />
Política Nacional de Humanização. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da<br />
Saúde, 2006. Disponível em: Acesso em: 15 dez. 2010.<br />
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da<br />
Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS : documento base para gestores<br />
e trabalhadores do SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,<br />
Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – 3. ed. Brasília: Editora do<br />
Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: Acesso em: 15 dez. 2010.<br />
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da<br />
Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: documento base para gestores<br />
e trabalhadores do SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,<br />
Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. – 4. ed. – Brasília : Editora<br />
do Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: Acesso em: 15 de dez. 2010.<br />
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Humanização na saúde: um projeto em<br />
defesa da vida? Interface, Botucatu, vol. 9, n. 17, p. 398-400, 2005.<br />
CASATE, Juliana Cristina; CORREA, Adriana Katia. Humanização do atendimento<br />
em saúde: conhecimento veiculado na literatura brasileira de enfermagem.<br />
<strong>Revista</strong> Latino-Americana Enfermagem, vol. 13, n. 1, p. 105-11. 2005.<br />
FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. Ética, direitos dos usuários e políticas de<br />
humanização da atenção à saúde. Saúde e Sociedade, vol.13, n. 3, p. 30-5, set.-<br />
dez. 2004.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 28-36, 2010
36<br />
HENNINGTON, Élida Azevedo. Gestão dos processos de trabalho e humanização<br />
em saúde: reflexões a partir da ergologia. <strong>Revista</strong> Saúde Pública, vol. 42, n. 3, p.<br />
555-61. 2008.<br />
MELO, Sérgio Braga de. A Humanização sob o ponto de vista do Gestor de Saúde.<br />
Boletim da Saúde, vol. 2, n. 2, p. 167-71. 2006.<br />
OLIVEIRA, Beatriz Rosana Gonçalves de; COLLET, Neusa; VIERA, Cláudia Silveira.<br />
A humanização na assistência à saúde. <strong>Revista</strong> Latino-Americana de Enfermagem,<br />
vol. 14, n. 2, p. 277-84, mar.-abr. 2006.<br />
PAULINO, Ivan; BEDIN, Lívia Perasol; PAULINO, Lívia Valle. Estratégia saúde da<br />
família. São Paulo: Ícone, 2009. 448 p.<br />
PAULON, Simone Mainieri. ELAHEL, Ana Lucia Schettini. A construção de um<br />
observatório de práticas da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de<br />
Saúde: a experiência do Rio Grande do Sul. Boletim da Saúde, vol. 2, n. 2, p.119-<br />
34, jul.-dez. 2006.<br />
ROCHA, Miriam Tereza Vali Solé. O gestor municipal de saúde e o programa de<br />
saúde da família: estudos de casos. Mato Grosso do Sul: UFMG, 2003. Monografia<br />
(Especialização em Saúde da Família), - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade<br />
Federal de Mato Grosso, 2003.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 28-36, 2010
Ciências<br />
Exatas da<br />
Terra e<br />
Engenharias
ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS<br />
Na área de Ciências Exatas, da Terra e Engenharias entre os 65 trabalhos<br />
apresentados no evento, 97% foram de alunos bolsistas de Iniciação Científica da<br />
Universidade, sendo 02 trabalhos de alunos de Iniciação Científica vinculados a<br />
outras Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio Grande do Sul. A maioria<br />
dos trabalhos nesta área foi de bolsistas do Programa UNISC de Iniciação<br />
Científica – PUIC, seguida dos Programas de bolsa de verba externa para<br />
pagamentos de bolsas em projetos de pesquisa e Programa PIBIC/CNPq e<br />
PROBIC/FAPERGS. Nesta área também se observa a participação de estudantes<br />
participantes do Programa PUIC voluntário, dados demonstrados na Figura 03.<br />
40<br />
Trabalhos apresentados na Área de Ciências Exatas, da Terra e Engenharias no<br />
XVI Seminário de Iniciação Científica da UNISC<br />
Nº de Trabalhos<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
Área de<br />
Ciências<br />
Exatas da<br />
Terra e<br />
Engenharias<br />
0<br />
PUIC<br />
PIBIC/CNPq<br />
PROBIC/FAPERGS<br />
Outras Bolsas<br />
PUIC VOLUNTÁRIO<br />
Tipo de bolsa relacionada aos trabalhos apresentados<br />
Figura 03 – Modalidade de bolsas dos estudantes participantes do XVI Seminário de<br />
Iniciação Científica na Área de Ciências Exatas da Terra e Engenharias.<br />
Fonte: Coordenação de Pesquisa, UNISC, 2010.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 39-48, 2010
AVALIAÇAO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA<br />
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO, SISTEMA AQUÍFERO<br />
GUARANI, RS, BRASIL<br />
Marluce Purper 1<br />
Marco Antonio Fontoura Hansen 2<br />
Adilson Ben da Costa 1<br />
Roberta Cristina Kaufmann 1<br />
Ana Paula Wetzel 1<br />
Alcido Kirst 1<br />
Eduardo A. Lobo 1<br />
RESUMO<br />
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade das águas subterrâneas em<br />
áreas de preservação permanente (Sistema Aquífero Guarani – SAG) da Bacia<br />
Hidrográfica do Rio Pardo, RS, Brasil, através de variáveis físicas, químicas e<br />
microbiológicas. Nove pontos de coleta foram distribuídos ao longo da bacia, nos<br />
quais as águas subterrâneas foram classificadas quanto aos íons de maior<br />
ocorrência quantitativa. Os resultados indicaram que a maioria dos poços<br />
avaliados enquadraram-se na Classe 4 de usos da água, correspondendo a águas<br />
de usos menos restritivos (como recreação de contato secundário). Entretanto,<br />
deve-se considerar que os aquíferos são caracterizados por diferentes condições<br />
geológicas, com características físicas, químicas e biológicas intrínsecas, e<br />
também variações hidrogeoquímicas, sendo necessário que as suas classes de<br />
qualidade sejam determinadas com base nessas especificidades. As amostras P1,<br />
P2, P3, P5 e P9 classificaram-se como bicarbonatadas cálcicas; as águas dos<br />
pontos P4, P6, P7 como bicarbonatadas sódicas; e P8 como sulfatada. Verificouse<br />
que a qualidade das águas de poços com profundidade inferior a 6 m está<br />
mais vulnerável, devido a alterações antrópicas em função da concentração de<br />
nitrato, coliformes totais e termotolerantes, enquanto a qualidade das águas de<br />
poços mais profundos depende basicamente de suas características<br />
hidrogeológicas e hidrogeoquímicas naturais, em função das variáveis sulfato e<br />
sódio.<br />
1 Laboratório de Limnologia. Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC, RS Av. Independência,<br />
2293 - Bairro Universitário – Santa Cruz do Sul – Rio Grande do Sul – Código Postal: 96815-900<br />
- Brasil. Tel.: +55 (51) 3711-3465 – Fax: +55 (51) 3717-7382. E-mail:<br />
marlucepurper@yahoo.com.br<br />
2 Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, RS.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 39-48, 2010
40<br />
Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. RS. Qualidade da água<br />
subterrânea. Sistema Aquífero Guarani.<br />
ABSTRACT<br />
The aim of this research was to evaluate the quality of groundwater in areas of<br />
permanent preservation (Guarani Aquifer System – GAS) in the Rio Pardo<br />
Hydrographical Basin, RS, Brazil, using physical, chemical and microbiological<br />
variables. Nine sampling points were distributed throughout the basin, where<br />
groundwater was classified according to their quantitative occurrence of ions. The<br />
results indicated that most of the wells evaluated were classified in Class 4 of<br />
water uses, corresponding to waters with less restrictive uses (such as secondary<br />
contact recreation). However, it should be considered that the aquifers are<br />
characterized by different geological conditions, with physical, chemical and<br />
biological intrinsical characteristics, and also hydrogeochemical variations,<br />
requiring that their quality levels are determined based on these specifications.<br />
Samples P1, P2, P3, P5 and P9 were classified as calcium bicarbonate, the waters<br />
of the points P4, P6, P7 as sodium bicarbonate and P8 as sulfated. It was found<br />
that the quality of water from wells with depths less than 6 m are more<br />
vulnerable due to anthropogenic activities, as showing by the concentration of<br />
nitrate, total and thermotolerant coliforms, while the quality of water from deeper<br />
wells basically depends on their hydrogeological and hydrogeochemical<br />
characteristics based on the concentration of sodium and sulfate variables.<br />
Keywords: Groundwater quality. Guarani Aquifer System. Rio Pardo<br />
Hydrographical Basin. RS.<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é um dos maiores reservatórios de água<br />
subterrânea do mundo, com estimativa de 50 mil km3 de água doce armazenada<br />
em uma área total de 1,2 milhão de km2 distribuída em oito estados brasileiros e<br />
outros três países (Uruguai, Paraguai e Argentina) (BORGHETTI et al., 2004).<br />
Além de conter a maior parte das reservas subterrâneas, o Brasil também conta<br />
com muitas áreas de recarga, responsáveis pelo reabastecimento deste aquífero<br />
amplamente compartimentado por sistemas de falhas, o que aumenta ainda mais<br />
a responsabilidade brasileira em evitar a contaminação deste aquífero. Apesar<br />
disso, e da recomendação de que as zonas de recarga de um aquífero sejam<br />
consideradas áreas de proteção permanente, tem-se constatado que as culturas<br />
de cana-de-açúcar, soja e milho representam as principais atividades<br />
responsáveis pelos casos de contaminação do SAG em território brasileiro<br />
(DANTAS et al., 2009; COUTINHO, 2005).<br />
O conceito de qualidade da água é função das condições naturais<br />
(escoamento superficial e infiltração no solo), e do uso e da ocupação do solo
41<br />
(despejos domésticos ou industriais e aplicação de agrotóxicos no solo) em bacias<br />
hidrográficas. Os componentes que alteram o grau de pureza da água são<br />
retratados pelas suas características físicas, químicas e biológicas, que são<br />
traduzidas como parâmetros de qualidade da água (SPERLING, 2005).<br />
Ainda, pela sua própria natureza, as concentrações de substâncias presentes<br />
nas águas subterrâneas são extremamente dependentes do tipo de rocha, solo<br />
e/ou estruturas a que estão subordinadas e do tempo de residência da água no<br />
aquífero. Desse modo, em determinadas regiões, águas subterrâneas com o teor<br />
de um determinado metal acima do considerado normal, para outras regiões,<br />
podem estar perfeitamente dentro de uma composição considerada perfeitamente<br />
aceitável para aquela determinada região. De maneira geral, devido à ação<br />
filtradora lenta, através das camadas permeáveis, velocidade, da ordem de cm<br />
dia-1, as águas subterrâneas deveriam apontar baixos teores de cor, turbidez e<br />
isenção de bactérias encontradas em águas superficiais, a não ser que sejam<br />
atingidas por alguma fonte poluidora (FREITAS, 1997).<br />
Essa realidade não é diferente no Vale do Rio Pardo, na região central do<br />
Estado do Rio Grande do Sul, onde, apesar da ausência de estudos sistemáticos<br />
referentes à contaminação da água subterrânea por agrotóxicos e fertilizantes, as<br />
zonas de recarga situam-se junto às nascentes dos rios Pardo e Pardinho, regiões<br />
de intensa atividade agrícola destacando-se as culturas de fumo e milho.<br />
Nesse contexto, este estudo teve por objetivo avaliar a qualidade das águas<br />
subterrâneas nesta bacia, através de variáveis físicas, químicas e microbiológicas,<br />
permitindo assim discutir a questão da vulnerabilidade e proteção dos recursos<br />
hídricos subterrâneos.<br />
2 MATERIAL E MÉTODOS<br />
2.1 Área de Estudo/Amostragem<br />
As unidades litológicas aflorantes na bacia hidrográfica do rio Pardo<br />
pertencem à parte da sucessão da Bacia do Paraná. Da base para o topo ocorrem<br />
o Grupo Rosário do Sul, representado pelas formações Sanga do Cabral, Santa<br />
Maria e Caturrita, e o Grupo São Bento, com as formações Botucatu, Serra Geral<br />
Facies Gramado e Serra Geral Facies Caxias do Sul sobreposta por depósitos<br />
Neogênicos colúvios-aluviais e aluviais (CPRM, 2008) (Figura 1).<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 39-48, 2010
42<br />
Figura 1. Mapa Geológico bacia hidrográfica do Rio Pardo com pontos de coletas<br />
das amostras de água (adaptado de CPRM, 2008).<br />
Ao todo, nove pontos de coleta foram identificados, sendo considerada,<br />
dentre os critérios utilizados para localização dos mesmos, a necessidade de que<br />
estes locais fossem distribuídos em diferentes contextos geológicos da região,<br />
como pode ser observado na Figura 2, possibilitando assim a compreensão do<br />
comportamento qualitativo destas águas em cada situação. Foram realizadas<br />
cinco campanhas de coleta, que ocorreram nos meses de julho, agosto, setembro,<br />
outubro e dezembro de 2009.
43<br />
Figura 2. Localização das estações de amostragem de água na Bacia<br />
Hidrográfica do Rio Pardo, RS.<br />
As técnicas utilizadas na coleta das amostras, e para as determinações<br />
físicas, químicas e microbiológicas, encontram-se descritas no Americam Public<br />
Health Association (2005). Na avaliação da qualidade da água utilizou-se a<br />
Resolução n° 396 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2008),<br />
destacando a Tabela 1 que apresenta os usos indicados em cada classe da<br />
referida Resolução.<br />
Tabela 1. Classificação das águas subterrâneas através dos usos (CONAMA,<br />
2008).<br />
Classe Classificação e destino das águas subterrâneas<br />
Especial Preservação de ecossistemas em unidades de conservação de proteção integral e as que<br />
contribuam diretamente para os trechos de corpos de água superficial enquadrados como classe<br />
especial.<br />
Classe 1 Águas subterrâneas sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem<br />
tratamento para quaisquer usos preponderantes, devido às suas características hidrogeoquímicas<br />
naturais.<br />
Classe 2 Águas subterrâneas sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir<br />
tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas características<br />
hidrogeoquímicas naturais.<br />
Classe 3 Águas subterrâneas com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é<br />
necessário o tratamento em função dessas alterações, mas que podem exigir tratamento<br />
adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas<br />
naturais<br />
Classe 4 Águas subterrâneas com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente<br />
possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos restritivo (como<br />
recreação de contato secundário).<br />
Classe 5 Águas subterrâneas que possam estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas,<br />
destinadas a atividades que não tenham requisitos de qualidade para uso.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 39-48, 2010
44<br />
As variáveis consideradas nesta avaliação bem como os valores limites (VMP<br />
– Valor Máximo Permitido) para os usos preponderantes, segundo o Decreto<br />
Estadual 12.486, de 20 de outubro de 1978 (SÃO PAULO, 1978), foram<br />
alcalinidade de bicarbonatos, alcalinidade de carbonatos e de hidróxidos.<br />
Determinaram-se os limites dos parâmetros alumínio, cloro residual livre,<br />
coliformes termotolerantes e totais, ferro, manganês, nitrato, nitrogênio<br />
amoniacal, pH, sódio, sulfato e sólidos totais dissolvidos (STD), segundo a<br />
Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004).<br />
O limite considerado para fluoretos teve como base a Portaria nº 10, de 16 de<br />
agosto de 1999, da Secretaria Estadual da Saúde (RIO GRANDE DO SUL, 1999),<br />
considerada a mais restritiva.<br />
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES<br />
De forma geral, os resultados das determinações físicas, químicas e<br />
microbiológicas, nos meses de julho a dezembro de 2009, indicaram que os<br />
pontos de coleta apresentam uma alta variabilidade espacial e temporal da<br />
estrutura ambiental, destacando-se a Classe 4 de usos da água, que corresponde<br />
às águas de má qualidade, basicamente em função das variáveis coliformes<br />
totais, coliformes termotolerantes e turbidez, como se pode observar na média<br />
dos resultados obtidos, conforme Tabela 2.<br />
Tabela 2. Média (± desvio-padrão) dos resultados obtidos para cada estação<br />
de amostragem de julho a dezembro de 2009.<br />
Parâmetros P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9<br />
A.B. 18,55 50,23 101,48 87,00 119,68 10,63 8,48 117,60 7,23<br />
(desvio-padrão) (±3,21) (±2,83) (±17,73) (±14,63) (±34,29) (±3,67) (±1,57) (±0,00) (±0,25)<br />
A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 8,45 0,00 0,00 13,00 0,00<br />
(desvio-padrão) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±7,07) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00)<br />
A.H. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
(desvio-padrão) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00)<br />
Alumínio 1,02 2,90 0,18 9,93 0,11 0,21 0,10 0,10 0,20<br />
(desvio-padrão) (±0,39) (±2,07) (±0,11) (±5,72) (±0,09) (±0,16) (±0,10) (±0,00) (±0,15)<br />
Cálcio 4,28 4,30 9,95 4,73 44,50 3,05 2,95 30,70 3,87<br />
(desvio-padrão) (±0,94) (±1,19) (±6,69) (±0,57) (±25,06) (±0,48) (±1,20) (±0,00) (±0,30)<br />
C. Termo. 8,00 8,00 6,20 8,00 8,00 1,85 0,00 0,00 1,10<br />
(desvio-padrão) (±0,00) (±0,00) (±2,70) (±0,00) (±0,00) (±1,31) (±0,00) (±0,00) (±0,78)<br />
C. Totais 8,00 8,00 6,87 8,00 4,55 8,00 0,00 0,00 5,30<br />
(desvio-padrão) (±0,00) (±0,00) (±1,70) (±0,00) (±3,98) (±5,66) (±0,00) (±0,00) (±4,08)<br />
Cl res. Livre 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
(desvio-padrão) (±0,01) (±0,02) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00)<br />
C. E. 92,95 117,45 246,45 252,25 317,28 99,05 105,30 3500 132,47<br />
(desvio-padrão) (±7,56) (±5,37) (±57,35) (±37,68) (±79,95) (±37,74) (±4,05) (±0,00) (±18,88)<br />
Ferro 0,59 1,36 0,13 7,10 0,05 0,09 0,02 0,05 0,08<br />
(desvio-padrão) (±0,21) (±0,67) (±0,12) (±2,65) (±0,03) (±0,09) (±0,00) (±0,00) (±0,03)<br />
Fluoreto 0,28 0,08 0,32 0,23 0,25 0,13 0,14 1,60 0,09<br />
(desvio-padrão) (±0,32) (±0,01) (±0,13) (±0,16) (±0,27) (±0,16) (±0,15) (±0,00) (±0,01)<br />
Magnésio 2,48 4,33 6,33 9,33 3,50 1,80 1,65 10,00 3,77<br />
(desvio-padrão) (±0,44) (±0,54) (±1,43) (±1,36) (±0,64) (±0,48) (±0,39) (±0,00) (±0,66)<br />
Manganês 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,08<br />
(desvio-padrão) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,02) (±0,02) (±0,01) (±0,01) (±0,00) (±0,07)<br />
Mat. Org. 2,00 2,07 2,00 9,73 4,00 3,80 2,00 2,0 2,00<br />
(desvio-padrão) (±0,00) (±0,10) (±0,00) (±1,41) (±1,41) (±2,70) (±0,00) (±0,00) (±0,00)<br />
Nitrato 8,40 3,23 5,08 8,60 7,70 8,40 8,78 0,60 6,9<br />
(desvio-padrão) (±6,48) (±2,70) (±4,49) (±6,66) (±6,62) (±6,68) (±6,57) (±0,00) (±6,08)
45<br />
Parâmetros P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9<br />
N.amoniacal 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,57 0,50 0,5 0,50<br />
(desvio-padrão) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,00) (±0,10) (±0,00) (±0,00) (±0,00)<br />
Ph 6,37 7,46 7,46 7,30 7,98 5,25 6,10 7,72 6,07<br />
(desvio-padrão) (±0,90) (±0,32) (±0,55) (±0,26) (±0,16) (±1,06) (±0,46) (±0,00) (±0,62)<br />
Potássio 1,00 0,50 10,63 11,48 1,95 0,43 3,33 3,00 5,07<br />
(desvio-padrão) (±0,12) (±0,04) (±18,47) (±1,67) (±0,18) (±0,21) (±0,20) (±0,00) (±0,55)<br />
Salinidade 48,23 64,03 131,43 140,20 165,70 42,80 57,23 436,00 97,57<br />
(desvio-padrão) (±25,43 (±36,41 (±69,32) (±79,42) (±91,72) (±21,90) (±31,42 (±0,00) (±31,48)<br />
) )<br />
)<br />
STD 67,4 85,16 178,71 182,88 230,03 71,71 76,35 853,10 95,89<br />
(desvio-padrão) (±5,49) (±3,89) (±41,56) (±27,32) (±57,97) (±27,41) (±2,95) (±0,00) (±13,43)<br />
Sódio 4,15 4,58 11,66 45,38 12,18 7,33 8,25 951,80 7,20<br />
(desvio-padrão) (±0,34) (±0,33) (±9,58) (±62,96) (±2,19) (±1,29) (±0,56) (±0,00) (±0,84)<br />
Sulfato 5,56 10,88 10,15 3,60 13,48 4,25 1,00 2537,50 2,40<br />
(desvio-padrão) (±2,11) (±4,05) (±9,77) (±2,65) (±4,36) (±1,76) (±0,00) (±0,00) (±1,97)<br />
Turbidez 15,23 28,73 3,89 100,4 3,40 7,95 5,37 2,78 5,71<br />
(desvio-padrão) (±1,49) (±11,78 (±3,40) (±25,81) (±2,63) (±3,64) (±3,66) (±0,00) (±4,38)<br />
)<br />
Classe 4 4 4 4 4 4 2 4 4<br />
Onde: A.B. - Alcalinidade bicarbonatos; A.C. - Alcalinidade carbonatos; A.H. -<br />
Alcalinidade hidróxidos; Cl res. livre – Cloro residual livre; C.Termo. – Coliformes<br />
termotolerantes (NMP 100 mL-1); C. Totais – Coliformes totais (NMP 100 mL-1); C. E. -<br />
Condutividade elétrica; Mat. Org. – Matéria orgânica; N. amoniacal – Nitrogênio<br />
amoniacal; STD – Sólidos totais dissolvidos. Unidades em mg L-1, exceto para<br />
C.Termotolerantes e C. Totais.<br />
Quanto aos resultados para coliformes termotolerantes, as estações de<br />
amostragem de poços rasos (< 6 m) (P1, P2, P4, P5 e P6), enquadraram-se na<br />
Classe 4 (Figura 3), destacando que a resolução 396/2008 do CONAMA define que<br />
a ausência de coliformes é o limite para diferenciar a Classe 4 das outras. Da<br />
mesma forma, as estações de amostragem P3 e P9, de poços profundos (> 6 m),<br />
enquadraram-se na Classe 4.<br />
Figura 3. Avaliação da qualidade da água utilizando os valores médios (± desviopadrão)<br />
de coliformes termotolerantes, nos pontos de coleta em poços > 6 m e < 6 m,<br />
distribuídos ao longo da bacia hidrográfica do rio Pardo, RS, Brasil.<br />
Devido às atividades antrópicas comprometerem significativamente os<br />
aquíferos da região, apresenta-se a seguir as fontes potenciais de contaminação<br />
identificadas durante o desenvolvimento deste estudo:<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 39-48, 2010
46<br />
a) Perfuração de poços sem a elaboração de projetos construtivos, anotação<br />
de responsabilidade técnica e registro do poço junto aos órgãos competentes. A<br />
inadequada construção, sem vedação sanitária, de poços rasos (P1, P2, P4, P5 e<br />
P6) pode torná-los fontes pontuais de contaminação das águas subterrâneas pela<br />
conexão direta que eles proporcionam entre a superfície e as porções mais rasas<br />
do aquífero com as partes mais profundas.<br />
b) O uso de insumos agrícolas, como agrotóxicos e fertilizantes, tem grande<br />
potencial de contaminação difusa. Valores elevados desta variável foram<br />
observados nos meses de julho e agosto (P1, P4, P5, P6, P7 e P9), meses em que<br />
houve menor volume de chuvas.<br />
Na sua forma natural, as principais restrições ao consumo, identificadas<br />
neste estudo, foram:<br />
a) Problemas localizados de elevada dureza e/ou sólidos totais dissolvidos<br />
nas regiões de ocorrência de lentes de rochas calcárias, como, por exemplo, no<br />
ponto P5 localizado na Formação Santa Maria.<br />
b) Elevados valores de sólidos totais dissolvidos nas porções mais profundas<br />
dos aquíferos, especialmente nas partes confinadas das bacias sedimentares,<br />
como é o caso do P8, localizado em sistema de depósitos aluviais.<br />
c) Ocorrência natural nas rochas de minerais cuja dissolução, localmente,<br />
gera águas com concentrações acima do padrão de potabilidade. É o caso do<br />
ferro e do alumínio nos pontos P1, P2 e P4. Este fato também pode ocasionar um<br />
aumento na turbidez, visto que no caso do excesso de ferro pode produzir uma<br />
cor amarelada à água. Diversos estudos realizados no Estado do Rio Grande do<br />
Sul (LOBO et al., 2000; COSTA et al., 2004) têm mostrado elevados valores de<br />
íons fluoreto nas águas subterrâneas. Nesta pesquisa observou-se excesso desse<br />
mineral apenas no ponto denominado P8 (ponto amostrado apenas no mês de<br />
julho de 2009).<br />
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Os resultados deste estudo indicaram que a qualidade das águas dos poços<br />
com profundidade inferior a 6 metros apresentam-se, de fato, mais vulneráveis<br />
devido a alterações antrópicas, condição evidenciada a partir das variáveis<br />
coliformes totais, coliformes termotolerantes, nitrato e turbidez, cujas<br />
concentrações impossibilitam a utilização destas águas para usos preponderantes.<br />
As elevadas concentrações de turbidez ocorreram basicamente pelo excesso de<br />
chuvas ocorrido no período de setembro a dezembro de 2009, fator também<br />
significativo na alteração da variável nitrato, diminuindo sua concentração neste<br />
período por efeito da diluição. Entretanto, as elevadas concentrações de ferro e<br />
alumínio seriam características naturais de dissolução de rochas.
47<br />
Já a qualidade das águas de poços profundos depende basicamente de suas<br />
características hidrogeológicas e hidrogeoquímicas naturais, em função das<br />
variáveis salinidade, sódio e sulfato. Contudo, estas águas também apresentaram<br />
contaminação por atividades antrópicas, basicamente em função das elevadas<br />
concentrações de nitrato, nos meses de julho e agosto de 2009 nos pontos P1,<br />
P4, P5, P6, P7 e P9, e coliformes termotolerantes, P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P9.<br />
REFERÊNCIAS<br />
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. APHA. Standard Methods for the<br />
Examination of water and Wastewater. 21 ed. Washington. 2005.<br />
BORGHETTI, N. B.; BORGGHETTI, J. R.; ROSA FILHO, E. F. Aquífero Guarani: A<br />
Verdadeira Integração dos Países do Mercosul. Curitiba: Ed. Roberto Marinho,<br />
2004.<br />
BRASIL. Portaria nº 518, de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde. Diário<br />
Oficial, n. 59, de 26 de março de 2004.<br />
CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n° 396, de 3 de abril<br />
de 2008. Publicada no Diário Oficial da União nº 66, de 7 de abril de 2008.<br />
COSTA, A. B.; LOBO, E. A.; KIRST, A.; SOARES, J.; GOETTEMS, C. H. Estudo<br />
comparativo da concentração de flúor, pH e condutividade elétrica da água<br />
subterrânea dos municípios de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Vera Cruz, RS,<br />
Brasil. In: XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 2004,<br />
Cuiabá. Anais..., Cuiabá: ABAS, 2004, CD-ROM.<br />
COUTINHO, C. F. B., TANIMOTO, S. T., GALLI, A., GARBELLINI, G. S.,<br />
TAKAYAMA, M., AMARAL R. B., MAZO, L. H., AVACA, L. A., MACHADO, S. A. S.<br />
Pesticidas: Mecanismo de ação, degradação e toxidez. <strong>Revista</strong> Ecotoxicologia e<br />
Meio Ambiente, Curitiba, 5: 65-72. 2005.<br />
CPRM. Serviço Geológico do Brasil. Mapa Geológico do Rio Grande do Sul. Escala:<br />
1:750.000. 2008, CD-ROM.<br />
DANTAS, A. B.; PASCHOALATO, C. P. R.; BALLEJO, R. R.;DI BERNARDO, L. Préoxidação<br />
e adsorção em carvão ativado granular para remoção dos herbicidas<br />
Diuron e Hexazinona de água subterránea. Eng. Sanit. Ambient. [online]. v.14, n.<br />
3, p. 373- 380. 2009.<br />
FREITAS, A. L. S. Água Subterrânea na Legislação Brasileira de Recursos Hídricos.<br />
Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior. 75p. 1997.<br />
LOBO, E. A.; BEN DA COSTA, A.; KIRST, A. Qualidade das águas subterrâneas na<br />
Região do Vale do Rio Pardo e Rio Taquari, RS, Brasil. In: CONGRESSO MUNDIAL<br />
INTEGRADO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 1. 2000, Fortaleza. Anais..., Fortaleza:<br />
ABAS. CD-ROM. 2000.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 39-48, 2010
48<br />
RIO GRANDE DO SUL. Portaria nº 10, de 16 de agosto de 1999, da Secretaria<br />
Estadual da Saúde, do Estado do Rio Grande do Sul. Diário Oficial do Estado do<br />
Rio Grande do Sul, de 27 de agosto de 1999.<br />
SÃO PAULO. Decreto Estadual 12.486, de 20 de outubro de 1978. Norma Técnica<br />
Alimentar N. 60 (NTA-60). 1978.<br />
SPERLING, M. V. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos.<br />
Belo Horizonte: Editora,2005, p. 443.
BIORREMEDIAÇÃO IN SITU COM PERÓXIDOS SÓLIDOS E<br />
SURFACTANTE DE SOLOS CONTAMINADOS<br />
Tiago Bender Wermuth 1<br />
Diosnel Antonio Rodriguez Lopez 2<br />
RESUMO<br />
O presente trabalho objetiva avaliar o uso de peróxidos sólidos com a adição de sais<br />
de fosfato, nitrogênio e surfactante na biorremediação de solos contaminados por<br />
derivados de petróleo. Para isso, coletou-se uma amostra do solo contaminado<br />
durante os trabalhos de recuperação de uma área de um posto de gasolina. A<br />
mesma foi colocada em uma caixa de PVC, dividida em duas partes. Uma parte foi<br />
tratada por meio da adição de peróxido de cálcio, surfactante e superfosfato (fonte<br />
de nutrientes). Já a outra recebeu a aplicação de somente peróxido de cálcio e<br />
superfosfato. Os resultados do tratamento deste solo foram monitorados<br />
semanalmente por meio de medidas da umidade, pH e temperatura. A<br />
descontaminação do solo foi acompanhada pela análise dos compostos Benzeno,<br />
Tolueno, Etilbenzeno, Xileno, TPH-GRO (Gasoline Range Organics), TPH-ORO (Oil<br />
Range Organics) e TPH-DRO (Diesel Range Organics), segundo as normas USEPA<br />
8015D, USEPA 5021A, USEPA 8021B. Os valores mostram que o solo tratado com<br />
peróxido de cálcio, surfactante e superfosfato tiveram resultados semelhantes ao<br />
lado em que não continha o surfactante.<br />
Palavras-chave: Biorremediação. Peróxido de Cálcio. Surfactante. Superfosfato.<br />
ABSTRACT<br />
The present work aims to evaluate the use of solid calcium peroxides along with<br />
addiction of phosphate salts, nitrogen and surfactant on bioremediation of soils<br />
contaminated by petroleum derivates. It was collected a sample of contaminated soil,<br />
during the recovery work of a gas station area. It was located in a PVC box, divided<br />
in two parts. One part was treated with the addiction of calcium peroxide, surfactant<br />
and superphosphate (source of nutrients). The other received the application of<br />
calcium peroxide and superphosphate only. The results of the treatment of this soil<br />
were weekly monitored, through the humidity parameters values, the pH and<br />
1 Graduando em Engenharia Ambiental – UNISC, Bolsista PROBIC- FAPERGS; e-mail:<br />
tiago.haine@gmail.com.<br />
2 Doutor em Engenharia de Materiais, Metalurgia e Meio Ambiente-Berlim-Alemanha, Professor do<br />
Departamento de Engenharia, Arquitetura e Ciências Agrárias e do PPGTA, UNISC; e-mail:<br />
dlopez@unisc.br.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 49-57, 2010
50<br />
temperature follow up. The analysis of the Benzene, Toluene, Ethylbenzene,<br />
Xylene,TPH-GRO ( Gasoline Range Organics), TPH-ORO ( Oil Range Organics) and<br />
TPH-DRO ( Diesel Range Organics) compounds were performed at the Analytical<br />
Solutions Laboratory of the Veritas Bureau Group of São Paulo, SP, Br, according to<br />
the USEPA 8015D, USEPA 5021A, USEPA 8021B rules. The values shown that the soil<br />
treated with calcium peroxide, surfactant and superphosphate had similar reductions<br />
to the side without surfactant.<br />
Keywords: Bioremediation. Calcium Peroxide. Surfactant. Superphosphate.<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
Os crescentes problemas de contaminação de solo por hidrocarbonetos em<br />
postos de distribuição de combustíveis vêm sendo alvo de inúmeras pesquisas. Esse<br />
tipo de contaminação é muito preocupante uma vez que esses hidrocarbonetos<br />
podem se espalhar por grandes extensões, carregados pelas águas subterrâneas,<br />
comprometendo a qualidade desse recurso e a do solo. A aplicação de técnicas de<br />
biorremediação vem se destacando como uma das estratégias mais promissoras e<br />
eficazes ao tratamento de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo.<br />
Nesse sentido, o presente trabalho objetiva avaliar o uso de peróxidos sólidos<br />
de cálcio, juntamente com a adição de sais de fosfato, nitrogênio e surfactante, na<br />
biorremediação de solos contaminados por derivados de petróleo.<br />
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA<br />
A contaminação de solos por hidrocarbonetos derivados de petróleo vem se<br />
constituindo um desafio para profissionais que atuam na área de saneamento<br />
ambiental, uma vez que os fenômenos geoquímicos e bioquímicos são complexos e<br />
aqueles são catalisados a partir de sua inserção no subsolo.<br />
Quando os combustíveis atingem o solo, seus componentes separamse<br />
em três fases: dissolvida, líquida e gasosa. Uma pequena fração<br />
dos componentes da mistura se dissolve na água do lençol freático,<br />
uma segunda porção é retida nos espaços porosos do solo na sua<br />
forma líquida pura como saturação residual e outra parte dos<br />
contaminantes passíveis de evaporação dão origem à contaminação<br />
atmosférica (NADIM et al., 1999).<br />
Essa complexidade de contaminação também se deve a uma ampla utilização<br />
de diferentes composições de produtos com distintas propriedades, cuja principal<br />
característica é a baixa solubilidade e a pouca persistência do solo. Combustíveis<br />
como a gasolina e o óleo diesel têm na sua composição os hidrocarbonetos<br />
monoaromáticos, como o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, chamados<br />
coletivamente de compostos BTEX. Os mesmos são os constituintes que têm maior<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 49-57, 2010.
51<br />
solubilidade em água e, portanto, são os contaminantes com maior potencial de<br />
poluir o lençol freático.<br />
Nesse caso, a técnica da biorremediação passa a ser uma alternativa eficiente,<br />
pois baseia-se na utilização de micro-organismos para transformar os poluentes em<br />
substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade.<br />
Para Alexander (1999),<br />
a eficiência desta técnica consiste na capacidade dos degradadores<br />
microbianos inoculados ou endógenos permanecerem ativos no<br />
ambiente natural. Assim, aumentar a capacidade dos microorganismos<br />
degradadores inoculados por meio da bioaumentação ou<br />
promover a atividade dos micro-organismos degradadores endógenos<br />
por bioestimulação poderia melhorar esta eficiência.<br />
Na bioestimulação, o solo é alterado com nutrientes adicionados, contendo<br />
principalmente nitrogênio e fósforo ou fontes de biossurfactantes conhecidos por<br />
melhorar a biodisponibilidade dos TPH no local, assim, aumentando a eficiência de<br />
biorremediação.<br />
3 METODOLOGIA<br />
O solo contaminado por hidrocarbonetos utilizado na realização do presente<br />
trabalho foi coletado durante os trabalhos de recuperação de uma área de um posto<br />
de gasolina no município de Porto Alegre. O solo coletado foi acondicionado em uma<br />
caixa de PVC, a qual foi dividida em duas partes, de modo que os testes permitissem<br />
a comparação entre a eficiência dos processos utilizados. Na primeira parte,<br />
identificada como lado F, foram adicionadas soluções contendo surfactante CTBA<br />
(546 mgl-1, equivalente a 110% da sua Concentração Miscelar Crítica (CMC),<br />
soluções de peróxido de cálcio (10% vol/vol) e o superfosfato (5 gl-1). Já na<br />
segunda parte, identificada como lado T, utilizou-se somente peróxido de cálcio e<br />
superfosfato nas concentrações já citadas. A Figura 1 ilustra o sistema montado. O<br />
desenvolvimento dos micro-organismos nos solos foi monitorado através da<br />
contagem das Unidades Formadoras de Colônia (UFC), Bactérias e Fungos, realizada<br />
no Laboratório de Diagnóstico Fitossanitário e Consultoria de Porto Alegre/RS. A<br />
descontaminação do solo foi acompanhada pela análise dos compostos Benzeno,<br />
Tolueno, Etilbenzeno, Xileno, TPH-GRO (Gasoline Range Organics), TPH-ORO (Oil<br />
Range Organics) e TPH-DRO (Diesel Range Organics), segundo as normas USEPA<br />
8015D, USEPA 5021A, USEPA 8021B. Para essas análises, amostras de solo foram<br />
retiradas em intervalos de no mínimo 30 dias. A duração total dos ensaios foi de 250<br />
dias.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 49-57, 2010.
52<br />
Figura 1: Divisão do conteúdo da caixa.<br />
Fonte: Registro do autor, 2010.<br />
4 RESULTADOS<br />
O presente trabalho foi desenvolvido entre agosto de 2009 e julho de 2010,<br />
com temperatura média do solo de 17ºC. O pH médio foi monitorado nas duas<br />
partes do sistema, onde, no lado identificado como F, se teve 7,55 durante o período<br />
de tratamento de 250 dias. Já o pH médio encontrado na outra parte, identificada<br />
como lado T, foi de 7,8. Durante a realização dos ensaios, observou-se um aumento<br />
dos valores de pH, com a aplicação de peróxido de cálcio. O ajuste e a manutenção<br />
do pH durante o processo de biorremediação é de extrema importância, visto que a<br />
maioria dos micro-organismos desenvolvem-se melhor com pH 7,0. Hoffman & Viedt<br />
(1998) reportam que pHs na faixa de 5,5 - 8,5 são ideais para a biodegradação de<br />
TPH em solos.<br />
Os resultados da contagem das unidades formadoras de colônia (UFC) de<br />
bactérias e fungos, com a presença de surfactante, se encontram detalhados na<br />
Tabela 1.<br />
Tabela 1: Resultados da quantidade de bactérias e fungos presente no solo<br />
com a presença de surfactante.<br />
Amostra de solo<br />
Contaminado<br />
UFCg -1<br />
de Bactérias<br />
UFCg -1<br />
de Fungos<br />
Bruto 1 x 10 7
53<br />
quais utilizam o oxigênio dissolvido dos peróxidos sólidos e os nutrientes, assim<br />
como os hidrocarbonetos como fonte de carbono, refletindo-se em um aumento da<br />
população microbiológica. A redução do número de bactérias presentes no solo pode<br />
estar associada a uma redução de substrato disponível para o desenvolvimento dos<br />
mesmos, uma vez que a adição de nutrientes e de peróxido continuou nesse período.<br />
Além das bactérias, os fungos desenvolveram um importante papel na<br />
degradação dos hidrocarbonetos presentes no solo. Em relação à contagem das UFC<br />
dos fungos, realizada na amostra bruta do solo estudado, notou-se que a mesma<br />
apresenta um número inicial baixo. Após a aplicação das soluções verificou-se um<br />
aumento significativo de fungos presentes no solo (
54<br />
Resolução nº 420/2009, do CONAMA, que estabelece critérios e valores para a<br />
qualidade do solo.<br />
Em relação à degradação dos TPHs, os resultados são expressos na Figura 3.<br />
3000<br />
Concentrações (mg.kg -1 )<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
0 30 60 160 250<br />
TPH -DRO (mg/kg)<br />
TPH-GRO (mg/kg)<br />
TPH-ORO (mg/kg)<br />
TPH-Total (mg/kg)<br />
Tempo (Dias)<br />
Figura 3: Resultados dos TPHs no solo contaminado utilizando surfactante.<br />
Os resultados apresentados acima mostram uma redução na concentração dos<br />
compostos TPH – DRO, ORO e Total. De acordo com os valores obtidos, a remoção<br />
do TPH – GRO foi mais eficiente se comparada aos demais compostos, em função de<br />
o mesmo apresentar uma maior solubilidade em água.<br />
Em relação aos 60 dias de amostragem, observou-se um aumento nas<br />
concentrações dos compostos, o qual também poderia estar associado à<br />
heterogeneidade do solo. Ao final do monitoramento, as taxas de degradação dos<br />
TPH GRO e DRO foram de 86,16% e 27% respectivamente. Da figura, também pode<br />
ser observado que o TPH-ORO não apresentou redução. Isso pode estar associado<br />
ao tamanho desses compostos, que se constitui de moléculas grandes, dificultando a<br />
sua degradação. A partir desses valores, pode-se ressaltar que a degradação do TPH<br />
– GRO foi mais rápida se comparada aos demais compostos, uma vez que estaria<br />
associada ao baixo peso molecular que o TPH – GRO apresenta, o que o torna mais<br />
favorável à biodegradação.<br />
Os resultados da contagem das Unidades Formadoras de Colônias (UFC) de<br />
bactérias e fungos para os 220 dias monitorados no solo sem adição de surfactante<br />
estão apresentados na Tabela 2.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 49-57, 2010.
55<br />
Tabela 2: Resultados da quantidade de bactérias e fungos presentes no solo<br />
sem a presença de surfactante.<br />
Amostra de solo<br />
Contaminado<br />
UFCg -1<br />
De Bactérias<br />
UFCg -1<br />
de Fungos<br />
Bruto 1 x 10 7 < 5000<br />
Após 30 dias 1 x 10 8 3 x 10 10<br />
Após 60 dias 2 x 10 7 1 x 10 10<br />
Após 160 dias 1 x 10 5 Não realizado<br />
Após 220 dias 2 x 10 7 5 x 10 2<br />
Com relação ao desenvolvimento das bactérias, as análises realizadas no solo<br />
demonstraram variações ao longo do período de monitoramento. A população de<br />
bactérias apresentou um aumento após 30 dias de testes, após o qual mostra uma<br />
pequena redução, porém se mantendo constante até o final do teste. Comparado<br />
com os resultados obtidos no solo com adição de surfactante, a população de<br />
bactérias desse solo se mostrou mais elevada, o que poderia indicar que o<br />
surfactante possui efeitos negativos sobre a população de bactérias. Assim, como já<br />
tinha sido descrita anteriormente, a redução no número de micro-organismos pode<br />
estar associada a uma redução no substrato disponível no solo, uma vez que a<br />
adição de peróxido de cálcio juntamente com o superfosfato continuou nesse<br />
período.<br />
Com relação à contagem das UFC dos fungos, verifica-se que após 30 dias de<br />
aplicação da solução houve um aumento significativo na população desses microorganismos<br />
presentes no solo. Após 160 dias de testes, a população de fungos<br />
mostrou uma redução importante, a qual estaria associada à redução dos compostos<br />
mais facilmente degradados por esses micro-organismos presentes no solo.<br />
Em relação aos compostos BTEX presentes no solo, os resultados são<br />
apresentados na Figura 4.<br />
1<br />
Concentrações (mg.kg -1 )<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
Benzeno<br />
Tolueno<br />
Etilbenzeno<br />
Xileno<br />
0<br />
0 30 60 160 250<br />
Tempo (Dias)<br />
Figura 4: Resultados BTEX do solo contaminado sem surfactante<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 49-57, 2010.
56<br />
Na amostra enviada para análise após os 30 dias de tratamento sem a presença<br />
de surfactante, foi observado um aumento na concentração de alguns compostos<br />
que compõem o BTEX, como o benzeno, tolueno e o etilbenzeno. O xileno foi o único<br />
composto que apresentou uma redução nesse intervalo de tempo. Em relação à<br />
amostra enviada após os 160 dias de monitoramento, observou-se uma redução<br />
significativa na concentração dos compostos BTEX. A taxa de remoção foi de 80,8%<br />
para o benzeno, 100% para o tolueno, 12,83% para o etilbenzeno e 30,7% para os<br />
xilenos.<br />
Ao final do período de monitoramento, observou-se reduções importantes<br />
desses compostos, ficando as mesmas na ordem de 100%, 100%, 93,58% e 93,52%<br />
para o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, respectivamente. Esses compostos<br />
apresentaram comportamento semelhante nos ensaios sem uso de surfactante.<br />
Em relação à redução da concentração dos TPHs (DRO – GRO e ORO), os<br />
resultados se encontram detalhados na Figura 5.<br />
3000<br />
Concentrações (mg.kg -1 )<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
TPH-DRO (mg/kg)<br />
TPH-GRO (mg/kg)<br />
TPH-ORO (mg/kg)<br />
TPH-Total (mg/kg)<br />
0<br />
0 30 60 160 250<br />
Tempo (Dias)<br />
Figura 5: Resultados dos TPHs no solo contaminado sem surfactante.<br />
No intervalo de 0 - 160 dias de testes, não foi observada redução da<br />
concentração desses compostos. Após 250 dias de testes, o TPH – GRO apresentou<br />
uma taxa de remoção de 91%, o que poderia estar associada à biodegradabilidade<br />
desses compostos em função do tamanho de suas moléculas. Nesse período de<br />
testes, os compostos do TPH-DRO e Total também mostraram reduções de 32 e<br />
23%, respectivamente. Quanto aos compostos do TPH – DRO e ORO, os mesmos<br />
apresentaram uma redução importante de suas concentrações, fato esse de grande<br />
importância visto que os mesmos têm por característica possuir grandes cadeias<br />
moleculares, dificultando, assim, a degradação desses compostos por parte dos<br />
micro-organismos.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 49-57, 2010.
57<br />
5 CONCLUSÃO<br />
A partir dos resultados obtidos ao longo do período de tratamento, observou-se<br />
que o lado no qual se tinha adicionado o peróxido de cálcio com o surfactante e<br />
nutrientes ocorreram reduções semelhantes dos compostos BTEX e TPHs no solo no<br />
qual não se fez o uso de um composto para liberar o contaminante do solo. Nos dois<br />
sistemas pesquisados, os valores de BTEX foram reduzidos abaixo dos padrões<br />
recomendados pela normativa do CONAMA 420/2009 para solos contaminados.<br />
Em relação aos compostos do TPH, para ambas as partes do sistema analisado,<br />
observou-se que, primeiramente, foram consumidos aqueles compostos que<br />
apresentaram cadeias menores de carbono (TPH-GRO), e, posteriormente, os<br />
compostos TPH-DRO e o TPH-ORO apresentaram uma menor taxa de degradação<br />
em função das suas maiores cadeias de carbono.<br />
O oxigênio liberado associado aos nutrientes aplicados no solo gerou, ao longo<br />
do trabalho de pesquisa, oscilações na quantidade de micro-organismos, tanto<br />
fungos como bactérias.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ALEXANDER, M. In: Biodegradation and Bioremediation. 2nd ed., San Diego, U.S.A.,<br />
AcademicPress, 1999, p. 453<br />
CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, Resolução nº 420, de 28 de<br />
Dezembro de 2009 – Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do<br />
solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o<br />
gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em<br />
decorrência de atividades antrópicas.<br />
HOFFMANN, J.; VIEDT, H. Biologische Bodenreinigung Leitfaden für die Praxis.<br />
Berlin: Springer, 1998.<br />
NADIM, F.; HOAG, G. E.; LIU, S.; CARLEY, R. J.; ZACK, P. Detection and remediation<br />
of soil and aquifer systems contaminated with petroleum products: an overview. J. of<br />
Petrol Sci. and Eng., v.26, p.169-178, 1999.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 49-57, 2010.
EPOXIDAÇÃO QUIMIO-ENZIMÁTICA DE ÓLEO DE GIRASSOL<br />
E CANOLA BRUTOS VISANDO O EMPREGO EM PROCESSOS<br />
DE USINAGEM<br />
RESUMO<br />
Manuella Schneider 1 ,<br />
Rosana de Cassia de Souza Schneider 1-2 ,<br />
André Luiz Klafke 2 ,<br />
Wolmar Alípio Severo Filho 1<br />
Os processos de transformação em oleoquímica utilizando biocatalisadores<br />
são alternativas para utilização de metodologias mais limpas e para a realização<br />
de conversões mais seletivas. Neste trabalho investigou-se a produção de<br />
ésteres metílicos epoxidados provenientes dos óleos de girassol e canola<br />
visando a sua utilização na formulação de fluidos utilizados em usinagem. O<br />
sistema catalítico quimio-enzimático de epoxidação foi mediado pela lipase de<br />
Candida antarctica B (CALB -1000 u/g) e peróxido de hidrogênio 30% (v/v). Os<br />
resultados obtidos a partir das análises de RMN 1 H, CG-EM e Índice de iodo<br />
mostraram que a conversão chegou à >99% após 24 h de reação utilizando<br />
ésteres metílicos dos óleos brutos. Os produtos obtidos a partir do óleo de<br />
canola e de girassol brutos apresentam-se em condições de testagem em<br />
formulações para usinagem.<br />
Palavras-chave: Epóxidos. Biocatálise. Girassol. Canola.<br />
ABSTRACT<br />
The oleochemical transformation processes using biocatalysts are<br />
alternatives to the use of cleaner methodologies and for performing more<br />
selective conversions. In this study we investigated the production of<br />
epoxidized methyl esters from sunflower and canola oils for their application in<br />
the formulation of fluids used in machining. The catalytic system of chemoenzymatic<br />
epoxidation was mediated by lipase from Candida antarctica B (CALB<br />
-1000 u / g) and hydrogen peroxide 30% (v / v). The results obtained from the<br />
analysis of NMR 1 H, GC-MS and iodine value showed that the conversion<br />
reached > 99% after 24 h of reaction using methyl esters of crude oils. The<br />
<br />
1<br />
2<br />
Departamento de Química e Física – Universidade de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil,<br />
manuellasch@hotmail.com<br />
Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental – Universidade de Santa Cruz do Sul,<br />
RS, Brasil.<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
59<br />
products obtained from canola and sunflower crude oil present testing<br />
conditions in the machining formulation.<br />
Keywords: Epoxides. Biocatalysis. Sunflower. Canola.<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
As preocupações com o meio ambiente e a crescente poluição fazem com<br />
que estudos de novos processos tenham uma atenção maior visando a<br />
utilização de tecnologias mais limpas. Uma importante alternativa para<br />
obtenção de vários produtos, diminuindo o impacto ambiental são os processos<br />
biocatalíticos, particularmente o uso de enzimas.<br />
As enzimas são geralmente protéicas e a maioria produzida pela<br />
fermentação em um material de base biológica. (LOUWRIER, 1998) Milhares<br />
de enzimas que possuem substratos específicos são conhecidas, porém,<br />
somente uma pequena quantidade tem sido isolada na forma pura, assim como<br />
há pouco conhecimento de sua estrutura e função. (HASAN, 2005)<br />
Os benefícios oferecidos pelas enzimas são especificidade, condições<br />
suaves e redução de perdas. Pode ser possível, escolhendo a enzima correta,<br />
controlar quais substâncias produzir. Dessa forma, a planta industrial concebida<br />
para realizar reações quimio-enzimáticas pode ser construída e operada com<br />
menor investimento e menos custo com energia e tratamento de resíduos.<br />
(HASAN, 2005)<br />
Em 1856, Claude Bernard descobriu lipases no suco pancreático, mas elas<br />
somente foram usadas de forma isoladas em processos industriais em 1908,<br />
por Rohm em tratamentos de couro e em 1911, por Wallterstein na produção<br />
de cerveja. (HASAN, 2005; CHEETAM, 1995)<br />
Conforme as regras oficiais de classificação, as enzimas são divididas em<br />
seis grupos de acordo com tipo de reação que catalisam. As lipases constituem<br />
um importante e valorizado grupo, principalmente por causa de sua<br />
versatilidade e fácil produção em massa. (HASAN, 2005).<br />
O uso desse grupo de enzimas como biocatalisadores vem sendo<br />
explorado recentemente, potencialmente aplicado em indústrias de alimentos,<br />
detergentes, farmacêuticos, couros, têxteis, cosméticos e papéis, entre outros.<br />
Dessa forma, há grandes expectativas de que nos próximos anos os químicos<br />
continuarão a se beneficiar dessa versatilidade. (BJÖRKLING et al., 1992 ;<br />
LARA, 2006)<br />
As lipases (triglicerol acil-hidrolases, EC 3.1.1.3) são parte da família das<br />
hidrolases que atuam sobre ligações de éster carboxílico. Elas catalisam a<br />
hidrólise total ou parcial de triacilglicerol fornecendo diacilgliceróis e<br />
monoacilgliceróis, bem como glicerol e ácidos graxos livres. (HASAN, 2005;<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
60<br />
<br />
CARVALHO, 2002; NETO, 2002) Devido ao baixo teor de água utilizado nessas<br />
reações, esterificação e transesterificação também podem ser realizadas.(SALIS<br />
et al., 2005)<br />
O comportamento regio-, quimio- e enantiosseletivo tem provocado<br />
grande interesse em pesquisadores e segmentos industriais. A<br />
regiosseletividade possibilita a distinção entre outros grupos funcionais somente<br />
com a mudança do meio reacional; a quimiosseletividade determina a atuação<br />
em somente um tipo de grupo funcional mesmo em presença de outros grupos<br />
reativos; também são enantiosseletivas, com a atuação na catálise quiral e a<br />
especifidade pode ser explorada para sínteses seletivas assimétricas.(LARA,<br />
2006; SAXENA; DAVIDSON, 2003)<br />
A área de biocatálise emergiu como uma ferramenta poderosa para a<br />
chamada química verde, o qual leva as indústrias a se comprometerem com o<br />
controle ambiental.( CONTI; MORAN, 2001) Entre as potencialidades de uso das<br />
lipases como biocatalisadoras estão as transformações oleoquímicas. Entre as<br />
aplicações na oleoquímica, a mais importante é a produção de ácidos graxos a<br />
partir de óleos, os quais são importantes intermediários em reações dessa<br />
indústria. (AL-ZUHAIR et al., 2004)<br />
Algumas gorduras são muito mais valorizadas que outras devido a sua<br />
estrutura e os óleos podem ser convertidos em espécies mais úteis, por<br />
exemplo, a produção de manteiga de cacau a partir do fracionamento do óleo<br />
de palma ( AU-KBC, 2011).<br />
A estrutura de triacilgliceróis dos óleos vegetais proporciona qualidades<br />
desejáveis em um lubrificante. Longas cadeias de ácidos graxos fornecem alta<br />
resistência em um filme lubrificante, no qual ocorre uma intensa interação com<br />
superfícies metálicas, reduzindo o atrito e desgaste. Uma preocupação é a<br />
suscetibilidade de ocorrer hidrólise e oxidação do óleo, sendo assim, quantidade<br />
excessiva de água, aquecimento e contato com o ar devem ser evitados, para<br />
reduzir a formação de derivados indesejáveis. ( ERHAN, 2006)<br />
Em busca de solucionar essa deficiência, os epóxidos despertam grande<br />
interesse aos químicos por serem importantes intermediários na obtenção de<br />
diversos compostos. Esta versatilidade está associada à eliminação da ligação<br />
dupla do ácido graxo com a inserção de um oxigênio, formando um anel<br />
oxirano.(CASTANHEIRA et al., 2011)<br />
O método tradicional de epoxidação deve ser conduzido sobre uma<br />
condição ótima de operação se o desejo é atingir a seletividade, além disso, são<br />
realizadas com ácidos peroxicarboxílicos, como ácido peracético, ácido<br />
perfórmico e ácido perbenzóico. Estas metodologias apresentam perigo de<br />
manuseio em escala industrial, além do alto impacto ambiental devido ao<br />
descarte de efluentes do processo. (ARAMENDÍA et al., 2008; NUNES et al.,<br />
2008)<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
61<br />
No método químio-enzimático, certos perácidos oxidam a dupla ligação<br />
C=C, quebrando a ligação π, formando os ácidos percaboxílicos insaturados.<br />
Estes são apenas intermediários da reação e se auto epoxidam em bons<br />
rendimentos sem reações consecutivas.(LARA, 2006; WARWEL; KLAAS, 1995)<br />
Na última década, a indústria vem tentando formular lubrificantes<br />
biodegradáveis com características superiores dos usuais baseados em óleo<br />
mineral. Dessa forma, além da catálise natural, os óleos vegetais são<br />
promissores candidatos como fluido de base em lubrificantes a fim de atingir a<br />
sustentabilidade ambiental. (EHRAN; ASADAUSKAS, 2000)<br />
Alternativas pesquisadas incluem lubrificantes sintéticos, sólidos e de<br />
origem vegetal. Devido ao potencial do óleo vegetal, há a possibilidade de<br />
serem produzidos novos produtos que mantenham propriedades semelhantes<br />
as dos produtos totalmente sintéticos e derivados de matrizes de origem fóssil.<br />
Entre estes produtos estão o éster metílico epoxidado e o biodiesel, que<br />
podem ser obtidos de diferentes óleos vegetais, os quais são de fonte renovável<br />
e contribuem para a captura de carbono da atmosfera. Se os óleos vegetais são<br />
submetidos a modificações químicas em sua estrutura, passam a ser uma<br />
alternativa mais viável de uso. (CAMPANELLA et al., 2010)<br />
Os derivados dos óleos vegetais, funcionalizados ou não, podem ser<br />
utilizados em misturas que compõem fluidos utilizados em atividades de<br />
usinagem. Os fluidos de corte foram empregados para melhorar o desempenho<br />
dos processos de usinagem e ganharam tal importância, sendo essenciais para<br />
a obtenção da qualidade exigida nas peças produzidas. Os fluidos introduzem<br />
uma série de melhorias funcionais e econômicas no processo de usinagem de<br />
metais. Principalmente, redução do coeficiente de atrito, refrigeração e<br />
impedimento da corrosão da peça usinada. (ZEILMANN, 2011)<br />
Entretanto, com uma composição química complexa, os fluidos de corte<br />
tiveram um aumento proporcional de riscos ambientais e ocupacionais.<br />
Bactérias e fungos presentes podem, inclusive, gerar toxinas. (ZEMAN et al.,<br />
1995) Portanto, a utilização de fluidos de corte no processo de usinagem faz da<br />
indústria metal-mecânica uma potencial agressora do meio<br />
ambiente.(OLIVEIRA; ALVES, 2007)<br />
Com base nisso, este trabalho tem como objetivos a produção de éster<br />
metílico epoxidado visando a sua inserção na formulação de fluidos de corte em<br />
operações de usinagem e desta forma contribuir para aumentar a composição<br />
renovável destes fluidos e aproveitar a capacidade produtiva local, utilizando<br />
óleo de girassol e de canola brutos, que possam ser produzidos por agricultores<br />
familiares.<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
62<br />
<br />
2 METODOLOGIA<br />
2.1 Produção de ésteres metílicos dos óleos de canola e girassol<br />
<br />
Os ésteres metílicos, material de partida para as reações de epoxidação<br />
quimioenzimática foram produzidos previamente pela transesterificação do óleo<br />
de girassol e canola na planta piloto de produção de biodiesel da UNISC.<br />
(PORTE et al., 2010)<br />
2.2 Procedimento de epoxidação químioenzimática<br />
<br />
O procedimento foi realizado em sextuplicata com o éster metílico dos<br />
óleos de girassol e de canola. Para a reação, em um erlenmeyer com<br />
capacidade de 500 mL foram adicionados 100 g de biodiesel, 200 mL de<br />
diclorometano (DCM), 200 mL de água deionizada, 100 mL de peróxido de<br />
hidrogênio 30% e 10 g de lipase Novozyme M435®. Em seguida, a amostra foi<br />
colocada no Shaker para agitação orbital M42 da marca Marconi por 24 h a 30º<br />
C. Após essa duração, a enzima foi filtrada com lã de vidro em um funil simples<br />
e recolhida em um funil de separação, a fim de separar a fase contendo o<br />
produto de reação e solvente orgânico, da fase aquosa. Para retirar o<br />
diclorometano desta fase, a amostra foi rota evaporada, restando somente o<br />
óleo epoxidado.<br />
2.3 Teste do índice de Iodo<br />
Pesou-se cerca de 0,2 g da amostra, em um erlenmeyer de 250 mL, o<br />
qual se adicionou 15 mL da solução de ácido acético/cicloexano 1:1.<br />
Posteriormente, pipetou-se 25 mL da solução de WIJS no frasco contendo a<br />
amostra e fechou-se o erlenmeyer em imediato. Deixou-se o erlenmeyer no<br />
escuro por 1 h. Em seguida, adicionou-se 20 mL da solução de iodeto de<br />
potássio a 10% e 100 mL de água deionizada. Titulou-se com tiossulfato de<br />
sódio 0,1 mol L-1, gotejando até o aparecimento de cor laranja. Então,<br />
adicionou-se 2 mL de solução de amido 1% e continuou-se a titulação até o<br />
desaparecimento da cor azulada. Preparou-se a determinação em branco para<br />
cada grupo de amostras. Os valores gastos na titulação da amostra e do branco<br />
foram devidamente anotados e utilizados no cálculo. O índice de iodo foi<br />
expresso em gramas de iodo absorvido em 100 g de amostra.<br />
2.4 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1 H<br />
Os espectros de RMN 1H foram obtidos nos espectrômetros Bruker AC 200<br />
MHz, Varian XL-200 e DBX 200 MHZ. As amostras foram preparadas em CDCl3,<br />
utilizando-se como referência o tretrametilsilano (TMS).<br />
A conversão das duplas ligações em respectivos oxiranos foi reconhecida<br />
por RMN 1H utilizando a equação da Figura 1. A é o valor da integral da área<br />
do singleto dos hidrogênios ligados aos carbonos da dupla ligação (hidrogênios<br />
em azul, 5,40 ppm) e B é o valor da integral da área do singleto dos<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
63<br />
hidrogênios ligados aos carbonos do anel oxirano (hidrogênios em 3,10 ppm e<br />
2,90 ppm).<br />
B<br />
Conversão (%) = 100<br />
A + B<br />
H<br />
H<br />
R´ R´´<br />
<br />
H O H<br />
R´ R´´<br />
<br />
<br />
.<br />
Figura 1. Espectro de RMN 1 H de óleo de mamona epoxidado.<br />
<br />
<br />
2.5 Cromatografia Gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM)<br />
A análise por CG-EM foi realizada em um equipamento Shimadzu QP 2010<br />
plus com coluna RTz 5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm). Para a identificação<br />
dos componentes da amostra foi realizada a análise por similaridade com os<br />
espectros da biblioteca Wiley 229.<br />
2.6 Testes preliminares de emulsão para uso em fluidos de corte<br />
Para testar os epoxidos quanto a possibilidade de formação de emulsões,<br />
foi realizado um teste em laboratório que consistiu em adição de 20ml água<br />
destilada, 10% oleo epoxidado e concentrações variáveis de twen 80 (1%, 25,<br />
4%, 6%). As misturas foram colocadas em shaker com agitação orbital.<br />
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO<br />
<br />
Para o aumento de escala nas reações de epoxidação químio-enzimática<br />
foram realizados experimentos em triplicata para as reações de epoxidação<br />
químio-enzimática. A Figura 2, mostra o espectro do produto da reação<br />
partindo de 100 g de óleo, onde foi possível observar a inexistência de sinais na<br />
região de 5,30 ppm, característica dos hidrogênios vinílicos das duplas ligações<br />
e a presença de sinais na região de 2,90 à 3,10 ppm, característico dos<br />
hidrogênios metínicos do grupamento oxirânico do epóxidos, indicando que a<br />
reação de epoxidação se completou mesmo com um aumento de escala, uma<br />
vez que anteriormente havia sido realizado com massas de até 5 g.<br />
A reprodução deste resultado com diferentes óleos e com usos repetidos<br />
da enzima é importante uma vez que, o emprego dos óleos pode ser conforme<br />
a oferta em períodos de safra agrícola. Com base nisso os resultados<br />
encontrados para a conversão dos óleos de girassol e canola estão<br />
apresentados na Tabela 1. Estes resultados são obtidos com os óleos brutos<br />
extraídos de sementes produzidas na região do Vale do Rio Pardo –RS.<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
64<br />
<br />
Neste teste preliminar de reutilização de enzima observa-se que há uma<br />
variação nos valores encontrados, no entanto, estes valores estão mais<br />
relacionados ao sistema de agitação do que a desnaturação da enzima, uma<br />
vez que, com óleo de girassol refinado já havíamos realizado um reuso de 10<br />
vezes da mesma enzima, com a mesma metodologia.<br />
2<br />
O<br />
H 3 C O<br />
6 5 O 3 O 5 8<br />
CH 3<br />
4 4 1 1 1 1 3<br />
7 7<br />
<br />
R 1<br />
O<br />
R 2<br />
H H<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Figura 2. RMN 1 H EMG epoxidado com 24h de reação em Shaker orbital.<br />
Tabela 1. Conversão dos ésteres metílicos em ésteres metílicos<br />
epoxidados.<br />
Óleos vegetais<br />
Conversão (%)<br />
Enzima nova Reutilização da enzima<br />
Girassol 1 100,0 99,4<br />
Girassol 2 100,0 92,7<br />
Girassol 3 39,9 85,0<br />
Canola 1 76,0 96,0<br />
Canola 2 62,3 -<br />
Assim, é de conhecimento que a utilização de CH 2 Cl 2 /H 2 O na epoxidação<br />
químio-enzimática com CALB, possa ser uma alternativa para redução da<br />
desnaturação desta lipase, pois acredita-se que a CALB fique dissolvida na fase<br />
aquosa diminuindo o contato com o solvente orgânico.<br />
Os resultados encontrados na conversão dos óleos de canola e de girassol<br />
brutos em ésteres metílicos epoxidados podem ser observados nos espectros de<br />
RMN 1 H da Figura 3. Nestes espectros se observam os sinais relativos à<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
65<br />
presença de grupos oxiranos presentes na cadeia carbônica dos produtos<br />
obtidos.<br />
Dentre os produtos analisados por RMN 1 H foi possível constatar que, a<br />
partir do método de epoxidação químio-enzimático, obteve-se maior<br />
seletividade para a produção de epóxido, não sendo observado a abertura do<br />
anel oxirano. No sistema, os ésteres sofreram reação de peridrólise, formando<br />
perácidos e oxidando a mólecula de éster no meio reacional. Estes resultados<br />
foram confirmados por CG-EM, sendo que os produtos de epoxidação dos<br />
principais ésteres metílicos, provenientes do ácido oléico e linoléico, presentes<br />
nos dois óleos, foram observados em tempos de retenção de 24 a 30 min<br />
(Figura 4).<br />
<br />
<br />
Figura 3. Espectros de RMN 1 H dos produtos epoxidados dos ésteres metílicos<br />
de canola (a) e girassol (b) brutos.<br />
De acordo com os principais produtos identificados por CG-EM, é viável a<br />
produção de epóxidos a partir dos ésteres metílicos dos óleos de girassol e<br />
canola, considerando que eles apresentam um alto índice de acidez (acima de<br />
5%) levando a formação dos principais ésteres epoxidados apresentados na<br />
Figura 4.<br />
Figura 4. Cromatogramas dos ésteres metílicos do óleo de canola (EMC), de<br />
canola epoxidado (EMCE), de girassol (EMG) e de girassol epoxidado (EMGE).<br />
<br />
Nos testes preliminares para preparação de emulsões necessárias na<br />
formulação dos fluidos para usinagem foi observado que após a formação da<br />
emulsão, o epóxido, apesar de ser de baixa polaridade permaneceu<br />
emulsionado em água como mostra a Figura 5. Este resultado foi observado<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
66<br />
<br />
para os ésteres metílicos epoxidados dos óleos de girassol e canola e indicam<br />
uma potencialidade de uso destas matérias-primas para a formulação dos<br />
fluidos de corte.<br />
Figura 5. Emulsões com ester metílico de óleo de canola epoxidado.<br />
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
<br />
Os óleos de canola e girassol foram transesterificados e epoxidados com<br />
sucesso, mesmo com o emprego de óleos brutos, o que dificultaria a aplicação<br />
em formulações comerciais se a conversão fosse parcial. As ligações duplas<br />
foram totalmente convertidas e não houve abertura dos anéis oxiranos durante<br />
a epoxidação. Desta forma os produtos obtidos, tanto a partir do óleo de canola<br />
como de girassol, apresentam potencialidade para uso em formulações de<br />
fluidos de corte. Destaca-se também que, além do método utilizado com os<br />
óleos brutos ser viável para a obtenção de ésteres epoxidados, não há<br />
necessidade de purificação do óleo antes da conversão, uma vez que a acidez<br />
do óleo é desejada para que as reações de epoxidação quimio-enzimáticas<br />
aconteçam. Por outro lado, os produtos epoxidados obtidos de diferentes óleos<br />
apresentam grau de epoxidação conforme o número de insaturação original, o<br />
que deverá ser avaliado nos futuros experimentos em formulações insdustriais,<br />
uma vez que é importante a possibilidade de uso de diferentes óleos,<br />
incentivando a diversificação.<br />
AGRADECIMENTOS<br />
PUICvol-UNISC, FAP-UNISC, FAPERGS, CNPq, SCT-RS e Pólo de<br />
Modernização Tecnológica do Vale do Rio Pardo.<br />
REFERÊNCIAS<br />
AL- ZUHAIR, S.; RAMACHANDRAN, K. B.; HASAN, M. High enzyme<br />
concentration model for the kinetics of hydrolysis of oils by lipase. Chemical<br />
Engineering Journal. v.103, n. 1-3, p. 7-11, 2004.<br />
ARAMENDÍA, M.A, BORAU, V., JIMÉMEZ, C., LUQUE, J. M., MARINAS, J. M.,<br />
RUIZ, J. R., URBANO, F. J. Epoxidation of limonene over hydrotalcite-like<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
67<br />
compounds with hydrogen peroxide in the presence of nitriles. Applied catalysis<br />
A: general. v. 216, n. 1-2, p. 257-265, 2001<br />
AU-KBC Research centre. Applications of lipases. Disponível em:<br />
. Acesso em 10 jan. 2011.<br />
BJÖRKLING, F; FRYKMAN, H.; GODTFREDSEN, S. E.; KIRK, O. Lipase catalyzed<br />
synthesis of peroxycarboxylic acid and lípase mediated oxidations. Tetrahedron,<br />
v. 48, n. 22, p. 4587-4592. 1992.<br />
CAMPANELLA, A. et al. Lubricants from chemically modified vegetable oils.<br />
Bioresource Technology v. 101, n. 1, p. 245-254, 2010.<br />
CARVALHO, P. O. et al. Aplicação de lipases microbianas na obtenção de<br />
concentrados de ácidos graxos poliinsaturados. Química Nova, v. 26, n. 1, p.75-<br />
80, 2003.<br />
CASTANHEIRA, B., AFFONSO, M., SANTO, R. D. E. Epoxidação dos ésteres<br />
insaturados do óleo de soja seguida da fixação de CO 2 para preparação de<br />
carbonatos e policarbonatos orgânicos. Disponível em: . Acesso em: 10 jan. 2011.<br />
CHEETAM, P. S. J. Principles of industrial biocatalysis and bioprocessing.<br />
In:Wiseman A, editor. Handbook of enzyme biotechnology. Ellis Horwood,<br />
1995. p. 83-234<br />
CONTI, R.; RODRIGUES, J. A. R.; MORAN, P. J. S. Biocatálise: avanços<br />
recentes. Química Nova, v. 24, n. 5, p.672-675, 2001.<br />
EHRAN, S. Z., ASADAUSKAS, S. Lubrificant basestocks from vegetable oil.<br />
Industrial crops and products. v. 11, n. 2-3, p. 277-282, 2000.<br />
ERHAN, S. Z.; SHARMA, B. K..; PEREZ, J. M. Oxidation and low temperature<br />
stability of vegetable oil-based lubricants. Industrial Crops and Products, v. 24,<br />
n. 7, p. 292-299, 2006.<br />
HASAN, F.; SHAH, A. A.; HAMEED, A. Industrial applications of microbial<br />
lipases. Enzyme and Microbial Technology, v. 31, n. 2, p. 235-251, 2005.<br />
LARA, L. R. S. Síntese químio- enzimática de ésteres metílicos epoxidados a<br />
partir do óleo de girassol utilizando lipase de Candida antarctica B em sistemas<br />
com CH 2 Cl 2 /H 2 O e CH 2 Cl 2 , Trabalho de conclusão apresentado ao Curso de<br />
Química Industrial da Universidade de Santa Cruz do Sul, 2006.<br />
LOUWRIER, A. Industrial products: the return to carbohydrate-based industries.<br />
Biotechnol Appl Biochem, v.27, n. 1, p. 1-8, 1998.<br />
NETO, Pedro R. C. Obtenção de ésteres alquílicos (Biodiesel) por via enzimática<br />
a partir do óleo de soja. Dissertação de Mestrado-Curso de Mestrado- Curso de<br />
Pós-Graduação em Química. UFSC, 2002.<br />
NUNES, M. R. S., MARTINELLI, M., PEDROSO, M. M. Epoxidação do óleo de<br />
mamona e derivados empregando o sistema catalítico VO (ACAC) 2 /TBHP.<br />
Química Nova, v. 31, n. 4, 2008.<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
68<br />
<br />
OLIVEIRA, J. F. G.; ALVES, S. M. Adequação ambiental dos processos de<br />
usinagem utilizando Produção mais Limpa como estratégia de gestão ambiental.<br />
Jornal Produção, v. 17, n. 1, p. 129-138, 2007.<br />
PORTE A. F. et al. Sunflower biodiesel production and application in family<br />
farms in Brazil. Fuel, v. 89, n. 12, p. 3718–3724, 2010.<br />
SALIS, A.; PINNA, M.; MONDUZZI, M.; SOLINAS, V. Biodiesel production from<br />
triolein and short chain alcohols through biocatalysis. Journal of biotechnology.<br />
v. 119, n. 3, p. 291-299, 2005.<br />
SAXENA R. K,; SHEORAN, A.; GIRI, B.; DAVIDSON, W. S. Purification strategies<br />
for microbial lipases. J. Microbiol Meth. v. 52, n. 1, p. 1-18, 2003.<br />
SCHNEIDER, R. C. S.; LARA, L. R. S.; BITENCOURT, T. B.; NASCIMENTO, M. G.;<br />
NUNES, M. R. S. Chemo-Enzymatic Epoxidation of Sunflower Oil Methyl Esters<br />
J. Braz. Chem. Soc., v. 20, n. 8, p. 1473-1477, 2009.<br />
WARWEL, S., KLAAS, M. R. Chemo-enzymatic epoxidation of unsatured<br />
carboxylic acids. Journal of Moleculas Catalysis B: Enzymatic. v. 1, n.1 , p. 29-<br />
35, 1995.<br />
WICKERT. L. Produção de epóxidos de óleo de mamona. Trabalho de conclusão<br />
apresentado ao Curso de Química Industrial da Universidade de Santa Cruz do<br />
Sul, 2004.<br />
ZEILMANN, R. P. Tendência aponta para a usinagem a seco. NEI: Informação<br />
industrial completa atualizada e completa. Disponível em: . Acesso em: 10 jan 2011.<br />
ZEMAN, A.; SPRENGEL, A.; NIEDERMEIR, D.; SPATH, M. Biodegradable<br />
lubricants studies on thermo oxidation of metal-working fluids by differential<br />
scanning calorimetry. Thermochim Acta, v. 268, p. 9-15, 1995.<br />
<br />
<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 58-68, 2010
Ciências<br />
Humanas
70<br />
ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS<br />
Na área de Ciências Sócias Humanas entre os 51 trabalhos apresentados no<br />
evento, 96% foram de alunos bolsistas de Iniciação Científica da Universidade e 4%<br />
de trabalhos de alunos de Iniciação Científica vinculados a outras Instituições de<br />
Ensino do Estado do Rio Grande do Sul. A maioria dos trabalhos nesta área foi de<br />
bolsistas do Programa UNISC de Iniciação Científica – PUIC, seguida dos Programas<br />
de bolsa de verba externa para pagamentos de bolsas em projetos de pesquisa e<br />
Programas PROBIC/FAPERGS, PIBIC/CNPq e do Programa PUIC voluntário,<br />
apresentados na Figura 05.<br />
25<br />
Trabalhos apresentados na Área de Ciências Humanas no<br />
XVI Seminário de Iniciação Científica da UNISC<br />
Nº de Trabalhos<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
Área de<br />
Ciências<br />
Humanas<br />
0<br />
PUIC<br />
PIBIC/CNPq<br />
PROBIC/FAPERGS<br />
Outras Bolsas<br />
Tipo de bolsa relacionada aos trabalhos apresentados<br />
PUIC VOLUNTÁRIO<br />
Figura 05 – Modalidade de bolsas dos estudantes participantes do XVI Seminário de<br />
Iniciação Científica na Área de Ciências Humanas.<br />
Fonte: Coordenação de Pesquisa, UNISC, 2010.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 71-81, 2010
DESENHO DA FIGURA HUMANA NA CHUVA – PROPOSTA DE<br />
VALIDAÇÃO NO BRASIL<br />
Emanueli Paludo 1<br />
Vivian Silva da Costa 2<br />
Roselaine Berenice Ferreira da Silva 3<br />
RESUMO<br />
Este trabalho objetiva resgatar o Desenho da Figura Humana na Chuva (DFH-<br />
Chuva), instrumento de avaliação psicológica, usado em crianças, a fim de<br />
identificar o desempenho infantil frente ao teste. Além disso, pretende-se mostrar<br />
associação entre idade, sexo e escola frequentada com a estrutura do desenho.<br />
Foram aplicados o DFH-chuva e o DFH-III para avaliar potencial cognitivo em 215<br />
crianças de escolas públicas e particulares, com idades entre cinco e 12 anos.<br />
Verificou-se a presença de 50,7% de meninos e 49,3% de meninas na amostra.<br />
Desses sujeitos, 32% eram provenientes de escolas particulares e 68% de escolas<br />
públicas. Frente ao DFH-III, para avaliar o desempenho cognitivo, 58% das<br />
crianças apresentaram resultados na média, demonstrando não haver dificuldades<br />
cognitivas nesta amostra. Foi encontrada associação significativa entre idade,<br />
sexo e tipo de escola frequentada com a forma como ela desenha, assim como<br />
alguns indicadores clínicos de avaliação apontados para o instrumento.<br />
Palavras-chave: Avaliação Psicológica. Desenho da Figura Humana. Validade<br />
dos Instrumentos.<br />
ABSTRACT<br />
This work aims to revive the Human Figure Draw in the Rain (HFD-Rain), a<br />
psychological assessment tool used in children to identify children's performance<br />
to the test. Besides we intend to show an association between age, sex and<br />
school attended with the structure of the drawing. Were applied HFD-Rain and<br />
the HFD-III to assess cognitive potential in 215 children from public and private<br />
schools, aged between five and 12 years. There was the presence of 50.7% boys<br />
and 49.3% of girls in the sample. Of these subjects, 32% were from private<br />
schools and 68% of public schools. Faced with the HFD-III, to assess cognitive<br />
1 Acadêmica do Curso de Psicologia, Bolsista PUIC-UNISC.<br />
2 Acadêmica do Curso de Psicologia, UNISC.<br />
3 Dra. em Psicologia, Coordenadora do Laboratório de Mensuração e Testagem Psicológica<br />
(UNISC), Professora-orientadora da pesquisa.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 71-81, 2010.
72<br />
performance, 58% of children showed results on average, showing no cognitive<br />
difficulties in this sample. Was a significant association between age, sex and type<br />
of school the child attends to the way she draws, as well as some clinical<br />
indicators pointed to the assessment instrument<br />
Keywords: Psychological Assessment. Human Figure Draw. Validity Instruments.<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
O desenho é uma das formas mais primitivas de comunicação; através da<br />
representação gráfica é possível demonstrar sentimentos e pensamentos. Devido<br />
ao interesse e à espontaneidade das crianças em desenhar, o desenho<br />
caracteriza-se como um importante instrumento de avaliação psicológica infantil,<br />
construindo uma ponte de comunicação por meio da simbolização presente no ato<br />
de brincar e jogar. De acordo com Duarte (2009), nas atividades lúdicas há o<br />
predomínio da ação sobre a linguagem verbal, prevalecendo a comunicação não<br />
verbal e pré-verbal.<br />
Antes do estabelecimento da escrita ou da leitura, o desenho configura a<br />
primeira forma de comunicação apresentada pelas crianças. As produções gráficas<br />
caracterizam-se como uma linguagem simbólica com a qual o inconsciente estaria<br />
se expressando, sendo possível identificar sentimentos, ansiedades, impulsos, até<br />
mesmo conflitos da personalidade - sendo o desenho uma projeção dessa (DI<br />
LEO, 1991).<br />
O Desenho da Figura Humana na Chuva (DFH-Chuva), na visão de Karen<br />
Machover (1967), é um instrumento projetivo que avalia a forma como o sujeito<br />
vivencia as pressões do meio ambiente, pois o elemento chuva representa as<br />
pressões externas vivenciadas pelo sujeito e a forma como tais experiências são<br />
sentidas.<br />
Ao usar instrumentos psicológicos é importante certificar a validade e o valor<br />
dos significados dos itens. Entretanto, decompor o desenho em detalhes isolados<br />
faz a avaliação psicológica tornar-se questionável e nosso papel não é enquadrar<br />
um individuo dentro de determinadas características que o rotulem em padrões<br />
de normal ou anormal, mas sim descrever aspectos desenvolvimentais,<br />
emocionais, de personalidade.<br />
Todavia, o DFH-Chuva não possui validade de uso no Brasil. Nesse sentido,<br />
este estudo visa demonstrar evidências de validade desse instrumento em uma<br />
amostra de 215 crianças, meninos e meninas de cinco a doze anos,<br />
frequentadoras de escolas públicas e particulares, de cidades do interior do Rio<br />
Grande do Sul.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 71-81, 2010
73<br />
2 O DESENHO DA FIGURA HUMANA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA<br />
Inicialmente, o DFH 4 surgiu com uma proposta psicométrica, na tentativa de<br />
avaliar características intelectuais. Binet e Simon, em 1905, analisaram o desenho<br />
como sendo possível de ser empregado em testes de desenvolvimento mental e<br />
de aptidões específicas, como também em testes para diagnósticos especiais<br />
(VAN KOLCK, 1984).<br />
Estudos sistematizados sobre DFH apareceram em torno de 1906, com a<br />
investigação de Lamprecht que comparou desenhos de crianças de diferentes<br />
países, tentando encontrar pontos comuns nos traçados e conceitos. Igualmente,<br />
o pesquisador francês Claparède, em 1907, demonstrou interesse por aspectos<br />
evolutivos do desenho infantil para tentar averiguar se haveria relação entre<br />
habilidade para desenho e capacidade intelectual da criança, demonstrada pelo<br />
rendimento escolar (WESCHLER, 2003).<br />
Em 1926, a contribuição de Goodenough foi fundamental; a autora<br />
sistematizou um método destinado a avaliar o desenvolvimento intelectual infantil<br />
por meio do DFH. Desde essa época, o DFH tem se revelado uma das técnicas<br />
mais utilizadas para avaliar o desenvolvimento cognitivo, por ser uma medida não<br />
verbal conhecida por qualquer criança, de fácil aplicação e baixo custo.<br />
Além do entendimento no nível da cognição, pesquisadores como Koppitz<br />
(1988), Di Leo (1991), Hammer (1991), Cormann (2003) e Machover (1967)<br />
entendem que, através do desenho, é possível realizar análise da personalidade<br />
do sujeito. Os elementos gráficos falam mais sobre o sujeito do que sobre o<br />
desenho propriamente dito. O pressuposto que norteou estudos desses<br />
pesquisadores dizia respeito à ideia de que os desenhos de crianças poderiam ser<br />
vistos como indicadores do desenvolvimento psicológico.<br />
Koppitz, em 1988, com base nos estudos de Goodenhough e Machover, e<br />
trabalhando com crianças de 5 a 12 anos, elaborou uma lista de indicadores<br />
emocionais, consistindo em uma escala própria de índices gráficos que permitem<br />
tanto a avaliação do nível de maturação mental, como a detecção e avaliação de<br />
distúrbios emocionais (VAN KOLCK, 1984). Esse sistema permitiu uma verificação<br />
da frequência de itens esperados, comuns, incomuns ou excepcionais para cada<br />
faixa etária (COX, 1991).<br />
Machover (1967) publicou os resultados de suas observações clínicas sobre<br />
a representação gráfica de figuras humanas desenhadas por crianças e adultos<br />
que apresentavam diversos problemas psicológicos, fornecendo, dessa forma, um<br />
caráter projetivo ao Desenho da Figura Humana, enquanto método de avaliação<br />
da personalidade.<br />
4 No decorrer do artigo, o Desenho da Figura Humana será referido como DFH.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 71-81, 2010
74<br />
Campos (1994) salienta que o sujeito não desenha apenas o que vê, mas o<br />
que sente em adição ao que vê. Wechsler (2003) complementa dizendo que nem<br />
sempre a criança desenha o que vê, mas o que sabe sobre si, muitas vezes pelo<br />
que outras pessoas lhe falam. Para Hutz e Bandeira (2000), o desenho pode ser a<br />
representação de aspectos do indivíduo, como aspirações, preferências, pessoas<br />
vinculadas a ele, imagem ideal, padrões de hábitos, atitudes com o examinador e<br />
a situação de testagem.<br />
Para Pasian, Okino e Saur (2004) a experiência individual de vida influencia<br />
as elaborações projetivas. Para Hammer (1991), seja pela estrutura ou pelo<br />
conteúdo do desenho, a comunicação gráfica é capaz de manifestar a<br />
personalidade individual, além de padrões culturais, constituindo, assim, formas<br />
como a pessoa pode se representar, a partir do conceito de autoimagem, self<br />
ideal ou percepção de pessoas significativas para o sujeito.<br />
Para que um teste possa ser utilizado na prática do psicólogo é preciso<br />
haver uma verificação e consequente aprovação por meio do cumprimento de<br />
critérios que satisfaçam a um protocolo estabelecido pelo Conselho Federal de<br />
Psicologia - CFP, que envolve estudos de padronização, normatização,<br />
fidedignidade e validade, comprovando a eficiência do instrumento frente ao que<br />
se propõe avaliar (TAVARES, 2003).<br />
O estudo de validação de um instrumento é de fundamental importância,<br />
pois é por meio da validade que podemos entender e comprovar as funções de<br />
um instrumento, seus objetivos, suas vantagens e também limitações. Para<br />
Tavares (2003), o conceito de validade está para além do cumprimento de<br />
normas estatísticas, numa visão positivista, mas leva em consideração a literatura<br />
já existente que nos permite associar o significado e compreender a qualidade e<br />
os significados dos resultados do instrumento e da avaliação.<br />
Desta forma, percebem-se vários estudos, na atualidade, acerca da Figura<br />
Humana, enquanto técnica projetiva. Tal fato reforça a ideia de que os<br />
pesquisadores estão preocupados com a cientificidade do instrumento. Além<br />
disso, diversos encontros científicos voltados à discussão da avaliação psicológica<br />
se constituem, cada vez mais, num momento de reflexão e questionamentos<br />
sobre a legitimidade das técnicas projetivas enquanto instrumentos efetivamente<br />
confiáveis para a avaliação psicológica.<br />
Todavia, os testes gráficos de desenhos necessitam estudos padronizados<br />
para serem autorizados no uso em avaliação psicológica. Nesse sentido,<br />
atualmente, apenas o HTP (BUCK, 2003), DFH (SISTO, 2005) e DFH-III<br />
(WECHSLER, 2003) possuem evidências de validade que demonstram eficácia no<br />
momento de avaliar. O DFH na Chuva encontra-se em estudo de validação,<br />
proposto pelo Laboratório de Mensuração e Testagem Psicológica da Universidade<br />
de Santa Cruz do Sul, sendo tal estudo exposto a seguir.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 71-81, 2010
75<br />
3 METODOLOGIA<br />
Participantes<br />
Participaram deste estudo 215 crianças, com idades de cinco a doze anos,<br />
oriundas de escolas públicas e particulares dos Vales do Rio Pardo e Taquari,<br />
interior do Rio Grande do Sul. Dessa amostra, 52,1% eram do sexo feminino e<br />
47,3% eram do sexo masculino, frequentando do pré-primário à sexta série.<br />
Instrumentos<br />
1- Teste Gestáltico Visomotor de Bender<br />
O Teste Gestáltico Visomotor de Bender - também conhecido como Bender –<br />
foi desenvolvido por Lauretta Bender. O instrumento é composto por nove cartões<br />
em cor branca com estímulos pretos formados por linhas contínuas, pontos,<br />
curvas sinuosas ou ângulos, sendo solicitado que as crianças copiem as figuras.<br />
2- O Desenho da Figura Humana (DFH-III)<br />
Este instrumento foi validado para a amostra brasileira por Wechsler (2003).<br />
A ordem dada é que seja desenhada uma pessoa de cada sexo; a partir desses<br />
desenhos é feita a avaliação do desenvolvimento cognitivo de crianças de seis a<br />
doze anos de idade.<br />
3 - O Desenho da Figura Humana na Chuva<br />
Para execução desta tarefa é fornecida uma folha de papel A4 branca, lápis<br />
preto número 2 e borracha. Solicita-se à criança que desenhe uma pessoa na<br />
chuva.<br />
4 – CBCL (Child Behavior Checklist)<br />
É um instrumento criado no final da década de 70 por Thomas Achenbach,<br />
nos Estados Unidos. É composto por 138 itens destinados à avaliação de<br />
competência social e de problemas de comportamento, através da percepção dos<br />
cuidadores.<br />
Procedimento<br />
A partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, foi estabelecido<br />
contato com determinadas escolas das regiões do Vale do Rio Pardo e Taquari.<br />
Após aceitação das escolas e indicação das turmas para a aplicação dos<br />
instrumentos, foi entregue para cada criança um kit contendo carta de<br />
apresentação sobre a pesquisa, dois termos de consentimento livre e esclarecido,<br />
uma ficha de informação sobre a criança e um CBCL. Com autorização dos<br />
responsáveis, as crianças participaram da aplicação dos instrumentos de forma<br />
individual, em salas vagas nas escolas, realizada por estudantes do curso de<br />
Psicologia-UNISC, também responsáveis pela avaliação e análise dos desenhos.<br />
Com a obtenção dos resultados, foram realizadas análises através do<br />
programa estatístico SPSS for windows 17.0. Primeiro os dados foram analisados<br />
por estatística descritiva, determinando frequências, médias e desvio-padrão. Em<br />
seguida foi realizado estudo de associação entre idade, sexo, tipo de escola e<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 71-81, 2010
76<br />
itens do DFH-Chuva, por meio do teste de qui-quadrado de Pearson,<br />
considerando nível de significância 0,05 (p
77<br />
Tabela 2 - Distribuição da Frequência dos Resultados no DFH-III<br />
Classificação N Percentual<br />
Abaixo da média 66 30,7<br />
Média 95 43,8<br />
Acima da média 54 24,4<br />
Total 215 100,0<br />
Além disso, a amostra pode ser considerada normativa, mesmo com alguns<br />
desvios de resultados para cima ou para baixo da média. Todavia, tais desvios<br />
não representam ser significativos na alteração dos resultados.<br />
No momento em que a criança desenha, ela deve inserir elementos<br />
estruturais e gráficos importantes, como presença de cabeça, olhos, mãos, nariz,<br />
corpo, pernas, pés. Na correção do teste, vai importar a análise do tamanho da<br />
figura desenhada, presença de movimento na pessoa ou no desenho (como<br />
presença de vento), ou características gráficas, como pressão do lápis, tipo de<br />
traçado e posição na folha.<br />
Associando tais elementos estruturais e de correção, foi possível identificar<br />
associação positiva entre alguns detalhes, como:<br />
- Presença de nariz, orelhas, ombros e mãos com a idade da criança<br />
(p
78<br />
4.2 Estudo sobre Escola Frequentada e DFH-Chuva<br />
A tabela abaixo proporciona a visualização acerca da quantidade de escolas<br />
públicas e particulares na amostra. Dessa forma, é possível identificar a presença<br />
maior no estudo de crianças de escolas públicas (estaduais e municipais).<br />
Tabela 3 - Distribuição de Frequência por Escolas<br />
Escola N Percentual<br />
Pública 149 69,3%<br />
Particular 66 30,7%<br />
Total 215 100%<br />
Associando elementos estruturais do DFH-chuva foi possível identificar que<br />
presença de guarda-chuva, seu tamanho e localização tiveram associação positiva<br />
com o tipo de escola frequentada pela criança (p
79<br />
Tais resultados permitem algumas elucubrações, como o fato de que a<br />
presença de dentes, segundo a literatura, simboliza questões relacionadas a<br />
sentimentos agressivos. Portanto, o desenho de dentes muito destacados pode<br />
acarretar o entendimento de que a criança esteja projetando seus instintos<br />
agressivos, como sentimentos impulsivos. Sendo em meninos, esses podem estar<br />
demonstrando mais sua agressividade e impulsividade, podendo ser um elemento<br />
cultural. Ao mesmo tempo, a associação de vestimenta com o sexo feminino pode<br />
evidenciar a projeção da menina em desenhar o que é considerado belo, como<br />
seu corpo com a devida vestimenta, sendo esse outro dado cultural.<br />
4.4 Estudo sobre DFH-Chuva e Indicadores de Personalidade<br />
O DFH - chuva é um teste proposto por Karen Machover (1967) que tem por<br />
finalidade investigar características de personalidade. Utiliza-se do caráter<br />
simbólico do elemento chuva para verificar como os sujeitos vivenciam as<br />
pressões ambientais. Nesse sentido, um dos elementos de correção desse<br />
instrumento é o guarda-chuva, que representa a proteção do sujeito frente às<br />
pressões externas ou a situações de estresse vivenciadas no cotidiano.<br />
A tabela abaixo demonstra a frequência de crianças consideradas com<br />
distúrbios internalizantes e externalizantes pelo CBCL (ACHENBACH, 2001).<br />
Tabela 5 - Distribuição de Frequência de Distúrbios no CBCL<br />
Classificação N Percentual<br />
Internalizantes 45 23,8%<br />
Externalizantes 31 16,4%<br />
Total 215 100,0<br />
Foram encontradas associações significativas entre os distúrbios<br />
externalizantes com alguns itens de correção do DFH-Chuva, como: o tamanho da<br />
cabeça e a presença de vestimentas no desenho (p
80<br />
5 CONCLUSÃO<br />
Cabe ressaltar que este estudo encontra-se em andamento; para validar um<br />
instrumento psicológico é preciso uma amostra com número maior de crianças.<br />
Entretanto, até o momento, percebe-se a sensibilidade do DFH-Chuva em<br />
identificar externalização de pressões vivenciadas, questões desenvolvimentais e<br />
projeção de aspectos culturais.<br />
Neste estudo, observou-se que o instrumento enfocado nesta pesquisa, o<br />
Desenho da Figura Humana na Chuva apresenta resultados positivos em<br />
comparação com instrumentos que já possuem validade e certificados pelo<br />
Conselho Federal de Psicologia - CFP, que foram utilizados para relacionar os<br />
resultados - DFH-III e CBCL.<br />
A partir da relação positiva (p
81<br />
HAMMER, E. F. A Técnica Projetiva do Desenho da Casa-Árvore-Pessoa:<br />
interpretação do conteúdo. In: HAMMER, E. F. (Org.). Aplicações clínicas dos<br />
desenhos projetivos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1991.<br />
HUTZ, C. S. E BANDEIRA, D. R. Desenho da Figura Humana In: CUNHA, J. A.<br />
Psicodiagnóstico - V. 5ª ed., revisada e ampliada. Porto Alegre: Artmed, 2000.<br />
MACHOVER, K. O Traçado da Figura Humana: um método para o estudo da<br />
personalidade. In: ANDERSON, H. H.; ANDERSON, G. L. (Org.). Técnicas<br />
projetivas do diagnóstico psicológico. São Paulo: Mestre Jou, 1967.<br />
PASIAN, S. R.; OKINO, E. T. K.; SAUR, A. M. Padrões normativos do Desenho da<br />
Figura Humana em adultos. In: Vaz, C. E.; Graeff, R. L. (Orgs.). Técnicas<br />
projetivas: produtividade em pesquisa. Anais do 3º Congresso Nacional da<br />
Sociedade Brasileira de Rorschach e outros métodos projetivos. Porto Alegre:<br />
SBRO, 2004.<br />
SILVA, R. B. F.; FEIL, C. F.; NUNES, M. L. T. O Teste Gestáltico Visomotor de<br />
Bender na avaliação clínica de Crianças. Psico-USF. v.14, n.2, p. 185-192, 2009.<br />
SISTO, F. F. Desenho da figura humana: escala sisto. São Paulo: Vetor Ed., 2005.<br />
TAVARES, M. Validade Clínica. Psico-USF, v.8, n.2, p.125-136, jul./dez. 2003.<br />
VAN KOLCK, O. L. Testes projetivos gráficos no diagnóstico psicológico. São<br />
Paulo: EPU, 1984.<br />
WECHSLER, S. M. DFH-III: O desenho da figura humana: avaliação do<br />
desenvolvimento cognitivo de crianças brasileiras. Campinas: Impressão Digital,<br />
2003.<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Jovens</strong> <strong>Pesquisadores</strong>, Santa Cruz do Sul, n. 1, p. 71-81, 2010
LEITURA E INFÂNCIA: A PRODUÇÃO DOS MODOS DE SER E<br />
PRÁTICAS DE LEITURA<br />
Karen Cristina Cavagnoli 1<br />
Betina Hillesheim 2<br />
Lílian Rodrigues da Cruz 3<br />
RESUMO<br />
Este trabalho propõe discutir a produção da infância em relação à prática da<br />
leitura. Para isso, a partir dos sentidos produzidos sobre a leitura na perspectiva<br />
das crianças leitoras, considera-se tais práticas como território de produção de<br />
sujeitos. Entende-se que a prática da leitura produz modos de existência, os quais<br />
não se referem somente às crianças, mas também às maneiras pelas quais os<br />
adultos as compreendem e se relacionam com elas e consigo. A produção de<br />
dados ocorreu a partir da realização de grupos focais formados por crianças de 4ª<br />
série do ensino fundamental. Os resultados apontam para sentidos distintos, mas<br />
que se entrecruzam: leitura associada ao prazer e à obrigação; leitura<br />
pressupondo tempos e espaços. Tais marcadores evidenciam a produção de um<br />
leitor no âmbito das práticas de leitura que passa preferencialmente pelo discurso<br />
pedagógico.<br />
Palavras-chave: Infância. Leitura. Modos de Subjetivação<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
A prática da leitura pode ser entendida como um território onde se<br />
constroem sujeitos e que assume diversas características em cada momento<br />
histórico. Desse modo, este estudo investiga quais as relações entre a prática da<br />
leitura e a infância, uma vez que as composições possíveis entre leitura e infância<br />
1 Acadêmica do Curso de Psicologia da Universidade de Santa Cruz do Sul –(UNISC). Bolsista do<br />
Programa de Iniciação Científica do CNPq – PIBIC. E-mail: karenzotti@yahoo.com.br<br />
2 Doutora em Psicologia (PUCRS), docente do departamento de Psicologia e do Mestrado em<br />
Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). – betinahillesheim@gmail.com<br />
3 Doutora em Psicologia (PUCRS). Docente e pesquisadora do departamento de Psicologia da<br />
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Bolsista de Pós-Doutorado Júnior do CNPq. –<br />
liliancruz2@terra.com.br<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 90-97, 2010.
83<br />
resultam nas mais variadas formas de compreender e de se relacionar com as<br />
crianças.<br />
A noção da infância como construção social implica refutar quaisquer ideias<br />
essencialistas sobre a mesma, desnaturalizando esse conceito e abrindo a<br />
possibilidade de se pensar sobre as condições históricas, políticas, econômicas e<br />
sociais que tornaram possível pensar o que venha a ser infância.<br />
Áries (1981) discute como a noção moderna de infância consolidou-se a<br />
partir do século XVII; entretanto, tal concepção é, muitas vezes, entendida como<br />
atemporal, pressupondo a existência de uma natureza infantil. Apesar de esse<br />
autor utilizar a expressão ‘descoberta da infância’, Ghiraldelli (2000) considera<br />
que os seus estudos não apontam para uma noção da infância como uma etapa<br />
natural da vida dos seres humanos que sempre existiu e somente necessitava ser<br />
reconhecida como tal, mas como uma ‘invenção’, ou seja, algo que é montado a<br />
partir de novas formas de ver e dizer sobre a infância.<br />
Os estudos de Ariès (1981) identificam esta construção da infância a partir<br />
de dois sentimentos: a paparicação (visto que as crianças encantavam e distraíam<br />
os adultos) e a preocupação com a racionalidade dos costumes e com a disciplina<br />
(que se originou, de certo modo, como reação aos efeitos da paparicação e que<br />
proveio de fontes externas à família, tais como eclesiásticos e juristas, que<br />
entendiam as crianças como seres frágeis que necessitavam de proteção,<br />
orientação moral e disciplinamento). Além disso, destaca a importância da escola<br />
no processo de construção da infância moderna. No século XIII as escolas não<br />
tinham o objetivo de ensino, mas se constituíam em asilos para estudantes<br />
pobres. É a partir do século XV que as escolas tornaram-se instituições não<br />
apenas de ensino direcionadas a populações numerosas, mas também de<br />
vigilância e esquadrinhamento das condutas infantis.<br />
No que se refere à literatura infantil, essa surge a partir de uma série de<br />
modificações que ocorrem a partir do século XVIII, filiando-se à instituição escolar<br />
em seu propósito de construção de uma sociedade burguesa. Dessa maneira, a<br />
literatura infantil, desde seu início, é vinculada à pedagogia (ZILBERMAN;<br />
MAGALHÃES, 1987). Como salienta Zilberman (2001), a primeira e mais<br />
duradoura teoria da leitura priorizou o papel do ensino e da pedagogia, partindo<br />
da alfabetização como forma de chegar ao texto literário, ‘lócus’ privilegiado da<br />
leitura e destinado à elite intelectual. É a partir da necessidade, gerada pelo<br />
capitalismo, de qualificar a mão de obra e também de constituir um mercado<br />
consumidor, que a teoria da leitura não pôde mais ser atrelada somente à<br />
literatura. O letramento tornou-se, assim, um segmento independente das teorias<br />
da leitura na área da educação.<br />
Com a Modernidade, é implantada a escolarização abrangente, ocupando-se<br />
a escola, em conjunto com outras instituições, da governamentalidade 4 da<br />
4 O conceito de governamentalidade foi desenvolvido por Foucault (2006) e é entendido como<br />
um conjunto de práticas de governamento que têm na população seu objeto e que busca<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 90-97, 2010.
84<br />
população, especialmente a infantil, e de seu disciplinamento. A escola, através<br />
do discurso pedagógico, produz a infância, tornando-a uma infância-escolar, a<br />
qual é examinada, enquadrada e normalizada (CORAZZA, 2000).<br />
Este trabalho investigou quais os sentidos produzidos sobre a leitura na<br />
perspectiva das crianças e quais as implicações da prática da leitura na<br />
construção da infância. Para tanto, como procedimentos metodológicos, foram<br />
realizados seis grupos focais 5 , formados por 6 a 8 crianças, de ambos os sexos,<br />
da 4ª série do ensino fundamental, estudantes de uma escola particular e de<br />
duas escolas públicas, em uma cidade brasileira de médio porte. A seguir,<br />
discute-se os resultados desta pesquisa, os quais apontam para sentidos distintos,<br />
mas que se entrecruzam: leitura associada ao prazer e à obrigação; leitura<br />
pressupondo tempos e espaços.<br />
2 COMPONDO SENTIDOS SOBRE A LEITURA<br />
A partir da produção de dados, percebe-se que, para as crianças, o ato de<br />
ler é marcado por dicotomias: prazer x obrigação, liberdade x aprisionamento.<br />
Para as crianças, ler é tanto sinal de inteligência 6 , possibilidade de aprendizagem<br />
dos conteúdos escolares, exercício para o cérebro e forma de atender às<br />
exigências adultas, como fuga, viagem para outro mundo, diversão e prazer.<br />
Estas falas infantis remetem ao lugar atribuído socialmente à leitura, ou<br />
seja, que esta se constitui como imprescindível para a formação infantil, na<br />
medida em que se compreende a infância como uma fase de preparação para a<br />
vida adulta. Embora a leitura adquira para as crianças um caráter ligado ao<br />
prazer, também está fortemente vinculada ao pedagógico, ou seja, a leitura<br />
aparece como veículo para o saber e, especialmente, para o mundo adulto, sendo<br />
que ler é algo valorizado pelo que pode ensinar.<br />
Ressalta-se, seguindo Narodowsky (2001), os seguintes enunciados que<br />
conformam a pedagogia moderna, os quais são complementares: a infância<br />
caracteriza-se tanto como um conjunto de carências como um campo de análise,<br />
necessitando da educação para superar sua condição de inferioridade. Desse<br />
modo, “a pedagogia pedagogiza a infância na medida em que já não vai ser<br />
extrair dela seu saber, encontrando nos dispositivos de segurança seus mecanismos básicos<br />
(MACHADO, 1992).<br />
5 Grupos focais são uma ferramenta de entrevista em grupo, na qual, a partir de um tema<br />
gerador, há a possibilidade de interação e argumentação entre os participantes. Para ser<br />
eficaz, o número de participantes não deve ser excessivo e a temática deve ser delimitada,<br />
sendo que o pesquisador apresenta algumas questões abertas, propiciando a expressão dos<br />
participantes (LAVILLE; DIONNE 1999). Ceres Víctora, Daniela Knauth e Maria de Nazareth<br />
Hassen (2000) colocam que se trata de uma técnica qualitativa na qual tópicos ou focos são<br />
explorados com o auxílio de um facilitador, podendo ser utilizado sozinha ou com outras<br />
técnicas associadas.<br />
6 No decorrer do texto, as falas das crianças, quando literais, encontram-se em itálico.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 90-97, 2010.
85<br />
possível pensar a infância sem recorrer a categorias e conceitos pedagógicos” (p.<br />
187).<br />
Ao invés de compreender prazer e obrigação como opostos, podemos<br />
colocá-los como faces de uma mesma produção discursiva: na medida em que se<br />
encontra prazer na leitura (e aqui se aponta todo o mercado livreiro voltado para<br />
o público infantil, assim como as prescrições direcionadas a pais e professores no<br />
sentido de incentivar as crianças, desde muito pequenas, à leitura), atinge-se<br />
mais plenamente o objetivo final. Goulart (2000), em uma pesquisa sobre os<br />
catálogos de livros infantis, pontua os discursos que colocam a leitura a partir de<br />
um imperativo do prazer no intuito de governar a infância, isto é, agindo no<br />
disciplinamento e controle dos corpos infantis. O uso do termo governo é aqui<br />
empregado em uma perspectiva foucaultiana, para a qual esta é uma questão<br />
que emerge no século XVI, aliando-se ao poder disciplinar e referindo-se a<br />
problemas muito diversos, tais como o governo de si, o governo das almas, das<br />
condutas, das crianças, das mulheres, dos doentes, etc. O governo implica, assim,<br />
dispor das coisas, com o propósito de alcançar determinadas finalidades,<br />
utilizando-se mais de táticas do que de leis (FOUCAULT, 2003).<br />
Outro aspecto a ser salientado é que, usualmente, a leitura cola-se à<br />
literatura; contudo, apesar do lugar de destaque dado ao livro, as crianças<br />
associam o ato de ler a variados artefatos: jornal, revista, camiseta, placa de<br />
trânsito, etiqueta de roupa, contrato, manual de instruções, etc. Porém, o texto<br />
literário como fim a ser alcançado ocasiona a desvalorização da leitura de outros<br />
artefatos culturais, o que é lembrado, de forma bem-humorada, na epígrafe do<br />
livro ‘Leituras à revelia da escola’: “– Vão guardando estas revistinhas aí, que a<br />
aula agora é de leitura, interpretação de texto!” (MAFRA, 2003).<br />
Assim como há a desvalorização desses outros artefatos (como é o caso dos<br />
gibis, citados acima), percebe-se uma hierarquização no que se refere ao próprio<br />
objeto livro. Da mesma forma como a adjetivação infantil confere à literatura uma<br />
diminuição do valor artístico da obra, a qual é entendida como uma literatura<br />
‘menor’ (LAJOLO e ZILBERMAN, 1999), as crianças consideram que um livro<br />
pequeninho, repleto de imagens, é mais infantil que aqueles que são mais<br />
volumosos e com bastante texto. As falas das crianças vêm marcar nitidamente<br />
quais os tipos de leitura direcionados às mesmas, explicitando-se, assim, uma<br />
desvalorização do que é infantil, compreendido como de leitura facilitada.<br />
Portanto, as crianças avaliam a si próprias e a leitura em relação aos adultos; ler<br />
livros com muito texto aproxima-as do universo adulto, fazendo-as sentirem-se<br />
mais capazes.<br />
Nessa perspectiva, Mortatti (2000) coloca que o qualificativo infantil vinculase<br />
a um leitor previsto, marcando determinadas concepções de infância, as quais<br />
tomam como parâmetro o adulto, sendo a criança considerada como um ser ‘em<br />
desenvolvimento’ que necessita da escolarização para assumir seu lugar na<br />
sociedade.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 90-97, 2010.
86<br />
3 MODOS DE LER E A CONSTRUÇÃO DA CRIANÇA LEITORA<br />
Historiadores das práticas de leitura, tais como Chartier (1999), apontam<br />
que é recente a ideia da leitura como um ato privado, realizado de forma<br />
individual e na intimidade. Nos meios urbanos, entre os séculos XVII e XVIII,<br />
existia todo outro conjunto de relações com os textos que passava pelas leituras<br />
coletivas, decifrados uns pelos outros e muitas vezes com uma elaboração<br />
partilhada por todos.<br />
Além disso, como lembra Goulemot (1996), a leitura supõe determinadas<br />
posições do corpo: o corpo leitor cansa ou fica sonolento, boceja, experimenta<br />
várias dores, encontra-se sentado, deitado ou estirado, etc. Há ainda uma história<br />
de representações sobre a leitura, que inclui, por exemplo, fotos ou pinturas que<br />
retratam o leitor, que carregam consigo modelos do ato de ler. Livro e corpo<br />
entrelaçam-se, sendo a escola um espaço significativo no disciplinamento do<br />
corpo, impondo atitudes consideradas adequadas ao leitor (como, por exemplo,<br />
cabeça entre as mãos sugerindo uma leitura profunda).<br />
No presente estudo, as crianças referiram que as primeiras experiências de<br />
leitura ocorreram em uma situação de convívio familiar, inserindo-se em uma<br />
rotina de contar histórias na hora de dormir, através da intermediação dos<br />
adultos, especialmente dos pais. A alfabetização marca a passagem da leitura<br />
para uma prática individualizada, que não depende mais da mediação adulta.<br />
Além disto, os modos de ler relacionados pelas crianças assinalam, mais uma vez,<br />
tanto os aspectos pedagógicos como prazerosos na relação com a leitura, os<br />
quais são determinados por questões relativas ao tempo e espaço.<br />
A obrigatoriedade dessa atividade na escola define determinados tempos e<br />
espaços considerados apropriados à leitura, assim como posições assumidas pelos<br />
leitores. As crianças discorrem sobre as denominadas ‘horas de leitura’, as quais<br />
se caracterizam por uma leitura silenciosa, pela escolha de livros ‘apropriados’,<br />
por um tempo previamente definido e por uma posição considerada adequada.<br />
Por outro lado, elas identificam tempos e espaços nos quais há a possibilidade de<br />
outra relação com a leitura, além das questões pedagógicas: pode-se ler na<br />
cama, estirado no chão, na posição de ‘indiozinho’, quando não há nada para<br />
fazer ou, simplesmente, quando dá vontade.<br />
Nessa perspectiva, Paulino et al. (2001) assinalam que olhos, mãos,<br />
pescoço, ombros – enfim, todo o corpo do leitor – estão comprometidos no ato de<br />
leitura, buscando a sociedade, incessantemente, impor formas de controle desse<br />
corpo, ditando espaços e posições específicos, os quais se relacionam com a<br />
busca de controle da própria produção de sentidos.<br />
Por sua vez, Morais (2002) critica o modo como a escola comumente<br />
entende a leitura, desconsiderando as diferentes leituras do mundo e postulando<br />
uma série de situações pedagógicas que se voltam para o corpo, a concentração,<br />
os movimentos dos olhos e dos lábios, etc. A leitura torna-se uma forma de<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 90-97, 2010.
87<br />
regulação do tempo individual, inserindo-se em um processo de docilização dos<br />
corpos.<br />
Para finalizar, assinala-se que é característico que, em cada tempo e<br />
sociedade, circulem discursos que carregam determinadas aspirações sobre a<br />
infância. Considerando-se tais questões, entende-se que a valorização da leitura<br />
inscreve-se no âmbito da arte de governar a infância, visando à conformação de<br />
corpos dóceis e úteis à sociedade. O ato de ler implica determinadas regulações,<br />
as quais passam, predominantemente, pelo espaço escolar, cimentando as<br />
relações entre criança e escola. Desse modo, a leitura articula, ao mesmo tempo,<br />
prazer e obrigação, tornando-os indissociáveis (é preciso gostar de ler!), o que<br />
exerce sobre outros discursos uma espécie de pressão e um poder de coerção,<br />
estabelecendo um saber sobre a infância que investe na criança e normatiza<br />
condutas.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar<br />
Editores, 1981.<br />
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: UNESP,<br />
1999.<br />
CORAZZA, Sandra Mara. História da infância sem fim. Ijuí: Unijuí, 2000.<br />
FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos IV. Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro:<br />
Forense Universitária, 2003.<br />
GHIRALDELLI, Paulo Jr. As concepções de infância e as teorias educacionais<br />
modernas e contemporâneas. Educação e Realidade, v.4, n. 1, p. 45-58, dezjan/jul.<br />
2000.<br />
GOULART, Maria Alice H. O prazer como imperativo, a literatura como meio, os<br />
corpos dóceis como fim. O micropoder dos catálogos de livros infantis.<br />
Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,<br />
2000.<br />
GOULEMOT, J. M. Da leitura como produção de sentidos. In: CHARTIER, Roger<br />
(Org.). Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. p. 107-116.<br />
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história &<br />
histórias. 6 ed. São Paulo: Ática, 1999.<br />
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. Em busca de informações. In<br />
___________________. A construção do saber: manual de metodologia da<br />
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artemed; Belo Horizonte: UFMG,<br />
1999. p. 165-195.<br />
MACHADO, R. Introdução: por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, M.<br />
Microfísica do poder. 10. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1992. p. vII-XXIII.<br />
MAFRA, Nubia Delame F. Leituras à revelia da escola. Londrina: Eduel. 2003.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 90-97, 2010.
88<br />
MORAIS, J. de F. S. Histórias e narrativas na educação infantil. In: GARCIA, R. L.<br />
(Org.). Crianças, essas conhecidas tão desconhecidas. Rio de Janeiro: DP&A,<br />
2002. p. 81-102.<br />
PAULINO, G.; WALTY, I.; FONSECA, M.N.; CURY, M.Z. Tipos de texto, modos de<br />
leitura. Belo Horizonte: Formato, 2001.<br />
MORTATTI, Mara do Rosário L. Leitura crítica da literatura infantil. Leitura: Teoria<br />
e Prática, 2000, p.11-16, ano 19, n. 36.<br />
NARODOWSKI, Mariano. Infância e poder: conformação da pedagogia moderna.<br />
Bragança Paulista: Editora da Universidade São Francisco, 2001.<br />
VÍCTORA, C.G.; KNAUTH, D.R.; HASSEN, M.N.A. Pesquisa qualitativa em saúde:<br />
uma introdução ao tema. Porto Alegre: Tomo editoral, 2000.<br />
ZILBERMAN, Regina; MAGALHÃES, Lígia C. Literatura infantil: autoritarismo e<br />
emancipação. 3 ed. São Paulo: Ática, 1987.<br />
ZILBERMAN, Regina. Fim do livro, fim dos leitores? São Paulo: SENAC, 2001.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 90-97, 2010.
MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO:<br />
ESTRATÉGIAS IDENTITÁRIAS E AÇÃO POLÍTICA<br />
RESUMO<br />
Rafael Petry Trapp 1<br />
Mozart Linhares da Silva 2<br />
O presente artigo visa analisar o processo de construção das estratégias<br />
identitárias e de ação política do Movimento Negro no Brasil contemporâneo. A<br />
atuação do Movimento provocou, a partir do final dos anos 70, uma rediscussão<br />
da identidade nacional e um processo de ressignificação identitária. Nos anos 90<br />
mudanças ocorreram no interior do Movimento Negro, que, através do diálogo<br />
com o Estado brasileiro, teve sua agenda política alçada à esfera pública.<br />
Contudo, enfatiza-se que é no contexto da participação do Movimento na<br />
Conferência Mundial contra o Racismo da ONU, realizada em Durban, na África do<br />
Sul, em 2001, que o antirracismo e a “questão racial” sofrem mudanças<br />
profundas no Brasil. No contexto pós-Durban, as “ações afirmativas” tornam-se a<br />
principal bandeira do Movimento Negro, que, paralelamente a um processo de<br />
diferenciação interna, tem seu discurso político-identitário transnacionalizado,<br />
através do deslocamento de uma identidade nacional para uma identidade étnica.<br />
Palavras-chave: Antirracismo. Movimento Negro. Identidade Negra. Conferência<br />
de Durban.<br />
ABSTRACT<br />
This paper aims to analyze the process of building identity strategies and political<br />
action of the Black Movement in contemporary Brazil. The performance of the<br />
Movement led, from the late '70s, a renewed discussion of national identity and a<br />
process of redefinition of identity. In the '90s, changes occurred within the Black<br />
Movement, which, through a dialogue with the Brazilian government, had lifted its<br />
political sckedule into the public area. However, we emphasize that it is in the<br />
context of participation of the Movement in the UN`s World Conference Against<br />
Racism, held in Durban, South Africa, in 2001, which the anti-racism and the<br />
"racial question" sustained deep changes in Brazil. In the post-Durban context,<br />
1 Acadêmico do curso de História da UNISC e bolsista PUIC voluntário, vinculado ao projeto<br />
“Movimentos Sociais Anti-racismo e Políticas Educacionais no Brasil (1970-2009): História do<br />
discurso racial e Educação como estratégia identitária”, coordenado pelo Dr. Mozart Linhares<br />
da Silva, no PPGEDU/UNISC. E-mail rafaelpetrytrapp@hotmail.com<br />
2 Doutor em História pela PUCRS, com extensão em Coimbra e Professor do Programa de Pósgraduação<br />
em Educação e do Curso de História na UNISC<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 98-107, 2010.
90<br />
“affirmative action” becomes the main flagship of the Black Movement, which,<br />
along with a process of internal differentiation, has its political and identity<br />
discourse transnationalized, through the displacement of a nation identity to an<br />
ethnic identity.<br />
Keywords: Anti-racism. Black Movement. Black Identity. Durban Conference.<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
A discussão da temática do antirracismo, da identidade negra e das relações<br />
étnico-raciais no Brasil adquiriu, nas últimas décadas, uma proporção inédita,<br />
ensejando um aumento significativo na produção acadêmica e potencializando o<br />
debate público sobre o tema. Tema historicamente central na discussão da<br />
identidade brasileira, a chamada “questão racial” vem sendo pensada e elaborada<br />
das mais diversas formas, sob olhares diversos e perspectivas muitas vezes<br />
conflitantes. Um dos principais fatores que, contemporaneamente, auxiliam na<br />
tarefa de compreensão do revival das discussões concernentes à questão racial e<br />
do revigoramento de posições e lugares identitários é a emergência dos<br />
movimentos sociais antirracismo no Brasil contemporâneo.<br />
Não há como pensar historicamente o antirracismo no Brasil sem considerar<br />
o papel fundamental que esses movimentos sociais têm tido ao longo das últimas<br />
décadas. Mais conhecidos pela denominação de “Movimento Negro”, esses<br />
movimentos sociais têm uma trajetória bastante interessante e específica, no<br />
sentido de que suas reivindicações, proposições e estratégias de ação política na<br />
luta antirracista têm se constituído em inflexões importantes na história do Brasil<br />
e na maneira como se tem pensado a identidade nacional e as delicadas questões<br />
de cunho étnico-racial na constituição histórica e sociocultural brasileira.<br />
Assim, o presente trabalho visa contribuir para o estudo da história do<br />
antirracismo no Brasil, em especial a história e atuação do Movimento Negro<br />
contemporâneo. Entende-se por Movimento Negro contemporâneo o conjunto e a<br />
pluralidade dos movimentos sociais antirracismo que têm surgido e se organizado<br />
no Brasil desde o final dos anos 1970. Pretende-se analisar neste artigo a<br />
constituição das estratégias identitárias e o processo de construção da ação<br />
política do Movimento Negro no Brasil contemporâneo, destacando a influência da<br />
Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em Durban, na África do Sul, em<br />
2001, e o intenso diálogo estabelecido, de um lado, entre o Movimento Negro<br />
brasileiro e o Estado brasileiro, e, de outro, com os movimentos antirracismo<br />
internacionais, sobretudo a partir do final dos anos 90.<br />
A metodologia adotada neste trabalho basear-se-á, além de revisão<br />
bibliográfica concernente ao tema da pesquisa, na análise documental. Desta<br />
forma, tomam-se como fontes principais a produção escrita e depoimentos de<br />
militantes e intelectuais ligados ao Movimento Negro, documentos produzidos por<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 98-107, 2010.
91<br />
esse mesmo movimento, como o Estatuto do Movimento Negro Unificado e<br />
documentos oficiais, como a Declaração Final de Durban.<br />
O recorte temporal que se apresenta mais pertinente é o que concerne ao<br />
período de fundação do Movimento Negro Unificado (MNU) – um dos mais<br />
importantes e paradigmáticos movimentos antirracismo brasileiros –, em 1978,<br />
em São Paulo, até o ano de 2010, quando da aprovação, pelo Congresso<br />
Nacional, do Estatuto da Igualdade Racial, documento que consubstancia uma<br />
inflexão de cunho político-identitária fundamental na história contemporânea<br />
brasileira.<br />
2 MOVIMENTO NEGRO CONTEMPORÂNEO: IDENTIDADE E<br />
CONSCIÊNCIA NEGRA<br />
No final dos anos 70, surge, em todo o Brasil, uma série de movimentos<br />
sociais, com as mais diversas configurações, demandas e reivindicações.<br />
Organizados em torno da luta comum pela democracia, esses movimentos<br />
impõem-se como novos atores e forças sociais. No contexto da chamada abertura<br />
democrática, a partir dos anos 70, emerge e se organiza também uma série de<br />
movimentos e organizações sociais de caráter antirracista. Assim, em 1978, iniciase,<br />
em São Paulo, o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial<br />
(MNUCDR).<br />
Esse movimento reunia em si e em sua denominação outros movimentos<br />
sociais negros e/ou antirracismo. Mais tarde, denominado apenas Movimento<br />
Negro Unificado (MNU), será referência para a luta antirracista em todo o Brasil.<br />
O MNU constituiu-se como um movimento de caráter popular e democrático, e<br />
tinha como principais fins o combate ao racismo, a luta contra a discriminação<br />
racial e o preconceito de cor (MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO apud MOURA,<br />
1983). Em que pese o MNU reivindicar um discurso de união dos negros<br />
brasileiros, esse nunca se confirmou na prática. Nesse sentido, Silva enfatiza que<br />
A organização do Movimento Negro brasileiro, no entanto, deve<br />
ser entendida em suas particularidades e ambiguidades. Não se<br />
pode falar de um movimento unificado e combativo desde sua<br />
fase inicial de organização (2007, p. 76).<br />
O MNU, ao mesmo tempo em que se caracterizava como um movimento de<br />
reivindicação, protesto e denúncia das iniquidades raciais sofridas pelos negros no<br />
Brasil, pela luta contra a opressão e pela emancipação do negro, procurou<br />
desconstruir o mito e combater o discurso da chamada “democracia racial”. No<br />
bojo da desconstrução do mito da democracia racial, o Movimento Negro proporá<br />
uma rediscussão da identidade nacional. A “democracia racial” constituía, a saber,<br />
o paradigma balizador da compreensão identitária nacional, especialmente a<br />
partir da década de 30, quando das vogas modernistas no pensamento social e da<br />
presença do governo de Vargas, que arrogava união nacional. Para Silva (2007, p.<br />
55),<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 98-107, 2010.
92<br />
A democracia racial, enquanto estratégia identitária induzida<br />
politicamente, tem no período Vargas um arranjo pontuado, e<br />
visava construir um amalgama nacional que viabilizasse não só<br />
uma noção de homogeneidade nacional não-conflituada, nem<br />
mesmo de classe, mas acentuasse a idéia de povo unificado [...].<br />
Se essa identidade e as relações étnico-raciais eram pensadas até esse<br />
momento, de maneira a conformar uma “democracia racial”, a desconstrução<br />
desse mito, apoiada, além disso, em numerosas e consistentes pesquisas<br />
acadêmicas (Cf. FERNANDES, 1965; CARDOSO, 1962; HASENBALG, 1979), levará<br />
a uma problematização identitária, posto que a realidade de desigualdade entre<br />
negros e brancos tornava a ideia de “democracia racial” insustentável.<br />
A atuação da militância e de acadêmicos e intelectuais ligados ao Movimento<br />
Negro, como Abdias do Nascimento, levou, portanto, a uma problematização e<br />
rediscussão da identidade brasileira, inserindo novos temas e questões a essa<br />
discussão, mormente a questão racial. Em contrapartida, essa articulação levou a<br />
um processo de ressignificação identitária, através da reivindicação de uma<br />
identidade e de uma consciência racial negras. A questão da consciência negra é<br />
de suma importância, no sentido de que permitiu constituir mecanismos de<br />
fortalecimento do movimento e articular o processo de ressignificação identitária<br />
entre os militantes e os negros no Brasil. Assim, para Costa (2006, p. 144),<br />
Os conceitos ‘consciência’ e ‘conscientização’ passam a ocupar,<br />
desde a fundação do MNU, lugar decisivo na formulação das<br />
estratégias do movimento. Trata-se da tentativa de esclarecer a<br />
população negra sobre sua posição desvantajosa na sociedade,<br />
para, assim, constituir<br />
o sujeito político da luta antirracista.<br />
A discussão acerca da identidade nacional sofre um revés e ganha novos<br />
contornos. De uma identidade nacional ancorada na noção da não conflitualidade<br />
étnico-racial passa-se à reivindicação e à consciência de uma identidade negra,<br />
com olhos voltados para a África e para os negros da diáspora decorrente da<br />
escravidão colonial, marcados pelo passado comum de escravidão, opressão e<br />
racismo. As influências externas são muitas, mas pode-se destacar, no que se<br />
refere aos referenciais para a constituição da ação política do Movimento Negro<br />
brasileiro, os movimentos dos negros pelos direitos civis nos Estados Unidos e os<br />
africanos de caráter nacionalista, em decorrência do processo de descolonização<br />
na África. Amílcar Araújo Pereira salienta que<br />
Embora a circulação de referenciais não fosse a mesma das<br />
décadas anteriores, é interessante perceber como o movimento<br />
negro que surge nesse momento procura informações sobre as<br />
lutas travadas por populações negras, tanto nos Estados Unidos<br />
quanto nos países africanos, para informar o próprio movimento e<br />
também para sensibilizar a sociedade brasileira sobre a questão<br />
racial no país (2008, p. 226)<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 98-107, 2010.
93<br />
A ligação com a África torna-se central para o movimento negro também no<br />
sentido de ressignificar a identidade. A designação afro, por exemplo, tornou-se<br />
adjetivo para práticas e adscrições identitárias. Na década de 80, o discurso de<br />
ligação com a África se popularizou. Esse discurso, que começou a ser<br />
reivindicado no final década 70, com a formação do próprio MNU, consolida-se no<br />
contexto pós-Durban, como veremos mais adiante. A memória africana é crucial,<br />
portanto, para conformar a identidade negra e potencializar o alcance da luta do<br />
Movimento Negro (SILVA, 2007).<br />
A experiência diaspórica torna-se essencial nesse sentido, servindo de<br />
referencial para pensar a identidade negra no Brasil e os negros onde quer que a<br />
dispersão da diáspora negra os tenha levado (Cf. GILROY, 2001). A influência de<br />
intelectuais negros é marcante para a estratégia de conscientização dos negros<br />
no Brasil. Destarte, nomes como os de Franz Fanon, Marcus Garvey, Aimé<br />
Cesaire, Léopold Senghor, entre outros, tornam-se referência constante para a<br />
militância negra brasileira (ALBERTI; PEREIRA, 2007).<br />
A influência do Movimento Negro norte-americano, por sua vez, pode ser<br />
pensada sob vários aspectos. Além das referências de cunho estético-cultural,<br />
com o movimento Black is Beautiful e a música negra norte-americana, as<br />
práticas de ação política e as estratégias identitárias comungam de princípios<br />
comuns. Esses princípios estão em parte ancorados em algumas experiências<br />
adotadas nos Estados Unidos, qual sejam, as políticas de ações afirmativas e a<br />
adoção do paradigma multiculturalista para pensar as relações étnico-raciais no<br />
Brasil. Nesse sentido, Silva considera que<br />
O estreitamento dos laços entre os vários Movimentos [...] com o<br />
Movimento Negro norte-americano foi, sem dúvida, um<br />
importante passo para a definição conceitual das bases<br />
unificadoras das lutas contra o racismo no mundo ocidental.<br />
(2010, pp. 12-13).<br />
Sob a influência, portanto, desses movimentos internacionais, a luta<br />
antirracista, capitaneada pelo Movimento Negro Unificado e por outras<br />
organizações negras, potencializar-se-á no decorrer dos anos 80, na esteira das<br />
profundas transformações advindas com o restabelecimento da democracia no<br />
Brasil. Constituiu-se simbolismo importante para o Movimento Negro que o ano<br />
da aprovação da nova constituição democrática, 1988, coincidisse com o<br />
centenário da abolição da escravatura. O Movimento Negro aproveitou-se dessa<br />
data para denunciar as mazelas vividas pela população negra no Brasil e reforçar<br />
os direitos de cidadania e de igualdade legal para os afrodescendentes, para além<br />
de qualquer comemoração da Abolição, que, por sinal, foi denunciada como<br />
“farsa” (COSTA, 2006).<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 98-107, 2010.
94<br />
3 MOVIMENTO NEGRO E ESFERA PÚBLICA: A CAMINHO DE<br />
DURBAN<br />
Os anos 90 serão sumamente importantes para o Movimento Negro, pois é a<br />
partir desse período que o Movimento passará a estabelecer um diálogo intenso<br />
com o governo brasileiro. Em 1995, assumirá a presidência da República<br />
Fernando Henrique Cardoso, sociólogo da geração uspiana formada sob a guarda<br />
intelectual de Florestan Fernandes. Em 1995, ano do tricentenário da morte de<br />
Zumbi ocorre a Marcha Zumbi dos Palmares, em Brasília, com a participação de<br />
milhares de pessoas e de dezenas de movimentos e organizações antirracistas. É<br />
consenso que a Marcha representou um momento decisivo para o Movimento<br />
Negro contemporâneo. Na opinião da intelectual e militante Sueli Carneiro, a<br />
Marcha<br />
Foi o fato político mais importante do movimento negro<br />
contemporâneo. Acho que foi um momento também emblemático,<br />
em que nós voltamos para as ruas com uma agenda crítica muito<br />
grande e com palavras de ordem muito precisas que expressavam<br />
a nossa reivindicação de políticas públicas que fossem capazes de<br />
alterar as concepções de vida da nossa gente. Foi um processo<br />
rico, extraordinário (ALBERTI; PEREIRA, 2007, p. 345).<br />
O Governo Federal, cujo presidente foi o primeiro na história do Brasil a<br />
reconhecer publicamente a existência das iniquidades raciais em relação aos<br />
negros, propõe, em resposta às demandas do Movimento Negro apresentadas na<br />
Marcha, a criação do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da<br />
População Negra (GTI), no âmbito da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos<br />
(SNDH). A criação desse órgão é um marco, no sentido de que aí se inicia de<br />
maneira intensa e profícua uma relação entre o governo brasileiro e o Movimento<br />
Negro, e começam a ser discutidas políticas públicas envolvendo a questão racial.<br />
Com a participação de representantes do Movimento na SNDH e no contexto<br />
da profissionalização observada no Movimento Negro – com o surgimento de<br />
importantes ONGs antirracismo, como a Geledés e a Fala Preta! – a questão racial<br />
e as demandas do Movimento Negro entram definitivamente na pauta da agenda<br />
política nacional. Estava selada uma relação que se tornaria ainda mais forte nos<br />
anos seguintes, já no contexto de preparação para a Conferência de Durban, e<br />
que potencializaria o debate e a efetiva implementação de políticas públicas para<br />
a população negra brasileira. No âmbito da SNDH é criado, em 2000, o Comitê<br />
Nacional de preparação para a Conferência de Durban.<br />
A atuação do comitê articulará os movimentos sociais e o governo brasileiro,<br />
através de dezenas de reuniões e seminários. Assim, as discussões giraram em<br />
torno da produção de um relatório sobre as condições de vida dos negros<br />
brasileiros e das relações étnico-raciais no Brasil, a ser apresentado na<br />
Conferência Regional das Américas, realizada em Santiago do Chile, como<br />
preparação para a Conferência Mundial de Durban. O relatório enfatizava a<br />
existência de racismo e de preconceito em ralação aos negros no Brasil. Um dos<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 98-107, 2010.
95<br />
pontos mais polêmicos do relatório foi a reivindicação de medidas de reparação e<br />
a adoção de ações afirmativas para a população negra, por parte do poder<br />
público. O Movimento Negro viveu um momento único de união em função de<br />
Durban, havendo uma articulação sem precedentes no que se refere à obtenção<br />
de consensos norteadores para a participação do Movimento na Conferência.<br />
Convocada pela ONU em 1997, a Conferência Mundial Contra o Racismo, a<br />
Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância Correlata, foi realizada em<br />
Durban, na África do Sul, em 2001. No país de Nelson Mandela, que havia<br />
enfrentado décadas de segregação oficial, o apartheid, a ONU, governos<br />
nacionais, ONGs e movimentos sociais de todo o planeta se reuniram para discutir<br />
as questões do racismo, da intolerância e da xenofobia na contemporaneidade.<br />
Em que pese as discussões da Conferência tenham levado a tensões envolvendo<br />
a questão do sionismo e da política israelense em relação aos palestinos, o<br />
Movimento Negro brasileiro teve uma atuação destacada na Conferência, no<br />
sentido de que muitas de suas propostas e reivindicações encontraram eco e<br />
respaldo perante a comunidade internacional, tornando-se a Conferência um<br />
marco na história do antirracismo brasileiro.<br />
A Conferência de Durban é significativa no sentido de que, a partir da<br />
participação da delegação brasileira no evento, houve a redefinição das<br />
estratégias de ação política para os movimentos antirracismo nacionais a partir de<br />
estratégias comuns. Muitas das reivindicações do Movimento Negro foram,<br />
inclusive, incluídas no documento final de Durban (ONU, 2002). Nesse sentido,<br />
pode-se apontar importantes mudanças na constituição do antirracismo e do<br />
Movimento Negro no Brasil no contexto pós-Durban. Considerando a importância<br />
de Durban para o antirracismo no Brasil, Costa (2006, p. 150) enfatiza que<br />
Para a política interna brasileira, a Conferência da ONU contra o<br />
racismo de 2001 representa um importante ponto de inflexão, já<br />
que, pela primeira vez, ocorreu um debate de amplitude nacional<br />
sobre o racismo, apresentando-se novos dados e argumentos que<br />
comprovam, de forma irrefutável, a discriminação contra os<br />
afrodescendentes.<br />
Vários são os pontos de inflexão e mudança que podem ser apontados no<br />
contexto pós-Durban. O exemplo mais sintomático nesse processo são as políticas<br />
de ações afirmativas, a partir de Durban, como a principal bandeira do Movimento<br />
Negro. A questão das chamadas “cotas” passou a constituir ponto central na<br />
agenda do Movimento. Além disso, a efetiva implementação de ações afirmativas<br />
para negros – como no vestibular da UERJ, em 2002, portanto logo após a<br />
Conferência – levou a que uma das principais demandas do Movimento Negro,<br />
qual seja, a da existência de um debate público sobre a questão racial no Brasil,<br />
ocorresse em grande amplitude. Para Alberti e Pereira (2006, p. 159)<br />
A questão das cotas e, de forma mais ampla, das ações<br />
afirmativas é, com certeza, uma novidade com um vasto potencial<br />
de mudança social, que incide não apenas sobre as possibilidades<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 98-107, 2010.
96<br />
de estudo e trabalho de afrodescendentes, mas sobre as<br />
representações que a sociedade brasileira produz sobre si mesma,<br />
em especial as camadas média e alta, pouco acostumadas a<br />
conviver de forma igualitária com pretos e pardos. Nesse sentido,<br />
a discussão provocada pela frase incluída no documento de<br />
Durban é profícua e bem-vinda.<br />
Observe-se também uma marcada diferenciação interna no Movimento<br />
Negro. Com o surgimento e a visibilização de várias ONGs antirracistas e o<br />
fortalecimento dos movimentos de mulheres negras – aliás, a presença brasileira<br />
mais importante na Conferência de Durban, cuja relatora foi a militante do<br />
Movimento Negro brasileiro Edna Roland – amplia-se a discussão da política da<br />
diferença no interior do próprio Movimento, que se torna mais heterogêneo. É<br />
também no contexto da Conferência que se oficializa a utilização e a positivação<br />
da designação “afrodescendente” no lugar de “negro”, conforme relato de Edna<br />
Roland (apud ALBERTI; PEREIRA, 2007).<br />
Outra questão fundamental que pode ser observada no contexto pós-Durban<br />
é o processo de transnacionalização do discurso do Movimento Negro,<br />
deslocando-se a identidade nacional para uma identidade étnico-racial. Esse<br />
processo se dá em função do relacionamento constante estabelecido entre o<br />
Movimento Negro brasileiro com outras organizações e movimentos sociais<br />
antirracismo internacionais, sobretudo latinos e norte-americanos, além do<br />
surgimento de redes de cooperação binacionais e transnacionais. Apesar disso, é<br />
interessante salientar que a questão do intercâmbio internacional já estava entre<br />
os fins do MNU desde a sua fundação (MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO apud<br />
MOURA, 1983). Destacam-se as redes antirracistas de cooperação internacional<br />
La Alianza e a Rede Latino-Americana e Caribenha de Mulheres Negras. Nesse<br />
sentido, López assevera que<br />
A Conferência de Durban inaugurou um momento de<br />
protagonismo dos movimentos afro-latino-americanos na arena<br />
transnacional, colocando em primeiro plano noções de justiça<br />
baseadas nas experiências diaspóricas na América Latina, que<br />
chamam a atenção para a convergência de igualdade social e<br />
pluralismo cultural (2009, p. 357).<br />
A Conferência de Durban representa, portanto, um importante momento<br />
para a história do Movimento Negro no Brasil, pois, além da transnacionalização<br />
do discurso no sentido político-identitário, suas estratégias de ação política<br />
ganharam força ao serem traduzidas, posteriormente, na implementação de uma<br />
série de políticas públicas de caráter afirmativo (HERINGER, 2002). O debate<br />
público sobre a questão racial potencializou-se, provocando, além disso, a<br />
irrupção de posições extremadas na opinião pública e de debates acadêmicos que<br />
têm se conformado, grosso modo, na oposição entre os intelectuais racialistas e<br />
os nãoracialistas.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 98-107, 2010.
97<br />
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
O estudo da história do Movimento Negro contemporâneo no Brasil fornece<br />
subsídios importantes para pensar as discussões contemporâneas sobre<br />
identidade, etnicidade, racismo e cidadania, entre outros temas, e a maneira<br />
como o debate desses conceitos se relacionam com a constituição das estratégias<br />
identitárias e de construção da ação política do Movimento Negro brasileiro.<br />
Tentou-se neste trabalho entender como o Movimento Negro constrói suas<br />
estratégias de ação política. Constatou-se que uma das principais estratégias foi a<br />
de afirmar, para a militância e os negros brasileiros, a consciência de uma<br />
negritude e rediscutir a identidade nacional.<br />
Nos anos 90 o Movimento Negro passou por intensas transformações, ao<br />
tornar-se profissional e realizar um diálogo com o Estado, processo que alçou as<br />
proposições e as demandas do Movimento para a esfera pública. O que se<br />
evidencia é que, do período do governo de Fernando Henrique Cardoso aos dias<br />
atuais, o Movimento Negro tem sua articulação política potencializada. Contudo, é<br />
somente a partir da Conferência de Durban que se efetiva a transnacionalização<br />
do discurso, a partir do definitivo deslocamento de uma identidade nacional para<br />
uma étnico-racial negra. Esse processo de deslocamento identitário coaduna-se<br />
com a série de políticas públicas levadas a cabo no contexto pós-Durban, o que<br />
reafirma a importância crucial que a Conferência de Durban representa para o<br />
antirracismo, para a ação política e para a agenda do Movimento Negro no Brasil<br />
contemporâneo.<br />
REFERÊNCIAS<br />
ALBERTI, Verena; PEREIRA, A. Araújo (Org.). Histórias do Movimento Negro no<br />
Brasil: depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: Pallas/CPDOC-FGV, 2007.<br />
COSTA, Sérgio. Dois Atlânticos: teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo. Belo<br />
Horizonte: Editora UFMG, 2006.<br />
______. Política, esfera pública e novas etnicidades. <strong>Revista</strong> Internacional<br />
Interdisciplinar Interthesis, Florianópolis, v. 2, n. 1, p. 01-21, 2005.<br />
HERINGER, Rosana. Ação afirmativa e combate às desigualdades raciais no Brasil:<br />
o desafio da prática. Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2002, Ouro<br />
Preto. Anais... 16 p. Disponível em: . Acesso em 21/06/2010.<br />
LÓPEZ, Laura. “Que a América Latina se sincere”: uma análise das políticas e das<br />
poéticas do ativismo negro em face às ações afirmativas e às reparações no Cone<br />
Sul. Porto Alegre: PPGAS/UFRGS – Tese de Doutorado, 2009.<br />
MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO. Estatuto do MNU. II Congresso Nacional do<br />
MNU Belo Horizonte, 1981. In: MOURA, Clóvis. Brasil: raízes do protesto negro.<br />
São Paulo: Global, 1983.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 98-107, 2010.
98<br />
ONU. Declaração e Plano de Ação da III Conferência Mundial de Combate ao<br />
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. Brasília:<br />
Fundação Cultural Palmares, 2002.<br />
PEREIRA, A. Araújo. Influências externas, circulação de referenciais e a<br />
constituição do movimento negro contemporâneo no Brasil: idas e vindas no<br />
“Atlântico Negro”. Ciências e Letras: Porto Alegre, n. 44, p. 215-236, jul./dez.<br />
2008.<br />
SILVA, Marcelo L. da. A história no discurso do Movimento Negro Unificado: os<br />
usos políticos da história como estratégia de combate ao racismo. Campinas, SP,<br />
2007. Dissertação. (Programa de pós-graduação em História) – UNICAMP,<br />
Campinas, 2007.<br />
SILVA, M. Linhares da. Considerações sobre o dilema entre cor/raça/mestiçagem<br />
e ações afirmativas no Brasil. Reflexão & Ação, Santa Cruz do Sul, v. 18, n.1, p.<br />
08-29, 2010.<br />
______. Educação, etnicidade e preconceito no Brasil. Santa Cruz do Sul:<br />
EDUNISC, 2007.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 98-107, 2010.
Ciências<br />
Humanas
100<br />
ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS<br />
Na área de Ciências Sócias Aplicadas entre os 40 trabalhos apresentados no<br />
evento, 77,5% foram de alunos bolsistas de Iniciação Científica da Universidade,<br />
e 22,5% de trabalhos de alunos de IC vinculados a outras Instituições de Ensino<br />
do Estado do Rio Grande do Sul. A maioria dos trabalhos nesta área foi de<br />
bolsistas do Programa UNISC de Iniciação Científica – PUIC, seguida dos<br />
Programas de bolsa PIBIC/CNPq, PROBIC/FAPERGS e PUIC voluntário,<br />
apresentados na Figura 04.<br />
14<br />
Trabalhos apresentados na Área de Ciências Sociais Aplicadas no<br />
XVI Seminário de Iniciação Científica da UNISC<br />
Nº de Trabalhos<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
Área de<br />
Ciências<br />
Sociais<br />
Aplicadas<br />
0<br />
PUIC<br />
PIBIC/CNPq<br />
PROBIC/FAPERGS<br />
Outras Bolsas<br />
PUIC VOLUNTÁRIO<br />
Tipo de bolsa relacionada aos trabalhos apresentados<br />
Figura 04 – Modalidade de bolsas dos estudantes participantes do XVI Seminário de<br />
Iniciação Científica na Área de Ciências Sociais Aplicadas.<br />
Fonte: Coordenação de Pesquisa, UNISC, 2010.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 109-117, 2010.
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS: UMA ANÁLISE DO SETOR<br />
METAL-MECÂNICO NA REGIÃO DOS VALES DO RIO PARDO E<br />
TAQUARI<br />
Rejane Maria Alievi 1<br />
Heron Sérgio Moreira Begnis 2<br />
Gabriella Azeredo Azevedo 3<br />
Maurício Rennhack Stein 3<br />
RESUMO<br />
Este artigo buscou interpretar os objetivos e o andamento do presente projeto,<br />
considerando que assuntos relacionados a cooperação, desenvolvimento regional,<br />
vantagens competitivas têm se tornado cada vez mais importantes no âmbito<br />
nacional e internacional. Assim, analisou-se a prática do APL como forma de<br />
reorganizar a conjuntura atual, frente a esses grandes atores do mercado que<br />
impedem a inserção e/ou a sobrevivência de pequenas empresas.<br />
Palavras-chave: Arranjo Produtivo Local. Cooperação. Indústria metalmecânica.<br />
ABSTRACT<br />
This article sought to interpret the objectives and the current course of the<br />
project, since the subjects related to cooperation, regional development, and<br />
competitive gains have become more important in national and international<br />
range. Having that in mind, we analyzed the practice of the Local Productive<br />
Arrangement as a way of reorganizing the current conjuncture, facing the big<br />
actors of a market, who prevent insercion and/or the survival of the small<br />
companies.<br />
Keywords: Local Productive Arrangement. Cooperation. Metal-mechanic industry<br />
1 Professora Adjunta do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade de Santa Cruz<br />
do Sul/UNISC; Doutora em Administração na Área deTecnologia em Produção/PPGA/UFRGS;<br />
Mestre em Economia na Área de Economia Industrial/PPGE/UFRGS.<br />
2 Professor Adjunto do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade de Santa Cruz do<br />
Sul – UNISC; Mestre em Economia Rural (IEPE/UFRGS) e Doutor em Agronegócio<br />
(CEPAN/UFRGS).<br />
3 Bolsistas do projeto. Acadêmicos do curso de Relações Internacionais, UNISC.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 109-117, 2010.
102<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
Através do projeto “Cooperação, Capacitação Tecnológica e Inovação no<br />
Arranjo Produtivo Metal Mecânico da Região Funcional 2/RS-Brasil” buscou-se<br />
pesquisar e analisar o mercado, a produção, a cooperação e o desenvolvimento<br />
das empresas que compõem o setor metal-mecânico nas regiões do Vale do Rio<br />
Pardo e Taquari. As cidades estudadas fazem parte da Região Funcional 2<br />
(classificadas, assim, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul a partir das<br />
especificidades de cada uma). No total, as duas regiões – ou, os dois vales –<br />
possuem 61 municípios e uma população de 742 mil habitantes (base de dados<br />
sistema FIERGS).<br />
Antes de explicar os focos de análise do projeto, é importante citar o<br />
conceito de Arranjos Produtivos Locais, de acordo com o Ministério Nacional de<br />
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2009). Pelo Termo de Referência<br />
elaborado pelo Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais<br />
(GTP APL), um APL deve ter um número significativo de empreendimentos no<br />
território e de indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva<br />
predominante e que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum<br />
mecanismo de governança, podendo incluir pequenas, médias e grandes<br />
empresas.<br />
É objetivo do projeto identificar a existência ou não de um APL, bem como<br />
fomentar a criação do mesmo na região funcional 2-RS. A justificativa, por sua<br />
vez, é a de desenvolver o estudo na área metal-mecânica dado seu crescente<br />
desempenho e importância econômica. Desta forma, para entender o assunto e<br />
observar a evolução dos estudos sobre o tema (APL), julga-se necessário retomar<br />
alguns acontecimentos relevantes.<br />
2 RETOMADA HISTÓRICA, ANÁLISE TEÓRICA E APLICABILIDADE<br />
Com o esgotamento do modelo fordista de produção na década de 1970 –<br />
este baseado na presença dominante de grandes corporações de regime de<br />
produção verticalizada – houve a necessidade de reorganizar a produção global.<br />
Visando à diminuição dos desequilíbrios regionais, os Estados passaram a atuar<br />
de forma mais intensa na organização produtiva, bem como na economia de uma<br />
forma geral. Assim, algumas teorias foram sendo aprimoradas, outras<br />
substituídas, ao mesmo tempo em que políticas de desenvolvimento vinham<br />
sendo criadas.<br />
Alguns desequilíbrios, constatados em situações regionais/locais, fizeram<br />
com que a importância da produção flexível, da inovação e das vantagens<br />
competitivas crescesse, enquanto tema a ser abordado nas pautas de discussão.<br />
Para organizar este cenário, um instrumento utilizado é o da reformulação dos<br />
padrões tradicionais de localização das empresas através da descentralização,<br />
método este que resulta na formação dos arranjos produtivos locais (APLs).<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 109-117, 2010.
103<br />
Segundo Amim (2000), a principal razão para o estudo dos APLs é,<br />
justamente, permitir que pequenas empresas sobrevivam em um mundo de<br />
grandes firmas, renovando o significado da força do lugar ou da região como uma<br />
unidade de desenvolvimento econômico autossustentado. Marshall (1996) fala<br />
sobre os ganhos de produtividade que podem ser obtidos com a especialização do<br />
trabalho e das etapas de produção, criando – na sequência – o conceito de<br />
economias internas e externas, destacando-se, aqui, as externas que podem ser<br />
conseguidas através da concentração de pequenas empresas similares em<br />
determinadas localidades, o que vai bem ao encontro do tema proposto pelo<br />
projeto.<br />
Os ganhos obtidos em se estabelecer polos com presença de fatores de<br />
produção comuns (terra, trabalho, capital, energia, armazenagem e transporte)<br />
podem se resumir em melhorias no acesso e na manipulação desses fatores,<br />
resultando em aumentos de produtividade no longo prazo e queda dos preços.<br />
Também no longo prazo, cada unidade de produção localizada em um polo<br />
apresentará custos menores devido à presença de infraestrutura mais sólida e<br />
classes de trabalhadores e capital mais especializados do que se tivesse que<br />
importar esses fatores de outras localidades.<br />
É importante mencionar os estudos de Perroux (1967) sobre o crescimento<br />
que se manifesta em polos e depois se expande por diversos canais com efeitos<br />
variáveis sobre a economia. Isto encontra problemas em países “atrasados”, pois<br />
redes de preços, fluxo e antecipações não estão articulados.<br />
Para Perroux (1967), o desenvolvimento regional ocorre através de um<br />
sistema contendo uma grande empresa pioneira chamada de Motriz ou Indutora<br />
(que dita o crescimento e gera capital com o lucro das vendas) e uma série de<br />
empresas menores chamadas de Induzidas, que vendem fatores para a Motriz e<br />
se beneficiam de seu crescimento. Assim, teoricamente, ocorreria a distribuição<br />
de renda e crescimento. Mas pode ocorrer a chamada dispersão concentrada, na<br />
qual os polos de desenvolvimento não irradiam os benefícios para outros setores<br />
e localidades vizinhas, gerando sérios desequilíbrios econômicos.<br />
Tendo em vista o rápido crescimento dos trabalhos tratando do<br />
desenvolvimento regional, destaca-se o autor Cavalcante (2006) que elaborou<br />
uma base matemática para atribuição e classificação de APLs, diferenciando as<br />
etapas em: Infantes, <strong>Jovens</strong> e Maduras. Cavalcante (2006) criou um índice, a<br />
partir de três termos matemáticos: QL (Quoeficiente Locacional), que permite<br />
saber se uma cidade possui especialização em um setor especifico; PR<br />
(Participação Relativa), uma proporção que relaciona a importância do setor no<br />
município em âmbito nacional; por último o indicador Hirschman-Herfindahl, que<br />
capta em que medida a especialização do setor no município reflete um fenômeno<br />
do setor ou da estrutura industrial do município como um todo. Assim, pode-se<br />
calcular o IC (Índice de Concentração), onde são somados os três índices<br />
anteriores cada qual com um peso especifico.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 109-117, 2010.
104<br />
A partir daí as aglomerações são divididas nos três estágios citados<br />
anteriormente. Os infantes são os APLs de baixa concentração, nos quais o IC<br />
apresentado tem média inferior ou aproximada a 1,5. APLs jovens apresentam já<br />
uma heterogeneidade nos índices de concentração e os índices ficam entre 1,5 e<br />
9,8. Por sua vez, os APLs maduros têm alto nível de concentração com um índice<br />
médio de 17. Cavalcante (2006) também mostrou a relação de agências bancárias<br />
em cada setor, uma vez que o sistema financeiro é um forte ator nesta<br />
conjuntura. Assim o número, respectivamente, de agências em cada etapa é em<br />
média: 5, 8 e 30.<br />
3 METODOLOGIA<br />
Dando continuidade às pesquisas, o projeto avaliou as características e a<br />
evolução do setor metal-mecânico, alvo do estudo, a partir da série de dados do<br />
IBGE de 1996 a 2005. Decidiu-se, no entanto, separar a análise da seguinte<br />
forma: primeiramente foi estudado o setor em nível nacional (que se concentra<br />
no eixo Rio de Janeiro-São Paulo) e, após, foram analisadas as condições do setor<br />
no nível estadual. Esta distinção foi necessária para melhor visualizar as<br />
diferenças de cada região, conforme apontadas a seguir.<br />
As empresas localizadas na região do estudo passaram por um processo de<br />
seleção, de acordo com seu grau de importância para o foco do projeto. Portanto,<br />
foi dada maior atenção a algumas pelo seu porte e pela sua produção.<br />
As empresas escolhidas para aplicação de um questionário pertencem aos<br />
seguintes municípios: Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela,<br />
Lajeado, Roca Sales, Santa Cruz do Sul, Teutônia, Venâncio Aires, Vera Cruz e<br />
Westfália, gerando um total de mais de 60 empresas a serem analisadas.<br />
Atualmente o projeto encontra-se na etapa de tabulação e de análise das<br />
informações recolhidas. No entanto, obteve-se pouco menos de 50% de resposta<br />
dos empresários, fato que permite constatar como essas ideias ainda não estão<br />
difundidas no meio empresarial e, consequentemente, não geram tantos<br />
resultados quanto poderiam.<br />
Essas informações foram analisadas segundo a identificação da linha de<br />
códigos da CNAE 1.0. para os seguintes subsetores – Metalurgia básica (27),<br />
Fabricação de produtos de metal – exceto máquinas e equipamentos (28),<br />
Fabricação de máquinas e equipamentos (29), Fabricação de máquinas para<br />
escritório e equipamentos de informática (30), Fabricação de máquinas, aparelhos<br />
e materiais elétricos (31), Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e<br />
equipamentos de comunicações (32), Fabricação de equipamentos de<br />
instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos,<br />
equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (33), Fabricação<br />
e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias (34), Fabricação de<br />
outros equipamentos de transporte (35) e Reciclagem (37).<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 109-117, 2010.
105<br />
4 ANÁLISE DE DADOS<br />
Começando pela análise em nível nacional, utilizando-se dos conhecimentos<br />
já citados anteriormente, e aplicando-os ao resultado da análise dos dados,<br />
percebe-se um aumento considerável no número de empresas em quase todos os<br />
grupos de atividades do setor metal-mecânico, conforme gráfico abaixo:<br />
16 000<br />
14 000<br />
12 000<br />
10 000<br />
8 000<br />
6 000<br />
4 000<br />
2 000<br />
1996 2005<br />
27 28 29 30 31 32 33 34 35 37<br />
Subsetores<br />
Gráfico 1 - Número de empresas 1996-2005<br />
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial<br />
Anual.<br />
No entanto, é notável o desenvolvimento do número de empresas nas<br />
atividades de fabricação de produtos de metal e de fabricação de máquinas e<br />
equipamentos, que cresceram 62% e 51% (IBGE, 1996-2005), respectivamente,<br />
e do tamanho do aumento do número de empresas no setor de reciclagem, que<br />
foi de 704% (IBGE, 1996-2005), muito embora estes não tenham sido os setores<br />
cuja receita mais cresceu (que seriam os setores de metalurgia básica e de<br />
fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias).<br />
Com relação à receita, tanto a receita total quanto a receita líquida, a média<br />
do setor no nível nacional aumentou consideravelmente nestes nove anos, bem<br />
como o nível de industrialização. Alguns grupos de atividade tiveram aumento na<br />
receita total, apesar de apresentarem uma redução no valor de transformação<br />
industrial. Isto é, nos ramos de fabricação de máquinas e equipamentos e de<br />
fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de<br />
comunicações, ramos de alto nível de industrialização, os custos do processo<br />
industrial aumentaram mais do que o valor bruto desse processo.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 109-117, 2010.
106<br />
900 000<br />
800 000<br />
700 000<br />
600 000<br />
500 000<br />
400 000<br />
300 000<br />
200 000<br />
100 000<br />
1996 2005<br />
27 28 29 30 31 32 33 34 35 37<br />
Subsetores<br />
Gráfico 2 - Pessoal ocupado por categoria 1996-2005<br />
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial<br />
Anual.<br />
A questão da industrialização é ilustrada pelos dados acerca do número de<br />
trabalhadores no setor, já que o nível de pessoal ocupado caiu 50% (IBGE, 1996-<br />
2005) nesse período. Apenas um ramo do setor ampliou o nível de pessoal<br />
empregado: o ramo de reciclagem; porém, isso se deve ao grande aumento no<br />
número de empresas no ramo, que é de mais de 700% (IBGE, 1996-2005). Outro<br />
dado interessante é que esse foi um dos poucos ramos em que os salários<br />
subiram no período: cerca de 250% (IBGE, 1996-2005).<br />
Outros ramos onde os salários aumentaram foram os de fabricação de<br />
máquinas para escritório e equipamentos de informática, e de fabricação de<br />
outros equipamentos de transporte. O primeiro seria explicado pelo aumento da<br />
demanda interna de computadores e periféricos, o que aumenta a concorrência<br />
entre empresários do ramo para captar a escassa mão de obra com as<br />
qualificações necessárias para esse ramo; já o segundo aumento, cujo ramo inclui<br />
a fabricação de embarcações, é explicado pela grande dificuldade de obter mão<br />
de obra necessária para sua produção.<br />
Alterando o foco para o nível estadual, percebe-se algumas semelhanças nos<br />
dados da evolução do setor metal-mecânico entre o estado do Rio Grande do Sul<br />
e do Brasil. Por exemplo, o crescimento notável do número de empresas locais<br />
nos ramos de fabricação de produtos de metal e de fabricação de máquinas e<br />
equipamentos, que já possuíam em nosso Estado elevado número de empresas<br />
instaladas (IBGE, 1996-2005).<br />
Seguindo a análise, esses setores apresentam também grande evolução no<br />
número de pessoal empregado, fato que se repete em nível estadual no setor de<br />
fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias. É<br />
interessante salientar o desenvolvimento desse setor em quase todos os aspectos<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 109-117, 2010.
107<br />
analisados. O crescimento da receita líquida no ramo foi de 232% (IBGE, 1996-<br />
2005), apesar do grande aumento no valor de transformação industrial e no nível<br />
de salários do setor. Isso poderia ser explicado pelo elevado crescimento do<br />
número de operações industriais do ramo, indicando um aumento na demanda do<br />
mercado de automóveis.<br />
No caso do Rio Grande do Sul, o período 1996-2005 foi bastante benéfico<br />
para o setor metal-mecânico, dado o aumento considerável das exportações da<br />
região (tanto agrícolas quanto de produtos industrializados, como chassis de<br />
ônibus), o que contribuiu para o consumo desses produtos também na região, já<br />
que muitos dos produtores agrícolas mecanizaram suas produções. Além disso,<br />
muito do desenvolvimento do setor se deve à implantação da fábrica da General<br />
Motors em Gravataí, que alavancou a cadeia produtiva do ramo de automóveis.<br />
Dessa forma, destacam-se algumas diferenças entre o nível nacional do<br />
setor metal-mecânico e do nível estadual, e essas se encontram no nível de<br />
pessoal empregado e no nível de salários. O grande acúmulo de capital do eixo<br />
São Paulo-Rio de Janeiro gera uma forte competição entre as empresas do eixo.<br />
Assim, em nível nacional o número de pessoal empregado vem sofrendo redução,<br />
dada a necessidade de redução de custos das empresas. O estado do Rio Grande<br />
do Sul, porém, no período, beneficiou-se do aumento das exportações e da queda<br />
de IPI (imposto sobre produtos industrializados) ainda em 2004, resultando no<br />
aumento do consumo no setor, o que é constatável pelo aumento do número de<br />
empresas, seguido do aumento da produção dessas. Esse fato possivelmente se<br />
repetiu em 2008/2009, na segunda redução do IPI, como forma de impedir a<br />
queda brusca do consumo após a crise financeira em 2008.<br />
Percebendo a importância da análise acerca dos APLs e das características<br />
do setor anteriormente abordado no país, a pesquisa e os trabalhos foram<br />
guiados para um estudo das empresas e da forma de atuação dessas para a<br />
constatação, ou não, da existência de um arranjo produtivo local na região do<br />
Vale do Rio Pardo e do Taquari (Região Funcional 2/RS-Brasil). Então, através de<br />
uma listagem da FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do<br />
Sul), identificou-se a localização e a relevância das empresas do setor metalmecânico,<br />
passando a contatá-las, objetivando entender o processo produtivo, o<br />
planejamento, a criação de redes de cooperação entre outras questões.<br />
A organização responsável por congregar as empresas do setor no Rio<br />
Grande do Sul é o Sindicato Patronal Sinmetal (Sindicato das Indústrias Metal-<br />
Mecânicas, Material Elétrico e Eletrônico do Rio Grande do Sul). Dados do<br />
sindicato mostram que nos dois maiores municípios do Vale do Rio Pardo –<br />
considerando o número de habitantes de cada um –, em Santa Cruz do Sul e em<br />
Venâncio Aires, há, respectivamente, 120 (cento e vinte) e 65 (sessenta e cinco)<br />
empresas vinculadas. No Vale do Rio Taquari, por sua vez, os municípios com<br />
maior quantidade de empresas filiadas ao Sindicato são Lajeado, Estrela e<br />
Encantado, com, respectivamente, 98 (noventa e oito), 51 (cinquenta e uma) e<br />
24 (vinte e quatro) empresas do setor.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 109-117, 2010.
108<br />
A aglomeração das empresas produtoras do arranjo produtivo selecionado, e<br />
os demais agentes que atuam direta e indiretamente na cadeia, tendem a<br />
promover maiores laços de confiança e cooperação nas suas atividades. Essa<br />
cooperação emerge, de fato, quando as organizações visualizam ganhos<br />
competitivos eliminando dificuldades que, de outra forma, não teriam condições<br />
de conseguir isoladamente.<br />
Assim, o Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais<br />
criou o formulário para a apresentação do Plano de Desenvolvimento, a partir da<br />
metodologia que tem como principal eixo o reconhecimento e a valorização da<br />
iniciativa local, por meio de estímulo à construção de Planos de Desenvolvimento<br />
participativos, envolvendo necessariamente, mas não exclusivamente, instituições<br />
locais e regionais, na busca de acordo por uma interlocução local comum<br />
(articulação com os órgãos do Grupo de Trabalho) e por uma articulação local<br />
com capacidade para estimular o processo de construção do Plano de<br />
Desenvolvimento (agente animador).<br />
A metodologia de apoio aos APLs conta ainda com o nivelamento do<br />
conhecimento sobre as atuações individuais nos arranjos, bem como com o<br />
compartilhamento dos canais de interlocução local, estadual e federal e, por<br />
último, com o alinhamento das agendas das instituições para acordar uma<br />
estratégia de atuação integrada.<br />
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
A atual etapa do projeto não permite conclusões exatas, uma vez que<br />
análises ainda estão sendo feitas. No entanto, em relação ao objetivo inicial<br />
proposto, é possível projetar algumas interpretações frente aos mercados<br />
estudados.<br />
A pequena porcentagem de questionários respondidos por parte das<br />
empresas sinaliza para um arranjo, no qual, possivelmente, exista pouca<br />
cooperação entre as empresas. Assim, utilizando-se da análise de Cavalcante<br />
(2006), na região funcional em questão, o setor metal-mecânico apresenta<br />
características de APL infante ou em formação.<br />
Entende-se que, para que ocorram ganhos competitivos e um crescimento<br />
geral do setor, há que se divulgar as possibilidades de benefícios adquiridos com<br />
a cooperação, mesmo que entre concorrentes. Mas, então, por que apoiar a<br />
formação de Arranjos Produtivos Locais?<br />
A principal ideia é a de que diferentes atores de uma região, tanto empresas<br />
quanto sindicatos, entidades de educação, de crédito e de tecnologia, além de<br />
agências de desenvolvimento, possam mobilizar-se para identificar suas<br />
capacidades e necessidades, trabalhando de forma conjunta em prol do seu<br />
desenvolvimento e de sua região.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 109-117, 2010.
109<br />
REFERÊNCIAS<br />
AMIM, A. Industrial districts. In: SHEPPARD, E.; BARNES, T. (Ed.) A companion to<br />
economic geography. Oxford: Blackwell, 2000. 536p.<br />
CAVALCANTE, Anderson Tadeu Marques. Financiamento e desenvolvimento local:<br />
um estudo sobre arranjos produtivos. Belo Horizonte: Centro de Desenvolvimento<br />
e Planejamento Regional UFMG, 2006.<br />
MARSHALL, A. Princípios de economia. São Paulo: Abril Cultural, 1890/1996. 2v.<br />
PERROUX, F. A economia do século XX. Porto: Herder, 1949/1967. 755p.<br />
IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa Industrial Anual<br />
(1996-2005).<br />
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RIO GRANDE DO SUL – FIERGS. Cadastro das<br />
indústrias, fornecedores e serviços do sistema FIERGS, Porto Alegre, 2009.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 109-117, 2010.
O AMICUS CURIAE E O CUSTO DOS DIREITOS: A RELEVÂNCIA<br />
DO INSTITUTO NAS CAUSAS QUE IMPLICAM CUSTOS<br />
EXCESSIVOS PARA O ESTADO E AS ESCOLHAS EM MEIO À<br />
ESCASSEZ DE RECURSOS<br />
Júlia Carolina Müller 1<br />
Mônia Clarissa Hennig Leal 2<br />
RESUMO<br />
Este estudo tem por objetivo fazer uma análise da Teoria do Custo dos Direitos,<br />
dos autores norte-americanos Cass Sunstein e Stephen Holmes, que sustentam<br />
que todos os direitos necessitam de atuação positiva do Estado e dependem de<br />
recursos financeiros públicos para serem efetivados. A Constituição Federal impõe<br />
a efetivação dos direitos fundamentais, porém, muitas vezes, o Poder Judiciário é<br />
obrigado a suprir as lacunas deixadas pelos outros poderes, tendo que decidir,<br />
muitas vezes, sobre matérias de cunho político, nem sempre de seu<br />
conhecimento, e que causam grande impacto orçamentário. Como os recursos<br />
financeiros são limitados e as necessidades sociais são infinitas, os poderes são<br />
obrigados a fazer as chamadas “escolhas trágicas”, priorizando a efetivação de<br />
alguns direitos em detrimento de outros. Nesse contexto, a figura do amicus<br />
curiae, enquanto instrumento que viabiliza a participação social no processo, tem<br />
sua importância ressaltada, justamente por possibilitar, nas causas que implicam<br />
altos custos para o Estado, que se estabeleça um debate mais amplo acerca dos<br />
aspectos e dos custos envolvidos, a fim de que o Judiciário, se não pode se furtar<br />
de decidir, pelo menos possa decidir de forma mais consciente e democrática e,<br />
consequentemente, também mais legítima.<br />
1 juliacarolinamuller@gmail.com. Graduanda do Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz<br />
do Sul – UNISC. Bolsista PUIC no projeto “O amicus curiae como instrumento de realização de<br />
uma jurisdição constitucional aberta: análise comparativa entre o sistema brasileiro, alemão e<br />
norte-americano e de sua efetividade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro”<br />
e membro do grupo de estudos “Jurisdição constitucional aberta”, sob mesma orientação.<br />
2 moniah@unisc.br. Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos,<br />
com pesquisa realizada junto à Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, na Alemanha. Pós-<br />
Doutora pela Universidade de Heidelberg, Alemanha. Professora do Programa de Pós-<br />
Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC,<br />
onde leciona as disciplinas de Jurisdição Constitucional e Controle Jurisdicional de Políticas<br />
Públicas, respectivamente. Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Jurisdição Constitucional<br />
aberta”, vinculado ao CNPq. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Coordenadora do<br />
projeto de pesquisa “O amicus curiae como instrumento de realização de uma Jurisdição<br />
Constitucional aberta: análise comparativa entre o sistema brasileiro, alemão e norteamericano<br />
e de sua efetividade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro”, do<br />
qual o presente artigo é resultante, financiado pelo CNPq e pela FAPERGS.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 118-127, 2010.
111<br />
Palavras-chave: Custo dos Direitos. Amicus curiae. Direitos positivos e<br />
negativos. Escassez de recursos. Escolhas trágicas.<br />
ABSTRACT<br />
This study aims to analyze the Theory of the Cost of Rights, of the American<br />
authors Cass Sunstein and Stephen Holmes, who maintain that all rights need<br />
positive actions of the state and depend on public financial resources to be<br />
executed. The Constitution requires the execution of fundamental rights, but<br />
often the Judiciary is obliged to fill in the gaps left by other powers, having to<br />
decide, often on matters of political nature, not always known, and that impact<br />
heavily on budget. As financial resources are limited and social needs are infinite,<br />
the powers are required to do so-called "tragic choices", prioritizing the realization<br />
of some rights over others. In this context, the figure of amicus curiae, as a tool<br />
that enables social participation in the process, has emphasized its importance,<br />
precisely because it allows, in cases involving high costs for the state to establish<br />
a broader debate about the issues and costs involved, so that the judiciary cannot<br />
escape is to decide at least to decide more consciously and democratically and<br />
therefore also more legitimate.<br />
Keywords: Cost of rights. Amicus curiae. Positive and negative rights. Scarcity of<br />
resources. Tragic choices<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
Há, no contexto do constitucionalismo atual, grande controvérsia acerca do<br />
papel e da legitimidade do Judiciário na concretização dos direitos sociais,<br />
notadamente em virtude dos custos que eles representam. Como demonstram os<br />
autores norte-americanos Cass Sunstein e Stephen Holmes, contudo, todos os<br />
direitos – inclusive os direitos individuais negativos – possuem custos, de maneira<br />
que tal aspecto precisa – e deve – ser considerado por ocasião da realização dos<br />
direitos fundamentais e, também, por ocasião do planejamento orçamentário.<br />
Assim, ao decidir, também os juízes devem levar em consideração os impactos<br />
econômicos das decisões, em face dos recursos orçamentários disponíveis. Nesse<br />
contexto, o amicus curiae aparece como um importante instrumento de<br />
participação social e de informação do juízo e, consequentemente, de legitimação<br />
da atuação jurisdicional, especialmente quando envolvem “escolhas trágicas”. A<br />
técnica de pesquisa utilizada para a produção do trabalho é a bibliográfica e o<br />
método de abordagem, o dedutivo.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 118-127, 2010.
112<br />
2 DIREITOS POSITIVOS X DIREITOS NEGATIVOS<br />
De forma geral, os direitos fundamentais são divididos e classificados em<br />
direitos positivos e direitos negativos. Os direitos negativos, também chamados<br />
de direitos de defesa, são os individuais, típicos do liberalismo burguês, os quais,<br />
para serem efetivados, necessitam de omissão por parte do Estado, de um “não<br />
agir”. São a primeira dimensão de direitos e requerem uma não intervenção do<br />
governo 3 , uma vez que são as liberdades pessoais dos indivíduos. São, a título de<br />
exemplo, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esta omissão, por sua vez,<br />
numa perspectiva tradicional, sempre foi concebida como não geradora de gastos<br />
para o Estado.<br />
Já os direitos positivos (sociais ou de segunda dimensão) se identificam com<br />
o Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), de cunho intervencionista, sendo<br />
aqueles que, ao contrário dos direitos negativos, dependem de uma atuação<br />
positiva do Estado. São direitos de cunho prestacional, como saúde e educação,<br />
para os quais se pressupõe o dispêndio de recursos financeiros e a criação de<br />
políticas públicas para que a sociedade possa usufruí-los. Dessa forma, de acordo<br />
com o que normalmente é difundido na doutrina e entre os estudiosos, apenas os<br />
direitos positivos repercutiriam em custos para o Estado, de maneira que os<br />
direitos negativos, por serem fruto da abstenção do governo, não gerariam gasto<br />
algum.<br />
Porém, ao contrário dessa comum distinção, Ana Paula de Barcellos deixa<br />
clara outra visão sobre os direitos negativos e positivos, sustentando que a<br />
diferença entre eles é de grau, e não de natureza, ou seja, os direitos sociais<br />
apenas demandam um grau maior de investimento do que os negativos, mas isso<br />
não significa que esses também não o prescindam:<br />
Assim: a diferença entre os direitos sociais e os individuais, no<br />
que toca ao custo, é uma questão de grau, e não de natureza. Ou<br />
seja: é mesmo possível que os direitos sociais demandem mais<br />
recursos que os individuais, mas isso não significa que estes<br />
apresentem custo zero. Desse modo o argumento que afastava,<br />
tout court, o atendimento dos direitos sociais pelo simples fato de<br />
que eles demandam ações estatais e custam dinheiro não se<br />
sustenta. Também a proteção dos direitos individuais tem seus<br />
custos, apenas se está acostumado a eles 4 .<br />
3 Estes direitos estão associados ao contexto do surgimento da figura do Estado de Direito, de<br />
cunho liberal, onde a figura do Estado, em face da herança absolutista a ser superada e<br />
suplantada, era vista como algo a ser controlado, operando os direitos fundamentais, neste<br />
contexto, como limites ao poder do Estado. Sobre estes aspectos, ver LEAL, Mônia Clarissa<br />
Hennig. Jurisdição Constitucional aberta: Jurisdição Constitucional aberta: reflexões sobre a<br />
legitimidade e os limites da jurisdição constitucional na ordem democrática – uma abordagem a<br />
partir das teorias constitucionais alemã e norte-americana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.<br />
4 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da<br />
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. Pag. 238-239.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 118-127, 2010.
113<br />
Nesse sentido, em relação ao custo dos direitos, não há diferença além da<br />
maior ou menor visibilidade dos recursos públicos investidos para sua<br />
implementação. Explicando melhor: a diferença entre direitos positivos e direitos<br />
negativos seria que o dinheiro gasto com aqueles é de mais alto valor e mais<br />
visível aos olhos da sociedade, enquanto o recurso gasto com esses é menos<br />
perceptível e menor. Por isso tem-se a impressão de que os direitos de defesa<br />
não dependeriam de recursos financeiros públicos.<br />
No mesmo sentido vai a lição de José Casalta Nabais:<br />
Pois, do ponto de vista do seu suporte financeiro, bem podemos<br />
dizer que os clássicos direitos e liberdades, os ditos direitos<br />
negativos, são, afinal de contas, tão positivos como os outros,<br />
como os ditos direitos positivos. Pois, a menos que tais direitos e<br />
liberdades não passem de promessas piedosas, a sua realização e<br />
a sua protecção pelas autoridades públicas exigem recursos<br />
financeiros 5 .<br />
Assim, pode-se afirmar que todos os direitos são positivos, pois não há<br />
direito que não dependa de recursos financeiros para ser efetivado, necessitando,<br />
dessa forma, de atuação e de uma prestação por parte do Estado. É nesse<br />
sentido que ganha relevo, por sua vez, a teoria dos autores norte-americanos<br />
Cass Sunstein e Stephen Holmes, que será objeto de análise mais acurada no<br />
item que segue.<br />
3 TEORIA DO CUSTO DOS DIREITOS<br />
As tradicionais concepções acerca dos direitos positivos e negativos são<br />
superadas a partir do estudo de Cass Sunstein e Stephen Holmes, consagrado em<br />
sua – já clássica – obra “The cost of rights: why liberty depends on taxes 6 ”, onde<br />
reconhecem e atribuem positividade a todos os direitos fundamentais.<br />
A obra tem como objetivo demonstrar que todos os direitos são positivos e,<br />
sendo assim, demandam algum tipo de prestação pública para sua efetivação.<br />
Portanto, para os autores, não somente os direitos de prestação dependem de<br />
recursos financeiros para serem concretizados. Também os direitos de defesa<br />
necessitam de dispêndio de dinheiro público, o que também os dotaria de certa<br />
positividade.<br />
5 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos<br />
direitos. Pag. 12. Disponível em
114<br />
Flávio Galdino 7 , analisando a obra dos autores norte-americanos, afirma que<br />
se o Estado é indispensável ao reconhecimento e à efetivação dos direitos,<br />
dependendo de recursos financeiros captados da sociedade para se manter, os<br />
direitos – todos eles – só existem onde há orçamento que o faça ser possível.<br />
Tendo por base a teoria de Holmes e Sunstein, José Casalta Nabais aborda<br />
os direitos como liberdades individuais com custos públicos:<br />
[...] os direitos, todos os direitos, porque não são dádiva divina<br />
nem frutos da natureza, porque não são auto-realizáveis nem<br />
podem ser realisticamente protegidos num estado falido ou<br />
incapacitado, implicam a cooperação social e a responsabilidade<br />
individual. Daí que a melhor abordagem para os direitos seja vêlos<br />
como liberdades privadas com custos públicos. Na verdade,<br />
todos os direitos têm custos comunitários, ou seja, custos<br />
financeiros públicos. Têm portanto custos públicos não só os<br />
modernos direitos sociais, aos quais toda a gente facilmente<br />
aponta esses custos, mas também custos públicos os clássicos<br />
direitos e liberdades, em relação aos quais, por via de regra, tais<br />
custos tendem a ficar na sombra ou mesmo no esquecimento 8 .<br />
A partir de tais constatações, inexistiriam liberdades puramente negativas,<br />
ou seja, não há direito que não demande algum gasto público, pois inclusive os<br />
direitos individuais geram custo. Na obra “The cost of rights” os autores afirmam,<br />
então, que TODOS OS DIREITOS SÃO POSITIVOS, de modo que o pensamento<br />
de que existem direitos que não demandam nenhum tipo de prestação estatal<br />
deve ser ultrapassado.<br />
Isso se constata no clássico exemplo do direito à propriedade, utilizado pelos<br />
autores, pois o que seria um direito puramente negativo (ou seja, um direito<br />
individual por excelência) na verdade exige do Estado inúmeras prestações, tais<br />
como manutenção de um sistema cartorário que seja responsável pelo registro e<br />
pela formalização da propriedade, a organização de segurança para a sua<br />
proteção, o funcionamento do Poder Judiciário, encarregado de julgar eventuais<br />
violações ou turbações, etc. Para que seja concretizado, portanto, é necessário<br />
todo um aparato normativo, infraestrutura para funcionamento dos órgãos<br />
públicos responsáveis por essa atividade, funcionários públicos para o serviço de<br />
cartório, bombeiros e policiais para atuar na segurança e a existência de remédios<br />
jurídicos para sua proteção, aspectos que o tornam dotado de positividade, no<br />
sentido de possuir – ainda que implicitamente – um caráter prestacional.<br />
7 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos: Direitos não nascem em<br />
árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. Pag. 204.<br />
8 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos<br />
direitos. Disponível em . Acesso em: 29 nov. 2010. Pag.11<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 118-127, 2010.
115<br />
Dessa forma, “os direitos – todos eles – custam, no mínimo, os recursos<br />
necessários para manter essa complexa estrutura judiciária que disponibiliza aos<br />
indivíduos uma esfera própria para tutela de seus direitos”. 9 Assim, se todos os<br />
direitos dependem de recursos financeiros para que possam ser implementados,<br />
de alguma fonte deve advir o dinheiro para que o Estado possa se manter, e essa<br />
fonte é o pagamento de impostos. Logo, a sociedade é quem custeia os seus<br />
próprios direitos, ou seja, não existe direito sem investimento de recursos<br />
públicos, nem mesmo há algum direito que nada custe. Há, pois, um ciclo: a<br />
realização de direitos depende de prestação estatal, que, por sua vez, depende do<br />
dever da sociedade de pagar tributos.<br />
Pablo Bonilla Chaves, ao referir-se à teoria do custo dos direitos, demonstra<br />
a relevância da tributação para a efetivação dos direitos: “[...] a teoria dos<br />
autores americanos, em apertada suma, é de que a atuação do Estado é<br />
intrinsecamente dependente da cobrança de impostos, primordial fonte de rendas<br />
de qualquer Administração Pública no mundo.” 10<br />
A escassez de recursos, porém, é um fenômeno presente e inevitável na<br />
realidade de muitos governos. A insuficiência de recursos financeiros públicos,<br />
muitas vezes, impede que o Estado conceda aos cidadãos todos os direitos<br />
expressos na Constituição. Com isso, torna-se inviável a implementação de todos<br />
os direitos, que são, então, submetidos às escolhas do poder público, vinculadas<br />
ao orçamento.<br />
4 ESCASSEZ DE RECURSOS E “ESCOLHAS TRÁGICAS”<br />
A escassez de recursos impõe, diante da exigência de se concretizarem os<br />
direitos fundamentais 11 contidos nos textos constitucionais, que sejam efetuadas<br />
as chamadas “escolhas trágicas”. Elas são tidas como trágicas no sentido de que,<br />
dentre os direitos a serem concretizados, um deles terá que ser priorizado e,<br />
inevitavelmente, o outro terá que ser sacrificado. Os direitos tutelados –<br />
escolhidos – salientam, por sua vez, a valoração que uma sociedade atribui a<br />
esses direitos, ou seja, são os interesses e os valores tidos como os mais altos<br />
para a coletividade que determinam quais os direitos a serem privilegiados.<br />
Gustavo Amaral e Danielle Melo se referem às escolhas trágicas como trade-offs:<br />
9 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos: Direitos não nascem em<br />
árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. Pag. 209.<br />
10 CHAVES, Pablo Bonilla. O custo dos direitos e sua relação com as restrições jusfundamentais:<br />
aspectos gerais sobre o caso brasileiro. <strong>Revista</strong> Direitos Fundamentais e Democracia, v. 4. p.<br />
10, 2008.<br />
11 Especialmente no contexto do Estado Democrático de Direito, onde os direitos fundamentais<br />
são tidos como sendo dotados de plena normatividade e de eficácia imediata, criando<br />
obrigações para todos os poderes públicos (noção de dimensão objetiva e de eficácia vertical<br />
dos direitos fundamentais). Ver, sobre o tema, a obra de BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang.<br />
Begriff und Probleme des Verfassungsstaates. In: Staat, Nation, Europa: Studien zur<br />
Staatslehre, Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1999.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 118-127, 2010.
116<br />
A ideia de escassez traz consigo a noção de trade-off. Sem<br />
tradução exata para o português, podemos dizer que a alocação<br />
de recursos escassos envolve, simultaneamente, a escolha do que<br />
atender e do que não atender. Preferir empregar um dado recurso<br />
para um dado fim significa não apenas compromisso com esse<br />
fim, mas também decidir não avançar, com o recurso que está<br />
sendo consumido, em todas as demais direções possíveis. 12<br />
As necessidades sociais são, pois, ilimitadas. Já o orçamento, infelizmente,<br />
possui limites. Em vista disso, o Estado, muitas vezes, não está apto a custear<br />
todos os direitos expressos na Constituição, pois encontra barreiras na reserva do<br />
possível (aqui compreendida como limitação de cunho orçamentário, e não na<br />
perspectiva de razoabilidade que lhe confere o Tribunal Constitucional alemão 13 ),<br />
que seria, em outras palavras, a determinação daquilo que o Estado pode realizar<br />
– notadamente por meio de políticas públicas – em face do orçamento disponível,<br />
que não se confunde com a noção de limite relacionado ao que o indivíduo pode,<br />
de maneira racional, exigir do Estado em termos de prestação.<br />
Porém, a reserva do possível tem, muitas vezes, sido utilizada como<br />
justificativa para que o Estado se exima de seu papel na efetivação de direitos, o<br />
que tem sido exaustivamente discutido quando se trata de direitos fundamentais<br />
exigidos judicialmente.<br />
A doutrina (fala-se também em “cláusula”) da reserva do possível<br />
impõe limites à realização de direitos fundamentais pela via<br />
judicial. A razão para esses limites está na escassez de recursos<br />
do Estado: como não há recursos para atender a todos os pedidos<br />
baseados em direitos fundamentais previstos na Constituição, é<br />
imperioso que alguns desses pedidos, quando apresentados em<br />
juízo, sejam rejeitados. 14<br />
12 AMARAL, Gustavo; MELO, Danielle. Há direitos acima do orçamento? In: SARLET, Ingo<br />
Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do<br />
possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 101.<br />
13 A decisão paradigmática do Tribunal Constitucional alemão, sobre o tema da chamada “reserva<br />
do possível” (Vorbehalt des Möglichen), julgada em 1972, é conhecida como “Numerus<br />
Clausus” e versa sobre a obrigatoriedade ou não do Estado de criar mais vagas para o curso de<br />
Medicina, em face do número de alunos habilitados no exame público e universal de acesso ao<br />
ensino superior. Cf. GRIMM, Dieter; KIRCHHOF, Paul. Entscheidungen des<br />
Bundesverfassungsgericht. 3. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. p. 282-297.<br />
14 ZANITELLI, Leandro Martins. Custos ou competências? Uma ressalva à doutrina da reserva do<br />
possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais:<br />
orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 210.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 118-127, 2010.
117<br />
Dentre as diferentes opiniões a respeito do tema, há os que concordam com<br />
o impedimento/restrição da concretização de direitos fundamentais em razão da<br />
limitação de recursos e os que não admitem tal teoria, não vendo na reserva do<br />
possível óbices para a realização dos direitos. Os que discordam da teoria<br />
utilizam, por sua vez, a figura do mínimo existencial, que é um mínimo devido a<br />
todo ser humano para que possa ter uma vida digna, como fundamento e como<br />
limite à não realização dos direitos em face do orçamento, sustentando que a<br />
garantia do mínimo existencial deve estar sempre acima de qualquer orçamento e<br />
da limitação financeira. Entretanto, a reserva do possível apenas pode ser<br />
invocada nas situações que ultrapassem o mínimo existencial ou quando se referir<br />
à pessoa que possua condições de buscar a prestação exigida sem o auxílio do<br />
Estado. Assim, o desafio que se impõe é o de ponderar a realização dos direitos<br />
com a questão orçamentária, o que somente se faz possível a partir da aferição<br />
do custo dos direitos.<br />
5 POR QUE AFERIR O CUSTO DOS DIREITOS E A IMPORTÂNCIA<br />
DO AMICUS CURIAE ENQUANTO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO<br />
E DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM JUÍZO<br />
O melhor meio de prover direitos sociais é através de políticas públicas.<br />
Porém, nem sempre o Legislativo e o Executivo satisfazem às demandas da<br />
sociedade. Nessas ocasiões, o Judiciário é chamado a intervir, tendo que suprir as<br />
lacunas deixadas pelos outros poderes. Dessa forma, se o Poder Judiciário não for<br />
consciente em relação ao custo dos direitos pleiteados em juízo, isso o levará a<br />
decidir considerando o caso isoladamente, e não a coletividade. Ou seja, o<br />
julgador ignorará a macrojustiça, pensando somente na microjustiça,<br />
esquecendo-se dos efeitos sistêmicos que a decisão gerará. Como ressalva<br />
Galdino, “[...] a ignorância acerca dos custos, além de tudo, estimula<br />
indevidamente a atuação do Poder Judiciário, o que conduz [...] a inconvenientes<br />
excessos por parte desse poder”. 15<br />
Nesse sentido, o amicus curiae aparece como um importante instrumento<br />
para auxiliar o Judiciário a melhor decidir questões que envolvem custo excessivo<br />
e têm grande impacto orçamentário para o Estado. O “amigo da corte”, como é<br />
conhecido, possibilita a intervenção de pessoas físicas ou jurídicas, ou até mesmo<br />
um ente despersonalizado, que não fazem parte diretamente do processo, a<br />
apresentar considerações ou informações relevantes, por meio de memoriais, no<br />
âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. A manifestação do<br />
instituto, ao trazer elementos técnicos e informativos ao processo, permite que o<br />
órgão julgador conheça melhor os aspectos plurais e complexos relacionados ao<br />
caso e, consequentemente, possa tomar uma “melhor” decisão.<br />
15 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos: Direitos não nascem em<br />
árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 210<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 118-127, 2010.
118<br />
Assim, aferir custo aos direitos possibilita ao Estado – incluído aí o Poder<br />
Judiciário, onde o amicus curiae tem uma importante função a cumprir nesse<br />
sentido – escolher melhor onde investir os insuficientes recursos públicos e onde<br />
não gastá-los, a partir de uma adequada análise do custo-benefício de cada um<br />
dos direitos pleiteados. Além disso, conhecidos o custo e os impactos de sua<br />
realização, maior qualidade terão as “escolhas trágicas” e mais beneficiada será,<br />
consequentemente, a sociedade.<br />
6 CONCLUSÃO<br />
A ideia de que há direitos sem orçamento deve ser ultrapassada. Todo<br />
direito, positivo ou negativo, depende de recursos financeiros para ser efetivado.<br />
Desta forma, o presente estudo procurou analisar – e prossegue na pesquisa – a<br />
teoria do custo dos direitos relacionando-a ao amicus curiae. O instituto permite<br />
que se tragam maiores informações técnicas ao juízo, adquirindo ainda mais<br />
importância quando a causa em questão repercutir em gasto de recursos<br />
públicos, notadamente nas decisões em torno dos direitos sociais.<br />
Os direitos positivos não são, contudo, unicamente os que repercutem em<br />
custo ao Estado, pois também os negativos necessitam de toda uma estrutura<br />
jurídica necessária para seu andamento. A maior diferença está na visibilidade do<br />
custo da efetivação, na medida em que os direitos de prestação geram dispêndio<br />
de recursos muito mais visível aos olhos dos cidadãos do que os direitos de<br />
defesa, pois aqueles custam mais do que estes. É através da arrecadação de<br />
tributos que o governo agirá para a concretização dos direitos fundamentais, que,<br />
por vezes, ficam submetidos a escolhas, devido à escassez de recursos e à<br />
reserva do possível.<br />
Assim, aferir custos possibilita uma melhor avaliação e escolha quanto aos<br />
direitos pleiteados judicialmente, também direcionando os escassos recursos<br />
financeiros públicos para as prioridades da sociedade. Neste contexto, toda e<br />
qualquer informação trazida ao processo é válida e capaz de conduzir a uma<br />
melhor decisão, ou seja, o amicus curiae vem para auxiliar e representar o<br />
interesse social, a fim de garantir o máximo de direitos aos cidadãos.<br />
REFERÊNCIAS<br />
AMARAL, Gustavo; MELO, Danielle. Há direitos acima do orçamento? In: SARLET,<br />
Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direitos fundamentais: orçamento<br />
e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.<br />
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o<br />
princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 118-127, 2010.
119<br />
BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Begriff und Probleme des Verfassungsstaates.<br />
In: Staat, Nation, Europa: Studien zur Staatslehre, Verfassungstheorie und<br />
Rechtsphilosophie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1999.<br />
CHAVES, Pablo Bonilla. O custo dos direitos e sua relação com as restrições<br />
jusfundamentais: aspectos gerais sobre o caso brasileiro. <strong>Revista</strong> Direitos<br />
Fundamentais e Democracia, v. 4, 2008<br />
GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos: Direitos não<br />
nascem em árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.<br />
GRIMM, Dieter; KIRCHHOF, Paul. Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht.<br />
3. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. p. 282-297.<br />
HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The cost of rights – why liberty depends on<br />
taxes. New York: W.W. Norton and Company, 1999.<br />
LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Jurisdição Constitucional aberta: Jurisdição<br />
Constitucional aberta: reflexões sobre a legitimidade e os limites da jurisdição<br />
constitucional na ordem democrática – uma abordagem a partir das teorias<br />
constitucionais alemã e norte-americana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.<br />
MARCILIO, Carlos Flávio Venâncio. O custo dos direitos e a concretização dos<br />
direitos sociais. <strong>Revista</strong> de Direito Constitucional e Internacional, ano 17, n.66,<br />
jan-mar/2009.<br />
NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os<br />
custos dos direitos. Disponível em: . Acesso em: 29 nov. 2010.<br />
ZANITELLI, Leandro Martins. Custos ou competências? Uma ressalva à doutrina<br />
da reserva do possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti<br />
(Org.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre:<br />
Livraria do Advogado, 2008.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 118-127, 2010.
ANÁLISE DE TIPOLOGIAS ARQUITETÔNICAS AO LONGO DA<br />
III PERIMETRAL EM PORTO ALEGRE (RS)<br />
Mariana Louise Sehnem 1<br />
Heleniza Ávila Campos 2<br />
RESUMO<br />
A III Perimetral foi implantada na capital do Estado, Porto Alegre, com o intuito<br />
de criar uma via que melhorasse o fluxo de veículos no centro e ainda que<br />
tornasse a ligação norte-sul da capital mais rápida e eficiente. Com isso, a III<br />
Perimetral vem se tornando um grande e inovador polo comercial e de serviços da<br />
região. Este artigo visa demonstrar as análises referentes às tipologias<br />
arquitetônicas encontradas na III Perimetral, nos quatro trechos em que foi<br />
dividida para esta pesquisa. O conceito de tipologia arquitetônica consiste na<br />
caracterização dos padrões construtivos que definem determinados espaços de<br />
forma predominante. Pode-se observar claramente que o trecho que mais<br />
apresenta alterações em sua atual configuração é o qual nomeamos como sendo<br />
o segundo, referente à Avenida Carlos Gomes, em razão das recentes<br />
intervenções realizadas a partir do ano de 1999. Este trecho é o mais<br />
desenvolvido em razão de seu uso extremamente comercial. Esse estudo da<br />
configuração das tipologias arquitetônicas auxiliará no estudo da configuração<br />
morfológica da avenida, bem como no sistema estratégico dos fluxos dos<br />
transportes coletivos.<br />
Palavras-chave: Centralidades urbanas. Perimetral. Porto Alegre. Uso e<br />
ocupação do solo. Tipologias arquitetônicas.<br />
ABSTRACT<br />
Interventions in strategic roads in Brazilian big cities has been implemented in<br />
order to create a better condition of vehicle flow focusing speed and efficiency. In<br />
this way, the III Perimetral in Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brazil) has become<br />
a great and innovative commercial and services hub in the region. This article<br />
seeks to show the analysis concerning the architectural typologies found in the III<br />
Perimetral in Porto Alegre, in all the four sections it was divided for this research.<br />
1<br />
2<br />
Graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Santa Cruz do Sul e<br />
bolsista PIBIC/CNPq nesta pesquisa. Email: mari_sehnem@hotmail.com.<br />
Doutora em Ciências Geográficas (UFRJ), docente do Departamento de Engenharia, Arquitetura<br />
e Ciências Agrárias e do Programa de Pós Graduação e Desenvolvimento Regional da UNISC.<br />
Email: heleniza@unisc.br<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 128-135, 2010.
121<br />
The concept of architectural typology consists in the characterization of the<br />
construction standards that prevail over determinate sections. We can clearly<br />
observe that the section that has most modification in its nowadays configuration<br />
is the one called “second section”, on Carlos Gomes Avenue, because of recent<br />
interventions made since 1999. This section is the most developed in function of<br />
its extremely commercial use. The study of its architectural typology aided the<br />
research team to better understand the morphologic configuration, as well as the<br />
flow of mass transports.<br />
Keywords: Urban centralities. Perimeter. Porto Alegre. Soil occupation and use.<br />
Architectural typologies.<br />
1 INTRODUÇÃO<br />
Este trabalho é parte integrante da pesquisa atualmente em<br />
desenvolvimento intitulada “Centralidades Lineares e Ocupação do Solo<br />
Metropolitano: o Caso da III Perimetral em Porto Alegre (RS)”. A pesquisa iniciada<br />
em 2009, conta com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento<br />
Científico e Tecnológico (CNPq).<br />
A terceira Perimetral constitui-se no maior segmento viário urbano de Porto<br />
Alegre, formada por um conjunto de avenidas já existentes, recentemente<br />
unificadas configurando uma via arterial estratégica que articula as zonas sul e<br />
norte da cidade (ver Figura 1).<br />
A obra de implantação da Perimetral iniciou-se em 1999, a partir de<br />
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco<br />
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O eixo total da<br />
perimetral possui 12,3 km, tendo o trecho correspondente à Avenida Carlos<br />
Gomes uma extensão de 2.172 m. Iniciada em 2001 pelo Consórcio Pelotense-<br />
Procon, este trecho em particular vem se tornando um grande polo econômico e<br />
comercial dessa nova fase de desenvolvimento urbano da capital, em virtude de<br />
sua localização privilegiada.<br />
Sendo assim, através da III Perimetral, o modelo radial-concêntrico,<br />
estruturador da cidade tradicional, encontra sua transição para o tecido urbano<br />
mais recentemente constituído, ou seja, nas duas últimas décadas.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 128-135, 2010.
122<br />
Figura 1 – Localização da III Perimetral na cidade de Porto Alegre (RS).<br />
Fonte: Elaborado por SEHNEM (2009) a partir de imagem de satélite - Google<br />
Earth, 2008.<br />
2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO<br />
A cidade de Porto Alegre constitui-se no centro de gestão política e núcleo<br />
articulador na rede metropolitana, apresentando configuração em modelo radial<br />
concêntrico, destacando-se no âmbito das políticas públicas urbanas e no<br />
planejamento urbano em particular pelas ações e resultados diferenciados. A sua<br />
estrutura principal se organiza através de eixos radiais, dentre os quais se<br />
destacam os seguintes: BR 119; Av. Farrapos; Av. Cristóvão Colombo,<br />
posteriormente denominada Av. Plínio Brasil Milano; Av. Protásio Alves e Av. Nilo<br />
Peçanha. As avenidas radiais têm a função de penetração no tecido urbano,<br />
integrando o centro aos demais bairros a leste, em seu interior. Os principais<br />
eixos concêntricos, que atuam como perimetrais são: - a I Perimetral (Av.<br />
Loureiro da Silva); a II Perimetral, composta por diferentes avenidas (José de<br />
Alencar, Azenha, Princesa Isabel, Mariante, Goethe, Dr.Timóteo e Felix da<br />
Cunha); e a III Perimetral, composta pelas Av. D. Pedro, da Carvalhada, Nonoai,<br />
Teresópolis, Cel. Aparício Borges, Senador Tarso Dutra e Dr. Salvador Franca. Os<br />
eixos concêntricos têm como principal função articular setores da cidade (norte e<br />
sul, leste e oeste), servindo como canal de deslocamento para o conjunto da<br />
cidade.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 128-135, 2010.
123<br />
3 METODOLOGIA<br />
Na presente pesquisa realizamos os levantamentos in loco das edificações,<br />
os quais foram registrados em planilhas, conforme o modelo a seguir.<br />
Tipologia<br />
1. Telha canal<br />
2. Telhado fibrocimento<br />
3. Laje<br />
4. Nenhum<br />
Quadra 1<br />
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Total Q1<br />
Usos<br />
1. Residencial<br />
2. Comercial<br />
3. Misto<br />
4. Nenhum<br />
5. Serviços<br />
6. Institucional<br />
7. Religioso<br />
Recuos<br />
1. Frontal<br />
2. Lateral Direito<br />
3. Lateral Esquerdo<br />
4. Nenhum<br />
5. Posterior<br />
Gabarito - nº de pavimentos<br />
Período em que foi construído<br />
1. Anterior aos anos 60<br />
2. Entre os anos 60 e 90<br />
3. Posterior a 1999<br />
4. Nenhum<br />
Para tal levantamento, utilizamos basicamente a constatação visual do nosso<br />
olhar crítico para qualificar as edificações encontradas nos itens que constituem a<br />
planilha. Quando não era possível apenas nossa avaliação, recorríamos a<br />
moradores e/ou ocupantes das edificações para esclarecer ou obter conhecimento<br />
do item que não pode ser analisado previamente.<br />
Os dados levantados nas saídas de campo foram adicionados à tabela do<br />
Microsoft Excel e analisados a partir do uso do Statistical Package for the Social<br />
Sciences (SPSS). Este programa permite a elaboração de tabelas com a<br />
frequência dos dados individuais e diferentes cruzamentos possíveis. As<br />
frequências para a realização da análise deste trabalho foram fundamentadas nos<br />
critérios já descritos anteriormente.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 128-135, 2010.
124<br />
Para efeito desta pesquisa, a terceira perimetral foi dividida em quatro<br />
trechos:<br />
TRECHO 1: Inicia a partir do viaduto da Benjamin<br />
Constant com a Av. Dom Pedro até a Av. Plínio Brasil<br />
Milão. Neste trecho encontramos alguns serviços,<br />
comércios, edificações antigas e prédios abandonados;<br />
TRECHO 2: Av. Carlos Gomes, Av. Plínio Brasil Milão<br />
até Protásio Alves. Caracteriza-se por apresentar novos<br />
prédios, serviços, empresas, hotéis;<br />
TRECHO 3: Av. Protásio Alves até a Av. Ipiranga.<br />
Compreende o Jardim Botânico e vazios urbanos<br />
pertencentes à Empresa Imobiliária Condor;<br />
TRECHO 4: Av. Ipiranga até Passagem de nível<br />
Celso Furtado. Trecho com caráter mais institucional<br />
(brigada militar, vila militar, casas militares).<br />
4 RESULTADOS DA PESQUISA<br />
Após toda a etapa de levantamento e tratamento dos dados obtidos em<br />
campo, chegamos a algumas conclusões básicas:<br />
No primeiro trecho predomina o tipo de telha canal (48,20%), o uso<br />
residencial (40,70%), edificações com 1 ou 2 pavimentos (62,15%) e período de<br />
construção entre os anos 60 e 90 (63,63%);<br />
No segundo trecho predomina a telha fibrocimento/alumínio (52,30%), o<br />
uso de serviços (35,81%), edificações com 1 ou 2 pavimentos (51,23%) e período<br />
de construção entre os anos 60 e 90 (68,05%);<br />
No terceiro trecho predomina a telha fibrocimento/alumínio (40%), o uso<br />
residencial (51,16%), edificações com 1 ou 2 pavimentos (59,09%) e período de<br />
construção entre os anos 60 e 90 (75%);<br />
E por último, no quarto trecho predomina a telha fibrocimento/alumínio<br />
(50,50%), o uso residencial (50,53%), edificações com 1 ou 2 pavimentos<br />
(84,3%) e período de construção entre os anos 60 e 90 (63,45%).<br />
Através desse levantamento, pode-se observar que os quatro trechos<br />
analisados possuem características arquitetônicas bastante distintas,<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 128-135, 2010.
125<br />
diferenciando-se pelo padrão construtivo, pelo uso e pela ocupação predominante<br />
e pelo período no qual a edificação foi criada, refletindo, assim, as diferenças<br />
sociais e econômicas dos bairros afetados pela intervenção.<br />
Trecho 1: a presença de lotes vazios/abandonados se mostra bastante<br />
intensa, tendendo a transformar-se e a constituir-se em uma continuidade da<br />
dinâmica imobiliária da Av. Carlos Gomes.<br />
Fotos 1 e 2: Trecho 1 da III Perimetral.<br />
Fonte: Grupo de Pesquisa, 2010.<br />
Trecho 2: há uma maior modernização e alteração dos padrões construtivos<br />
nas edificações. Possui também um caráter bastante relacionado ao comércio e à<br />
prestação de serviço, como hotéis, agências bancárias, edifícios de salas<br />
comerciais, etc.<br />
Fotos 3 e 4: Trecho 2 da III Perimetral (Av. Carlos Gomes).<br />
Fonte: Grupo de Pesquisa, 2010.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 128-135, 2010.
126<br />
Trecho 3: observa-se um caráter mais institucional, com muitas áreas<br />
verdes, como o Jardim Botânico, e algumas massas de vegetação de vazios<br />
urbanos, que dificultam a ocupação mais adequada da área.<br />
Fotos 5 e 6: Trecho 3 (Jardim Botânico).<br />
Fonte: Grupo de Pesquisa, 2010.<br />
Trecho 4: há uma grande diferença da paisagem urbana em relação aos<br />
demais trechos. Há edificações residenciais de baixa renda, a grande maioria<br />
junto à testada da rua. Trata-se de uma região já consolidada, com muito mais<br />
fluxo de pessoas, maior quantidade de pequenos pontos comerciais e centros<br />
religiosos.<br />
Fotos: 7 e 8: Trecho 4 da III Perimetral.<br />
Fonte: Grupo de Pesquisa, 2010.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 128-135, 2010.
127<br />
5 CONCLUSÃO<br />
Através deste artigo busca-se evidenciar a importância do trabalho de<br />
campo para compreender a realidade de estudo. Tal exercício exige uma<br />
preparação anterior, a partir da qual se estruturam as etapas a serem cumpridas<br />
e as técnicas de obtenção de dados, para viabilizar a rapidez e a consistência das<br />
informações de acordo com os interesses (objetivos) da pesquisa. O passo<br />
seguinte consiste na coleta organizada de dados. Nesta pesquisa em particular a<br />
coleta ocorreu fundamentalmente a partir de preenchimento do formulário de<br />
informações (previamente construído) e levantamento fotográfico. Com os dados<br />
em mãos, foi possível utilizar técnicas de análise que permitiram entender as<br />
particularidades de cada trecho.<br />
O estudo sobre a III Perimetral de Porto Alegre tem permitido o<br />
entendimento das grandes diferenças existentes dentro da cidade, que se tornam<br />
visíveis em uma intervenção deste porte.<br />
REFERÊNCIAS<br />
PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano<br />
Ambiental (2º PDDUA). Lei Complementar nº 434/99. Porto Alegre: Secretaria<br />
Municipal de Planejamento, 2002.<br />
SOARES, P. R. R. Metamorfoses da metrópole contemporânea: considerações<br />
sobre Porto Alegre. GEOUSP - Espaço e Tempo. São Paulo, nº 20, p. 129-143,<br />
2006.<br />
<strong>Revista</strong> Jovem Pesquisador, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 128-135, 2010.