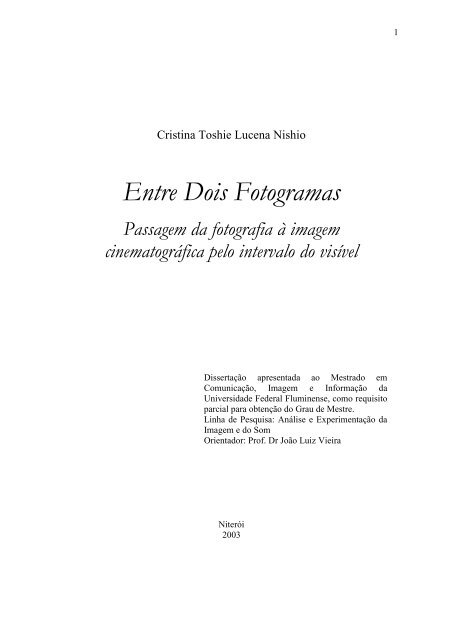Cristina Toshie Lucena Nishio - Biblioteca Digital de Teses e ...
Cristina Toshie Lucena Nishio - Biblioteca Digital de Teses e ...
Cristina Toshie Lucena Nishio - Biblioteca Digital de Teses e ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Cristina</strong> <strong>Toshie</strong> <strong>Lucena</strong> <strong>Nishio</strong><br />
Entre Dois Fotogramas<br />
Passagem da fotografia à imagem<br />
cinematográfica pelo intervalo do visível<br />
Dissertação apresentada ao Mestrado em<br />
Comunicação, Imagem e Informação da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral Fluminense, como requisito<br />
parcial para obtenção do Grau <strong>de</strong> Mestre.<br />
Linha <strong>de</strong> Pesquisa: Análise e Experimentação da<br />
Imagem e do Som<br />
Orientador: Prof. Dr João Luiz Vieira<br />
Niterói<br />
2003<br />
1
<strong>Cristina</strong> <strong>Toshie</strong> <strong>Lucena</strong> <strong>Nishio</strong><br />
ENTRE DOIS FOTOGRAMAS:<br />
Passagem da fotografia à imagem cinematográfica<br />
pelo intervalo do visível<br />
Aprovada em 27 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2003.<br />
Dissertação apresentada ao Mestrado em<br />
Comunicação, Imagem e Informação da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral Fluminense, como<br />
requisito parcial para obtenção do Grau <strong>de</strong><br />
Mestre.<br />
Linha <strong>de</strong> Pesquisa: Análise e Experimentação da<br />
Imagem e do Som<br />
BANCA EXAMINADORA<br />
Prof. Dra Anita Leandro<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
Prof. Dr. João Luiz Vieira - Orientador<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral Fluminense<br />
Prof. Dr. Ronaldo Rosas Reis<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral Fluminense<br />
Niterói<br />
2003<br />
2
À minha mãe e ao meu pai, por terem me possibilitado a vida, a palavra e o amor.<br />
Aos amigos Daruiz Castellani e Silvia Gutfilen, pelo convívio fecundo.<br />
3
Agra<strong>de</strong>cimentos<br />
A João Luiz Vieira – meu orientador – pela atenção <strong>de</strong>dicada.<br />
À Marialva Carlos Barbosa, pelo incentivo ao ingresso no Mestrado em<br />
Comunicação, Imagem e Informação.<br />
A Antônio Carlos Amâncio <strong>de</strong> Oliveira, Fernando José Fagun<strong>de</strong>s Ribeiro e Ronaldo<br />
Rosas Reis, pelo estímulo ao pensamento promovido ao longo <strong>de</strong> suas aulas.<br />
À Anita Leandro e Afonso <strong>de</strong> Albuquerque, pelas intervenções fundamentais feitas<br />
ao trabalho na ocasião do Exame <strong>de</strong> Qualificação.<br />
À Pró-Reitoria <strong>de</strong> Pesquisa e Pós-graduação da UFF, pela concessão <strong>de</strong><br />
afastamento temporário das ativida<strong>de</strong>s profissionais para cursar o Mestrado em<br />
Comunicação Imagem e Informação.<br />
A Marco Antônio Coutinho Jorge, pela presença silenciosa e revolucionária nos<br />
momentos em que recosto a cabeça no sofá <strong>de</strong> um braço só.<br />
4
“O Saber encontra expressão na fala;<br />
a sabedoria, no silêncio.”<br />
5<br />
<strong>Toshie</strong> <strong>Nishio</strong>
INTRODUÇÃO<br />
Sumário<br />
1. NOS FOTOGRAMAS, FOTOGRAFIAS<br />
O funcionamento da câmera e do projetor<br />
1. 1. No processo ótico, a configuração do espaço<br />
A perspectiva artificialis e o olho humano<br />
A câmara obscura<br />
Do ponto <strong>de</strong> fuga ao ponto <strong>de</strong> vista: o sujeito transcen<strong>de</strong>ntal<br />
1. 2. No processo químico, o vínculo com o real pelo instante fotográfico<br />
O realismo nas imagens pertencentes ao “paradigma fotográfico”<br />
O real na imagem para além da realida<strong>de</strong> visível<br />
2. ENTRE OS FOTOGRAMAS, O MOVIMENTO<br />
Do fotográfico ao cinematográfico<br />
2. 1. Das pesquisas sobre a persistência da visão à produção <strong>de</strong> imagens<br />
mutáveis<br />
A projeção luminosa<br />
Animação das fotografias<br />
2. 2 . Na imagem cinematográfica, o encontro entre o real e o virtual<br />
Real e virtual: dois planos distintos <strong>de</strong> realida<strong>de</strong><br />
Imagens da matéria<br />
Imagens da memória<br />
Distinção entre memória e hábito<br />
Tempo real e experiência da duração na imagem móvel<br />
10<br />
15<br />
17<br />
19<br />
21<br />
26<br />
33<br />
48<br />
51<br />
55<br />
63<br />
64<br />
71<br />
79<br />
86<br />
94<br />
95<br />
198<br />
110<br />
105<br />
112<br />
CONCLUSÃO 119<br />
BIBLIOGRAFIA 126<br />
6
Fig. 1<br />
Fig. 2<br />
Lista <strong>de</strong> Ilustrações<br />
“Câmara obscura transportável” (1646) Athanasius Kircher<br />
“Câmara obscura portátil”. A. Ganot.<br />
Traité Elémentaire <strong>de</strong> Phisique (Paris: 1855)<br />
Fig. 3 “Séries <strong>de</strong> taumatrópios” – Inglaterra (1827)<br />
Col. Museo Nazionale <strong>de</strong>l cinema – Turim<br />
Fig. 4<br />
Fig. 5<br />
Fig. 6<br />
Fig. 7<br />
Fig. 8<br />
Fig. 9<br />
“Praxinoscópio” (1877) Emile Reynaud<br />
Col. Museo Nazionale <strong>de</strong>l cinema – Turim<br />
“Praxinoscópio-teatro” (1877) Emile Reynaud<br />
Col. Museo Nazionale <strong>de</strong>l cinema – Turim<br />
“Lanterna Mágica”, in “L‟ Optique” (1874)<br />
“Dissolving Views” – Série <strong>de</strong> vidros para lanterna mágica.<br />
Alemanha (2 a meta<strong>de</strong> do século XIX)<br />
Col. Museo Nazionale <strong>de</strong>l cinema – Turim<br />
“Dissolving Views” – Série <strong>de</strong> vidros para lanterna mágica.<br />
Alemanha (2 a meta<strong>de</strong> do século XIX)<br />
Col. Museo Nazionale <strong>de</strong>l cinema – Turim<br />
“Phantasmagoria e Dissolving Views Lanterns”<br />
Londres (1866) George Pightling<br />
Fig. 10 “Galloping Horse”, N. Y. (1878) Eadweard Muybridge<br />
Fig. 11 “Balle Rebondissante – Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Trajectoire” (1866)<br />
Étienne Jules Marey<br />
Fig. 12<br />
Fig. 13<br />
“Projetor e câmera cronofotográfica <strong>de</strong> Georges Demeny” (1897)<br />
Col. Museo Nazionale <strong>de</strong>l cinema – Turim<br />
“Cinematógrafo <strong>de</strong> Auguste e Louis Lumière”<br />
Col. Museo Nazionale <strong>de</strong>l cinema – Turim<br />
27<br />
27<br />
75<br />
78<br />
78<br />
79<br />
81<br />
81<br />
85<br />
86<br />
87<br />
91<br />
91<br />
7
Resumo<br />
Este trabalho analisa o processo <strong>de</strong> formação da imagem cinematográfica através <strong>de</strong><br />
uma abordagem que abarca tanto as técnicas que viabilizam sua materialida<strong>de</strong>, quanto a<br />
participação do público no momento <strong>de</strong> projeção das imagens, quando se instaura o<br />
movimento. Dentre os dispositivos técnicos envolvidos no processo <strong>de</strong> produção <strong>de</strong>ssa<br />
imagem, são priorizados a câmera e o projetor. A análise sobre os processos óticos que<br />
ocorrem na câmera evi<strong>de</strong>ncia a operacionalização do código visual que sustenta a<br />
configuração espacial da imagem cinematográfica, o qual é comungado ainda por outros<br />
tipos <strong>de</strong> imagem, tais como a pintura renascentista e a fotografia, além <strong>de</strong> ser responsável<br />
pelo realismo na representação. Já no processo químico <strong>de</strong> fixação da imagem na película,<br />
<strong>de</strong>fine-se o que há <strong>de</strong> fotográfico no cinematográfico: seu vínculo existencial com o real. O<br />
instante fotográfico é avaliado como uma marca do tempo real que foi <strong>de</strong>ixada na imagem,<br />
mas que não se confun<strong>de</strong> com sua parte visível, ou seja, com o espaço visual da<br />
representação. No processo mecânico, enfim, avalia-se as condições técnicas necessárias<br />
para aparição da imagem cinematográfica, a partir da <strong>de</strong>composição do movimento em<br />
instantes fotográficos. Contudo, como se compreen<strong>de</strong> que a temporalida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa imagem<br />
só se instaura através da participação do público no processo <strong>de</strong> aparição da imagem móvel<br />
– ou seja na “situação cinematográfica” – , propõe-se, então, uma reflexão sobre o tempo<br />
que leva em conta os fenômenos psíquicos vivenciados por ele, a partir <strong>de</strong> noções<br />
formuladas pelo filósofo Henri Bergson, sobretudo em sua tese sobre a matéria e a<br />
memória. Conclui-se, então, que a atuação do público concentra-se na parte invisível da<br />
imagem cinematográfica, enquanto que a técnica manipula sua visibilida<strong>de</strong> através dos<br />
processos que <strong>de</strong>terminam sua materialida<strong>de</strong>. O recurso à perspectiva histórica visa<br />
contextualizar cada uma <strong>de</strong>ssas imagens, bem como o <strong>de</strong>senvolvimento das técnicas que<br />
possibilitam sua produção, enquanto que a abordagem fenomenológica visa explicitar o<br />
modo como o público participa <strong>de</strong> sua constituição. O trabalho abarca, enfim, tanto a parte<br />
visível da imagem cinematográfica, quanto sua parte invisível e imprevisível, oriunda da<br />
vida interior <strong>de</strong> cada espectador.<br />
Palavras-chave:<br />
1. Cinema – antece<strong>de</strong>ntes históricos 2. Cinema – fenomenologia<br />
3. Cinema – origem técnica 4. Cinema – semiótica<br />
8
Résumé<br />
Ce travail analyse le processus <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> l‟image cinématographique par le<br />
biais d‟une approche qui englobe les techniques permettant sa matérialité, ainsi que la<br />
participation du public au moment <strong>de</strong> la projection <strong>de</strong>s images, quand le mouvement<br />
s‟instaure. Parmi les outils techniques concernés dans le processus <strong>de</strong> production <strong>de</strong> cette<br />
image, on privilégie la caméra et le projecteur. L‟analyse <strong>de</strong>s processus optiques qui se<br />
produisent dans la caméra révèle la mise en place du co<strong>de</strong> visuel qui soutient la<br />
configuration spatiale <strong>de</strong> l‟image cinématographique, régissant aussi d‟autres types<br />
d‟image, tels que la peinture <strong>de</strong> la Renaissance et la photographie, outre qu‟il est<br />
responsable du réalisme dans la représentation. Quant au processus chimique <strong>de</strong> la fixation<br />
<strong>de</strong> l‟image sur la pellicule, on définit ce qu‟il y a <strong>de</strong> photographique dans le<br />
cinématographique: son lien existentiel avec le réel. L‟instant photographique est évalué<br />
comme une marque du temps réel qui a été laissée dans l‟image, mais qui ne se confond<br />
pas avec sa partie visible, c‟est-à-dire, avec l‟espace visuel <strong>de</strong> la représentation. Dans le<br />
processus mécanique, enfin, on analyse les conditions techniques nécessaires à l‟apparition<br />
<strong>de</strong> l‟image cinématographique, à partir <strong>de</strong> la décomposition du mouvement en instants<br />
photographiques. Toutefois, puisqu‟on pense que la temporalité <strong>de</strong> cette image ne<br />
s‟instaure qu‟à travers la participation du public dans le processus d‟apparition <strong>de</strong> l‟image<br />
mobile – c‟est-à-dire dans la “situation cinématographique”– , on se propose, alors, une<br />
réflexion sur le temps qui tient compte <strong>de</strong>s phénomènes psychiques vécus par lui, à partir<br />
<strong>de</strong>s notions formulées par le philosophe Henri Bergson, notamment dans sa thèse sur la<br />
matière et la mémoire. Il s‟ensuit alors que la participation du public est centrée sur la<br />
partie invisible <strong>de</strong> l‟image cinématographique, pendant que la technique manipule sa<br />
visibilité à travers les processus qui déterminent sa matérialité. Le recours à la perspective<br />
historique vise non seulement à replacer chacune <strong>de</strong> ces images dans leur contexte, mais<br />
aussi au développement <strong>de</strong>s techniques permettant leur production, tandis que l‟approche<br />
phénoménologique vise à expliciter la manière dont le public participe à leur constitution.<br />
Le travail comprend, enfin, tant la partie visible <strong>de</strong> l‟image cinématographique que sa<br />
partie invisible et imprévisible, issue <strong>de</strong> la vie intérieure <strong>de</strong> chaque spectateur.<br />
Mots-clés:<br />
1. Cinéma – antécé<strong>de</strong>nts historiques 2. Cinéma – phénoménologie<br />
3. Cinéma – origine technique 4. Cinéma – sémiotique<br />
9
Introdução<br />
Os primeiros contatos com o cinema costumam acontecer na sala escura, quando,<br />
por um toque <strong>de</strong> mágica, imagens começam a cintilar na tela, como vaga-lumes. O fascínio<br />
nos impressiona a todos, ainda hoje, quando a razão nos diz que não é mágica, mas<br />
resultado <strong>de</strong> pesquisa humana e <strong>de</strong>senvolvimento tecnológico o que possibilita a aparição<br />
daquelas imagens. Ainda assim, que magia!<br />
Não posso negar que ainda hoje essa imagem me fascina, me inebria. Po<strong>de</strong>ria<br />
mesmo me imaginar, qual uma criança, seguindo, sorrateira, em direção à tela, e esticando<br />
uma olha<strong>de</strong>la bem disfarçada, na tentativa <strong>de</strong> flagrar os seres fantásticos que, por ventura,<br />
haveria por <strong>de</strong>trás <strong>de</strong>la. On<strong>de</strong> estão eles? Para on<strong>de</strong> vão quando a luz do projetor se<br />
<strong>de</strong>sliga? Que magia é essa que me faz ter a certeza <strong>de</strong> que não é apenas uma ilusão visual a<br />
vida que se projeta com aqueles simples feixes <strong>de</strong> luz?<br />
Para muitos, esse será o único tipo <strong>de</strong> contato direto com o cinema. E que contato!<br />
Para outros, contudo, esse encanto os levará a brincar <strong>de</strong> Deus, apropriando-se dos<br />
instrumentos que o viabilizam e tornando-se magos e bruxas produtores <strong>de</strong> imagens-luz.<br />
Quanto a mim, algo muito especial ainda viria a acontecer. Os caminhos que fui seguindo,<br />
no <strong>de</strong>correr <strong>de</strong> anos ainda recentes <strong>de</strong> vida, <strong>de</strong>ram-me a chance <strong>de</strong> passar por uma<br />
experiência muito especial: a animação <strong>de</strong> <strong>de</strong>senhos. Foi então que <strong>de</strong>scobri o fotograma.<br />
Mais que isso, <strong>de</strong>scobri algo entre os fotogramas. Algo sobre o qual já lera a respeito, mas<br />
que jamais imaginara ser tão mágico. Descobri o movimento.<br />
Uma Casa Muito Engraçada é o curta metragem que tive a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> realizar<br />
em parceria com minha irmã Yoko, em 1996, quando ainda era aluna da graduação do<br />
Departamento <strong>de</strong> Cinema e Ví<strong>de</strong>o da UFF. Na época, ela estudava na faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Belas<br />
Artes e eu alimentava o sonho <strong>de</strong> realizar um trabalho em conjunto. Uma cria nossa. Não<br />
pu<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar escapar a oportunida<strong>de</strong>, quando o então professor <strong>de</strong> cinema <strong>de</strong> animação,<br />
10
Antônio Moreno, ofereceu aos alunos a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolver alguns projetos <strong>de</strong><br />
realização <strong>de</strong> <strong>de</strong>senhos animados. Apresentei-lhe um, inspirado no poema A Casa, <strong>de</strong><br />
Vinícius <strong>de</strong> Moraes. A proposta foi aceita. Bastava então convencer minha irmã a<br />
participar do trabalho com sua habilida<strong>de</strong> eloqüente para o <strong>de</strong>senho. Cui<strong>de</strong>i <strong>de</strong> encontrar<br />
bons músicos para a canção e para os efeitos sonoros. As vozes das crianças. Tracei o<br />
conceito do filme. Fui à produção. À noite, Yoko <strong>de</strong>senhava as figuras em papel fino. De<br />
dia, eu ia para a mesa <strong>de</strong> luz e passava os <strong>de</strong>senhos para outra folha, produzindo, com meu<br />
amigo Mauro Vergne – também estudante <strong>de</strong> cinema – a arte final que seria posteriormente<br />
filmada na truca – câmera cinematográfica adaptada para filmagem quadro a quadro. Antes<br />
da filmagem, cada cena era testada em um computador. Podíamos avaliar o movimento das<br />
figuras, seu ritmo, sua <strong>de</strong>finição e a flui<strong>de</strong>z na imagem. Eu fazia contas e mais contas para<br />
informar minha irmã sobre quantos <strong>de</strong>senhos seriam necessários para cada cena. Depois<br />
fazia novas contas para ajustar o ritmo dos movimentos na imagem ao ritmo da música:<br />
<strong>de</strong>cidia quantas vezes seriam filmados cada <strong>de</strong>senho, quais seriam registrados em um<br />
fotograma, quais em dois, ou mesmo em três. As alternâncias entre imagens que se<br />
repetiriam. Ajustava o movimento pensando em cada fotograma, e registrava esses<br />
números no plano <strong>de</strong> filmagem. Após todo esse trabalho, quando assisti ao copião pela<br />
primeira vez, na sala <strong>de</strong> projeção do CTAv - FUNARTE, fiquei tomada pela emoção.<br />
Todos esse processo me fez perceber que, em meio aos fotogramas, por mais que se<br />
modulasse o ritmo do movimento, por mais que ele se disponibilizasse a ser manipulado,<br />
contabilizado, ainda assim, algo nele estava além <strong>de</strong> qualquer controle, <strong>de</strong> qualquer<br />
expressão numérica. Algo <strong>de</strong> subjetivo se insinuava na imagem. Perpetuava-se a mágica.<br />
Uma carga afetiva. Um ritmo que se alterava a cada projeção. Tive a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
assistir várias vezes ao pequenino filme, e a cada projeção percebia nele a expressão um<br />
tempo diferente.<br />
Mas essa experiência também me trouxe uma certa angústia. Apesar da alegria tão<br />
pueril, tão ingênua, na <strong>de</strong>scoberta do movimento, da animação <strong>de</strong> formas tão lúdicas, algo<br />
parecia ainda preso na imagem. O modo como me era permitido articular o movimento, a<br />
própria configuração da imagem. Pedira a Yoko para evitar o realismo nas figuras, fugir da<br />
perspectiva geométrica, e explorar, no <strong>de</strong>senho, seus elementos mais básicos, como as<br />
linhas, as superfícies e a cor; buscar a simplicida<strong>de</strong> no que havia <strong>de</strong> mais essencial do<br />
<strong>de</strong>senho. Gostei bastante do resultado. Mas imaginava, então, como seria trabalhar com a<br />
11
fotografia a vinte e quatro quadros por segundo, com o realismo da imagem. Em resposta a<br />
esses <strong>de</strong>vaneios, elaborava simultaneamente um outro projeto <strong>de</strong> curta metragem, no qual<br />
pu<strong>de</strong>sse extravasar o que não encontrava expressão no <strong>de</strong>senho. Um filme com atores,<br />
on<strong>de</strong> eu pensaria não mais fotograma por fotograma, mas plano por plano. Com ritmos<br />
diferentes para cada plano, para cada conjunto <strong>de</strong> planos, ou cena. Uma modulação do<br />
tempo fundada em uma experiência <strong>de</strong> outra natureza com a imagem cinematográfica.<br />
Sonhava, enfim, com outras possibilida<strong>de</strong>s expressivas, próprias às fotografias animadas.<br />
Três anos <strong>de</strong>pois viria a realizar esse projeto: “Carrapicho”. Qual foi minha surpresa<br />
quando, nos intervalos das filmagens, em instantes <strong>de</strong> <strong>de</strong>vaneio, surpreendia-me com a<br />
lembrança da câmera rodando a vinte e quatro quadros por segundo, em um ritmo<br />
constante, enquanto eu tentava modular o tempo plano por plano, na atuação dos<br />
personagens, no tipo <strong>de</strong> enquadramento, na angulação. Sim, pois o tempo em um plano<br />
aberto é muito diferente do tempo em um plano fechado, um close, um <strong>de</strong>talhe. A<br />
expressão do movimento muda completamente. Mas isto, só pu<strong>de</strong> perceber mesmo ao<br />
longo das filmagens. Uma breve experiência que, espero, possa ainda voltar a vivenciar em<br />
outra oportunida<strong>de</strong>, por meio da qual, quem sabe, consiga <strong>de</strong>svendar novas nuances.<br />
De qualquer modo, encontro-me hoje diante <strong>de</strong> um novo contexto, <strong>de</strong> reflexão<br />
teórica, no qual algumas questões, que surgiram ao longo <strong>de</strong>ssas experiências com a<br />
produção cinematográfica, insistem, sorrateiras, em me ditar o caminho a ser seguido pelo<br />
pensamento, como idéias que ainda não conseguiram ser ditas. Elas parecem pressionar o<br />
discurso na tentativa <strong>de</strong> encontrar algum espaço <strong>de</strong> expressão, e esforçam-se por expulsar<br />
da fala o que lhe é estrangeiro.<br />
A experiência com o movimento em situações distintas. A diferença entre um<br />
<strong>de</strong>senho e uma fotografia em movimento. Percepções e intuições que me afetaram no<br />
contexto <strong>de</strong> produção da imagem, mas que, até então, fugiam a qualquer tentativa <strong>de</strong><br />
tradução em conceitos, a qualquer <strong>de</strong>scrição ou interpretação. Agora, elas estão <strong>de</strong> volta. E<br />
me <strong>de</strong>safiam a falar sobre elas.<br />
Dentre os dois tipos <strong>de</strong> imagem – o <strong>de</strong>senho e a fotografia – priorizo a última e,<br />
então, questiono: o que a particulariza? Quais são as peculiarida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong> imagem?<br />
Em outras palavras, o que <strong>de</strong>fine o fotográfico? Por outro lado, o que possibilita a<br />
passagem do fotográfico para o cinematográfico? A experiência cotidiana nos permite<br />
inferir, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> já, que é a possibilida<strong>de</strong> do movimento que viabiliza o surgimento <strong>de</strong>ssa<br />
12
nova imagem. Mas o que é o movimento? De on<strong>de</strong> ele se origina? Qual a sua natureza? Por<br />
mais que se vasculhe e manipule a imagem, ainda assim, ele escapa a qualquer tentativa <strong>de</strong><br />
captura. No entanto, está ali, na própria constituição da imagem. Não se po<strong>de</strong>, contudo,<br />
apontar o <strong>de</strong>do para a imagem e indicar on<strong>de</strong> ele se localiza. Ele transcen<strong>de</strong> qualquer<br />
tentativa <strong>de</strong> espacialização. Ele surge ali, entre os fotogramas, mas po<strong>de</strong>mos enfiar o nariz<br />
por lá, insistentemente, que não o acharemos. On<strong>de</strong> está, então, o movimento? Antes<br />
mesmo <strong>de</strong> começar a pensar sobre o movimento expresso em cada plano <strong>de</strong> imagem, como<br />
pensá-lo em cada intervalo, entre um fotograma e outro? Esse enigma, como <strong>de</strong>svendá-lo?<br />
O que é o movimento, fotograma a fotograma? O corte entre os fotogramas que antece<strong>de</strong> o<br />
corte entre os planos? A montagem que antece<strong>de</strong> a montagem?<br />
Não posso fugir ao <strong>de</strong>safio <strong>de</strong> tentar respon<strong>de</strong>r a essas questões. As linhas que se<br />
seguem tentarão dar cabo a essa busca. Se antes meu esforço era conseguir imprimir na<br />
película imagens que correspon<strong>de</strong>ssem, em algum nível, àquilo que se passava em minha<br />
mente, agora o esforço é por conseguir fazer essa tradução para a palavra. Agora, a matéria<br />
<strong>de</strong> trabalho é o conceito. É com ele que tentarei ensaiar alguma dança. Estaremos juntos<br />
nos esforçando por conseguir <strong>de</strong>senvolver algum movimento, alguma evolução que, por<br />
ventura, nos revele algo <strong>de</strong> novo, <strong>de</strong> novo.<br />
Propomos, então, uma investigação sobre a imagem cinematográfica que se<br />
concentre no seu processo <strong>de</strong> constituição, que focalize as condições que <strong>de</strong>terminam a<br />
formação da imagem. Por meio <strong>de</strong> uma abordagem que leve em conta, por um lado, as<br />
<strong>de</strong>terminações do dispositivo técnico, e, por outro, a intervenção humana, seja ela oriunda<br />
do po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> manipulação criadora <strong>de</strong> seu produtor, seja ela advinda da participação afetiva<br />
e intelectual do público. Nesse sentido, a análise <strong>de</strong> formas fílmicas específicas será<br />
evitada, em prol <strong>de</strong> uma abordagem que priorize uma reflexão sobre o processo <strong>de</strong><br />
formação da imagem. Na primeira parte do nosso trabalho, abordamos a imagem<br />
cinematográfica a partir <strong>de</strong> um recorte maior no qual ela se encontraria vinculada a outros<br />
tipos <strong>de</strong> imagens, que, por suposição, compartilhariam, com ela, características similares.<br />
Para tanto, utilizaremos as categorias <strong>de</strong>senvolvidas por Santaella (1994, 1998), nas quais<br />
as imagens se distinguiriam entre aquelas pertencentes ao paradigma “pré-fotográfico”,<br />
“fotográfico” e “pós-fotográfico”. Por meio <strong>de</strong>ssa abordagem, preten<strong>de</strong>mos analisar<br />
algumas características básicas da imagem cinematográfica, que também po<strong>de</strong>m ser<br />
encontradas em outros tipos <strong>de</strong> imagens, tais como o efeito <strong>de</strong> “realismo” na imagem e sua<br />
13
“gênese automática”, e que autores como Barthes (1980) e Bazin (1958) consi<strong>de</strong>ram como<br />
responsáveis pela viabilização da “inscrição do real” na imagem. Por outro lado,<br />
colocamo-nos a seguinte questão: o que singulariza a imagem cinematográfica? O que a<br />
distingue <strong>de</strong> todas as outras? Nossa hipótese principal é <strong>de</strong> que a essência <strong>de</strong>ssa imagem,<br />
sua singularida<strong>de</strong>, está vinculada ao movimento, à temporalida<strong>de</strong>. Para averiguar essa<br />
hipótese, <strong>de</strong>senvolvemos, na segunda parte do trabalho, uma reflexão sobre o movimento<br />
que leva em conta o funcionamento do dispositivo técnico, por um lado, e a participação<br />
do público no processo <strong>de</strong> aparição da imagem móvel, por outro. Com este procedimento,<br />
preten<strong>de</strong>mos distinguir a noção clássica <strong>de</strong> tempo que, por hipótese, fundamenta o<br />
funcionamento do dispositivo técnico, <strong>de</strong> uma outra noção <strong>de</strong> tempo completamente<br />
distinta, <strong>de</strong>finida por Bergson como “duração”. Desse modo, visamos alcançar uma melhor<br />
compreensão sobre o movimento que singulariza a imagem cinematográfica. Optamos,<br />
enfim, por uma postura metodológica que integra a visão diacrônica à visão sincrônica,<br />
pois acreditamos que o recurso à perspectiva histórica, quando e o quanto for pertinente,<br />
po<strong>de</strong> nos ajudar a compreen<strong>de</strong>r melhor os aspectos inerentes ao modo como a imagem se<br />
constitui. No que tange às técnicas <strong>de</strong> produção da imagem, cabe-nos ainda tecer alguns<br />
últimos comentários esclarecedores. Na primeira parte, <strong>de</strong>senvolvemos uma reflexão que<br />
se fundamenta sobretudo nos dois processos que se operam no dispositivo responsável pela<br />
produção da imagem cinematográfica: os processos óticos e os químicos, pois acreditamos<br />
que esses dois processos <strong>de</strong>terminam as condições <strong>de</strong> configuração formal da imagem. Na<br />
segunda parte, priorizamos o processo mecânico <strong>de</strong> produção do movimento aparente na<br />
imagem, por um lado, e a expressão da duração na imagem, por outro. Acreditamos, enfim,<br />
que esse tipo <strong>de</strong> abordagem po<strong>de</strong> nos permitir uma compreensão mais aprofundada sobre<br />
as diferentes maneiras com que essas imagens vêm sendo pensadas pelos teóricos da<br />
imagem, levando, evi<strong>de</strong>ntemente, a conclusões distintas, mas que não necessariamente se<br />
excluem, nem se negam, po<strong>de</strong>ndo vir mesmo a potencializar, na verda<strong>de</strong>, a manifestação<br />
<strong>de</strong> diferentes aspectos sobre as mesmas.<br />
14
1. Nos fotogramas, fotografias<br />
Nos fotogramas, fotografias. Inicialmente, imagens fixas, impressas na película por<br />
processos químicos. Posteriormente, imagens luminosas, projetadas na tela em um ritmo<br />
tão acelerado que o público não as percebe mais como várias imagens fixas, mas apenas<br />
como uma única imagem móvel, mutável. Detenhamo-nos, então, nos fotogramas. Como<br />
<strong>de</strong>finí-los? Que imagens são essas?<br />
Segundo a pesquisadora brasileira Lucia Santaella, a imagem cinematográfica<br />
pertenceria àquilo que ela <strong>de</strong>fine como “o paradigma fotográfico”, no qual as “imagens são<br />
produzidas por conexão dinâmica e captação física <strong>de</strong> fragmentos do mundo visível, isto é,<br />
imagens que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m <strong>de</strong> uma máquina <strong>de</strong> registro, implicando necessariamente a<br />
presença <strong>de</strong> objetos reais preexistentes” (Santaella, 1998, p. 304). A imagem<br />
cinematográfica estaria, nesse sentido, vinculada à imagem fotográfica. Além <strong>de</strong>la, o<br />
paradigma fotográfico <strong>de</strong>finido por Santaella (1998) abarcaria ainda a imagem<br />
vi<strong>de</strong>ográfica e até mesmo a holográfica, em contraponto às imagens pré e pós-fotográficas,<br />
que correspon<strong>de</strong>riam a outros paradigmas da imagem.<br />
A classificação <strong>de</strong> Santaella (1998) apóia-se em um critério <strong>de</strong> abordagem que leva<br />
em consi<strong>de</strong>ração os modos <strong>de</strong> produção <strong>de</strong>ssas imagens, ou seja, os recursos técnicos e<br />
tipos <strong>de</strong> instrumentos utilizados para sua fabricação. Po<strong>de</strong>mos inferir, então, que a técnica<br />
empregada na produção das imagens interfere em suas características essenciais, <strong>de</strong>termina<br />
sua constituição básica, <strong>de</strong> modo a permitir que se estabeleça uma distinção qualitativa<br />
entre elas. De fato, a “máquina <strong>de</strong> registro” <strong>de</strong> que fala Santaella (1998) refere-se ao uso<br />
imprescindível da câmera como um instrumento fundamental para a produção <strong>de</strong>ssas<br />
imagens que ela <strong>de</strong>fine como pertencentes ao “paradigma fotográfico”. Em última<br />
instância, essa “maquina <strong>de</strong> registro” reproduz o funcionamento básico da câmara<br />
15
obscura, utilizada por pintores no período do Renascimento para configurar suas imagens<br />
em perspectiva, com a diferença <strong>de</strong> não precisar mais da intervenção <strong>de</strong>sses artistas para<br />
fixar a imagem no suporte material. Uma diferença fundamental que leva a autora a<br />
estabelecer um corte epistemológico entre um grupo <strong>de</strong> imagens e outro, distinguindo o<br />
“paradigma fotográfico” do “paradigma pré-fotográfico”.<br />
Todavia, haveria ainda, entre essas imagens pertencentes ao “paradigma<br />
fotográfico”, traços capazes <strong>de</strong> distingui-las entre si? Mantendo-se ainda, em um primeiro<br />
momento, o critério <strong>de</strong> abordagem adotado por Santaella (1998) <strong>de</strong> avaliar a imagem por<br />
seu modo <strong>de</strong> produção, haveria nessas “máquinas <strong>de</strong> registro” algum aspecto próprio ao<br />
seu modo <strong>de</strong> funcionamento que fosse capaz <strong>de</strong> apontar para alguma diferença qualitativa<br />
entre uma imagem e outra? Detenhamo-nos nas imagens fotográfica e cinematográfica:<br />
haveria algum traço fundamental no seu modo <strong>de</strong> produção capaz <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir uma diferença<br />
qualitativa entre ambas?<br />
16
O funcionamento da câmera e do projetor<br />
Em uma <strong>de</strong>scrição bem simplificada do funcionamento da câmera, po<strong>de</strong>-se<br />
observar que, quando o obturador está aberto, a luz externa atravessa o orifício, preenchido<br />
pela objetiva, penetra na caixa escura e atinge a superfície do material sensível a ela, on<strong>de</strong><br />
se produz uma imagem latente que será posteriormente revelada e fixada no laboratório por<br />
processos químicos. No caso do projetor, a luz age em um percurso inverso. Uma fonte <strong>de</strong><br />
luz interna ao aparato é acionada, atinge a película, com imagens já reveladas e fixadas,<br />
atravessa <strong>de</strong>pois a objetiva e, finalmente, <strong>de</strong>ixa o aparato, seguindo em direção à tela, em<br />
ambiente escuro, on<strong>de</strong> será projetada uma imagem luminosa com dimensões bem maiores<br />
do que aquelas impressas em cada fotograma.<br />
Do que foi dito, po<strong>de</strong>-se inferir, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> já, que os processos óticos e químicos<br />
envolvidos no funcionamento da câmera cinematográfica reproduzem a estrutura básica do<br />
dispositivo fotográfico. Mas há um aspecto peculiar no modo <strong>de</strong> produção da imagem<br />
cinematográfica. Uma diferença fundamental que se concentra no processo mecânico da<br />
câmera cinematográfica, responsável pelo movimento intermitente da película. Vejamos<br />
como ele funciona: esse mecanismo movimenta a película por <strong>de</strong>ntro da câmera e<br />
imobiliza a mesma por algumas frações <strong>de</strong> segundo diante do obturador, o qual se abre<br />
para permitir que a película seja exposta à luz por um <strong>de</strong>terminado período <strong>de</strong> tempo e,<br />
logo em seguida, volta a se fechar, interrompendo a exposição do negativo; o mecanismo<br />
volta a mover essa película, carregando a parte exposta para um outro compartimento do<br />
dispositivo, uma caixa escura on<strong>de</strong> será armazenado o negativo já exposto; o mecanismo<br />
volta a imobilizar a película, o obturador se abre novamente, permitindo a produção <strong>de</strong><br />
uma nova imagem latente, o obturador se fecha, o mecanismo volta a puxar a película,<br />
avançando-a para diante e disponibilizando uma outra parte <strong>de</strong>la ainda não exposta à luz, e<br />
assim prossegue ininterruptamente, enquanto o dispositivo se mantiver acionado. Produz-<br />
se assim uma sucessão <strong>de</strong> instantâneos fotográficos, cuja composição visual distingue o<br />
anterior do posterior por aquilo que Jean-Louis Baudry (1983) chama <strong>de</strong> “diferença<br />
mínima”.<br />
Contudo, ainda assim, temos apenas várias imagens fixas impressas na película.<br />
Sabemos que, para que a imagem cinematográfica surja, não basta a utilização da câmera.<br />
É preciso ainda inserir essa película naquele outro instrumento: o projetor. É justamente<br />
17
quando este entra em funcionamento, que o movimento intermitente da película viabiliza o<br />
surgimento da imagem móvel, uma imagem com duração.<br />
No caso do projetor, esse mecanismo irá projetar na tela várias imagens por<br />
segundo, a intervalos constantes nos quais a tela volta a se escurecer pela ausência<br />
temporária do feixe <strong>de</strong> luz. Como resultado da alta velocida<strong>de</strong> na substituição <strong>de</strong> uma<br />
imagem pela outra, o público não percebe várias imagens imóveis e diferentes, mas apenas<br />
uma única imagem mutável. Da pequena diferença entre uma imagem fixa e outra surge a<br />
aparente mutação das formas na imagem cinematográfica. As formas ganham movimento e<br />
as figuras parecem adquirir vida.<br />
Resultado <strong>de</strong> um processo mecânico <strong>de</strong> movimento intermitente da película, ao<br />
menos no que diz respeito ao dispositivo técnico, o movimento aparente da imagem<br />
cinematográfica po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rado, então, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> já, como um elemento capaz <strong>de</strong><br />
particularizar essa imagem <strong>de</strong>ntro daquilo que Santaella (1998) chama <strong>de</strong> “paradigma<br />
fotográfico”, apontando para o que há <strong>de</strong> específico em sua constituição. Essa<br />
peculiarida<strong>de</strong> possibilita à imagem cinematográfica expressar um novo tipo <strong>de</strong><br />
temporalida<strong>de</strong>, à medida que estabelece um novo modo <strong>de</strong> lidar com a duração.<br />
Ela será priorizada na segunda parte do trabalho, quando iremos nos concentrar<br />
sobre o processo <strong>de</strong> percepção e representação psíquica e investigar sobre o modo como o<br />
público participa da constituição da imagem móvel. Antes, porém, proce<strong>de</strong>remos, nesta<br />
primeira parte, ao <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma análise mais minuciosa sobre esses processos<br />
óticos e químicos que ocorrem na câmera e que estão implicados, portanto, no modo <strong>de</strong><br />
produção <strong>de</strong>ssas imagens que se encontram impressas em cada fotograma.<br />
18
1. 1. No processo ótico, a configuração do espaço<br />
A câmera cinematográfica produz efeitos óticos que são similares àqueles<br />
conseguidos com a câmera obscura. Desse modo, ela viabiliza a produção <strong>de</strong> uma imagem<br />
cuja configuração formal reproduz o mo<strong>de</strong>lo renascentista que se funda na aplicação da<br />
perspectiva artificialis. Autores como Baudry (1983) e Couchot (1993) comentam sobre<br />
esse parentesco da imagem cinematográfica com outras imagens cuja configuração formal<br />
também segue o mo<strong>de</strong>lo renascentista. Citaremos aqui três <strong>de</strong>las: a pintura renascentista,<br />
na qual se aplicava a perspectiva artificialis como método <strong>de</strong> composição; a fotografia,<br />
produzida por meio <strong>de</strong> uma espécie <strong>de</strong> câmera obscura que adquirira, então, uma objetiva<br />
para preencher o orifício por on<strong>de</strong> passava a luz, com o objetivo <strong>de</strong> melhorar a qualida<strong>de</strong><br />
da imagem e interferindo na trajetória da luz, um obturador para controlar o tempo <strong>de</strong><br />
entrada da luz, e um material foto-sensível em substituição ao material utilizado pelos<br />
pintores para servir como suporte para a imagem que se projetava no interior da câmera; o<br />
ví<strong>de</strong>o, que surgiria <strong>de</strong>pois do cinema, tendo como principal inovação um material que se<br />
apresentava sensível à luz não mais por fenômenos químicos, mas agora eletromagnéticos.<br />
Couchot chama <strong>de</strong> “morfogênese por projeção” a lógica subjacente ao processo<br />
ótico que dá origem a essas imagens. Essa lógica <strong>de</strong> figuração ótica po<strong>de</strong> ser conseguida<br />
tanto pela aplicação <strong>de</strong> regras matemáticas, fundadoras da perspectiva artificialis, quanto<br />
pelo uso da câmera obscura, ou aparelhos similares <strong>de</strong> projeção ótica. Tanto em um<br />
recurso, quanto em outro, o modo <strong>de</strong> produção da imagem tem como principio, por um<br />
lado, a presença <strong>de</strong> um objeto real para que se possa produzir sua representação, e por<br />
outro, a noção <strong>de</strong> sujeito i<strong>de</strong>al cujo olhar daria origem a um tipo <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m visual à cena a<br />
ser representada.<br />
No caso da pintura, a presença do objeto a ser representado po<strong>de</strong> ocorrer <strong>de</strong> fato<br />
ou simplesmente ser substituída pela imaginação do pintor. Mas a lógica figurativa não é<br />
afetada em sua essência. Pois o que importa mesmo é o resultado na imagem, cuja<br />
configuração em perspectiva lhe permite ser percebida como um análogo do real: ao<br />
aplicar a perspectiva artificialis, o produtor da imagem bidimensional consegue produzir<br />
uma impressão <strong>de</strong> profundida<strong>de</strong> e <strong>de</strong> realismo da cena, capazes <strong>de</strong> transformar essa mesma<br />
imagem em um análogo do objeto representado.<br />
19
Essa lógica <strong>de</strong> figuração viabiliza o que Panofsky (1975) chama <strong>de</strong> “objetivação<br />
do subjetivo”, visto que ela pressupõe a elaboração <strong>de</strong> um espaço pictórico que se<br />
hierarquiza a partir <strong>de</strong> um “ponto <strong>de</strong> vista i<strong>de</strong>al”, que passa a funcionar, então, como o<br />
centro gerador <strong>de</strong> sentido e or<strong>de</strong>m <strong>de</strong>ssa imagem. Esse centro coincidiria com o olho <strong>de</strong> um<br />
suposto “sujeito” a olhar a cena. Essa noção <strong>de</strong> “sujeito” como centro fundador <strong>de</strong> sentido<br />
e or<strong>de</strong>m, contudo, permanece mascarada pela invisibilida<strong>de</strong> do código. Voltaremos ainda a<br />
abordar essa noção <strong>de</strong> sujeito i<strong>de</strong>al. Antes, porém, propomos uma revisão em torno da<br />
noção <strong>de</strong> perspectiva artificialis, sua aplicação na configuração da imagem pictórica, suas<br />
semelhanças com os processos óticos que ocorrem no olho humano, e, finalmente, a<br />
substituição <strong>de</strong>ssas regras matemáticas pelo uso da câmara obscura, com vistas a<br />
compreen<strong>de</strong>r melhor sua operacionalização na imagem cinematográfica.<br />
20
A perspectiva artificialis e o olho humano<br />
Ao observar as pinturas gregas que sobreviveram até os dias <strong>de</strong> hoje, po<strong>de</strong>mos<br />
constatar que os pintores da Antigüida<strong>de</strong> produziram em suas imagens a impressão <strong>de</strong><br />
realida<strong>de</strong>. Eles levaram em conta o ponto <strong>de</strong> vista do observador, <strong>de</strong>scobriram o escorço e<br />
representaram as figuras humanas em posições bastante naturais. Mas, em suas pinturas, a<br />
ilusão <strong>de</strong> profundida<strong>de</strong> não possibilitava estabelecer relações claras <strong>de</strong> distância entre as<br />
figuras representadas. No período do Renascimento, contudo, alguns pintores, retomaram o<br />
<strong>de</strong>safio colocado pelos pintores da Antigüida<strong>de</strong> Clássica <strong>de</strong> produzir imagens mais<br />
realistas e começaram a confiar naquilo que seus olhos viam e a tentar codificar essas<br />
impressões visuais nas imagens que produziam. O arquiteto e pintor Fillippo Brunelleschi<br />
foi um dos artistas-pesquisadores que se <strong>de</strong>stacou nesse <strong>de</strong>safio ao encontrar uma nova<br />
solução para o problema da ilusão <strong>de</strong> profundida<strong>de</strong>. Ele aproveitou seus conhecimentos<br />
matemáticos para engendrar um novo método <strong>de</strong> configuração do espaço pictórico,<br />
distribuindo as figuras no quadro <strong>de</strong> uma maneira inteiramente nova. A cena a ser<br />
representada se arranjaria no quadro a partir <strong>de</strong> um enquadramento em perspectiva. Esta<br />
nova técnica – <strong>de</strong>ntre tantas outras conhecidas no Quattrocento – seria divulgada <strong>de</strong><br />
maneira mais sistemática por Leo Batista Alberti, em seu Tratado <strong>de</strong>lla pintura, e viria a<br />
ser chamada <strong>de</strong> perspectiva artificialis (apud Aumont, 1993). Mas eles não seriam os<br />
únicos a colaborar nessa busca. Conforme salienta Jacques Aumont (1993), na era<br />
mo<strong>de</strong>rna, artistas e teóricos (Dürer, Leonardo da Vinci), filósofos (Descartes, Berkeley,<br />
Newton) e, é claro, físicos, empenharam-se nessa exploração.<br />
Com sua progressiva divulgação, a perspectiva artificialis – também conhecida<br />
como perspectiva monocular, central, geométrica, linear ou mesmo albertiniana –<br />
possibilitou a vários pintores da época configurar o espaço da representação como uma<br />
pirâmi<strong>de</strong> visual. O plano da imagem correspon<strong>de</strong>ria ao campo visual e, no centro <strong>de</strong>sse<br />
campo visual, haveria um ponto fixo, que correspon<strong>de</strong>ria ao vértice da pirâmi<strong>de</strong>. A partir<br />
<strong>de</strong>ste ponto fixo, o espaço representado se expandiria em uma ilusória profundida<strong>de</strong>. A<br />
posição das figuras, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>sse espaço em profundida<strong>de</strong>, apresentava uma impressão <strong>de</strong><br />
distância a partir da <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> seus contornos, que correspondiam à sua posição <strong>de</strong>ntre<br />
os vários planos que se sucediam em profundida<strong>de</strong> e que se organizariam,<br />
hierarquicamente, do mais próximo ao mais afastado. Da relação entre as distâncias<br />
po<strong>de</strong>ríamos abstrair retas que culminariam em um ponto <strong>de</strong> fuga: esse ponto imaginário da<br />
21
pirâmi<strong>de</strong> visual para on<strong>de</strong> todas as retas convergiriam. Essas retas eram chamadas <strong>de</strong><br />
“raios visuais”. O espaço pictórico se organizava e se unificava, portanto, por meio <strong>de</strong>ssas<br />
linhas <strong>de</strong> projeção que se prolongavam na aparente profundida<strong>de</strong> do campo visual, até se<br />
encontrarem no ponto <strong>de</strong> fuga.<br />
Com efeito, ao configurar o espaço pictórico <strong>de</strong> tal modo a gerar essa forma<br />
particular <strong>de</strong> impressão <strong>de</strong> profundida<strong>de</strong> <strong>de</strong> campo, o que, <strong>de</strong> fato, a perspectiva artificialis<br />
consegue produzir na imagem é um efeito visual <strong>de</strong> aparente naturalida<strong>de</strong> e realismo da<br />
cena. A imagem pictórica passa a assemelhar-se às imagens que nosso sistema visual nos<br />
fornece naturalmente no contato direto como o mundo visível. E isso é conseguido através<br />
da aplicação <strong>de</strong> regras matemáticas baseadas na geometria euclidiana que traduzem<br />
parcialmente os processos óticos que ocorrem no olho humano. Essas regras já eram<br />
conhecidas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a Antigüida<strong>de</strong>, mas só foram aplicadas na configuração da imagem<br />
pictórica durante o Renascimento. 1 Vejamos, então, como se operam os processos óticos<br />
no olho humano: nele, a córnea viabiliza a convergência da maior parte dos raios<br />
luminosos; a íris, um músculo localizado atrás da córnea, contrai ou se dilata, interferindo<br />
no diâmetro da pupila, que se encontra em seu centro; no cristalino, ocorre, enfim, uma<br />
melhor acomodação <strong>de</strong>sses raios luminosos. É eloqüente a semelhança entre esse processo<br />
ótico <strong>de</strong> convergência dos raios luminosos, que ocorre no olho durante a percepção visual<br />
do mundo físico, e as regras matemáticas que fundamentam a perspectiva artificialis na<br />
elaboração <strong>de</strong> um espaço pictórico fundado na convergência dos raios visuais <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
uma pirâmi<strong>de</strong> visual imaginária.<br />
Devemos lembrar, contudo, que o processo <strong>de</strong> percepção visual do mundo físico<br />
não se restringe às operações óticas <strong>de</strong>scritas acima. Além <strong>de</strong>las, há outras, <strong>de</strong> natureza<br />
química, nervosa e mesmo psíquica. Além disso, como <strong>de</strong>monstra Bergson (1990), para<br />
que a imagem se constitua enquanto uma representação mental, para que ela tenha algum<br />
sentido, é necessária a participação não só do corpo como também do espírito, como<br />
veremos na segunda parte do nosso trabalho. No entanto, o que interessa àqueles pintores<br />
renascentistas <strong>de</strong>cididos a aplicar em suas imagens esse novo código visual é o efeito<br />
visual <strong>de</strong> realismo da cena; e para que ele seja obtido basta a tradução em código visual <strong>de</strong><br />
apenas uma <strong>de</strong>ssas várias fases da percepção visual humana: a fase das operações óticas<br />
que ocorrem no olho humano. A esse respeito, o pesquisador Arlindo Machado nos fala:<br />
1 Segundo Jacques Aumont (1993), em torno <strong>de</strong> 300 a.C., Eucli<strong>de</strong>s, “o pai da geometria”, foi um dos<br />
fundadores da óptica e um dos primeiros teóricos da visão.<br />
22
“Dizia-se, naquela época, que por ser um sistema <strong>de</strong> representação fundado<br />
nas leis científicas (leia-se euclidianas) <strong>de</strong> construção do espaço, a<br />
perspectiva renascentista <strong>de</strong>veria nos dar a imagem mais justa e fiel da<br />
realida<strong>de</strong> visível. Dizia-se mais: essa mesma perspectiva <strong>de</strong>veria<br />
correspon<strong>de</strong>r à visão da natureza mais próxima daquela que o olho obtém<br />
através do seu mecanismo óptico.” (id, 1984, p. 63 et seq.)<br />
Deve-se levar em conta, contudo, que a perspectiva artificialis traduz em regras<br />
matemáticas as operações óticas que ocorrem em um único olho humano durante o<br />
processo <strong>de</strong> percepção visual do mundo físico, enquanto que o sistema visual humano<br />
pressupõe a conciliação da atuação <strong>de</strong> dois olhos. Nesse contexto, reconhece-se que, apesar<br />
<strong>de</strong> traduzir matematicamente suas operações óticas, o código renascentista não é<br />
completamente fiel ao sistema visual humano, o qual é marcado pela binocularida<strong>de</strong>.<br />
Essa diferença, contudo, não chega a interferir substancialmente no efeito visual <strong>de</strong><br />
realismo da cena representada, obtido com a aplicação do código visual renascentista. Pois,<br />
muito embora tenhamos dois olhos, as imagens ligeiramente diferenciadas que cada um<br />
<strong>de</strong>les nos viabiliza – visto estarem os olhos ligeiramente <strong>de</strong>slocados um em relação ao<br />
outro – complementam-se e se fun<strong>de</strong>m em uma única imagem, a qual passa então a nos<br />
fornecer uma sensação <strong>de</strong> profundida<strong>de</strong> peculiar: uma profundida<strong>de</strong> estereoscópica. 2<br />
Profundida<strong>de</strong> essa que aos poucos – na medida em que vamos apren<strong>de</strong>ndo a lidar com<br />
nosso corpo – passamos a <strong>de</strong>codificar e a utilizar na hierarquia entre as diferentes<br />
distâncias que passam a ter os objetos percebidos em relação ao nosso posicionamento<br />
<strong>de</strong>ntro do espaço, possibilitando-nos um <strong>de</strong>slocamento mais coor<strong>de</strong>nado nele.<br />
A respeito do sistema visual humano, Jacques Aumont comenta:<br />
“Subjetivamente, esse objeto é visto em uma única direção, situada „entre‟ os<br />
dois olhos: é <strong>de</strong>signada como „direção subjetiva‟, que liga o objeto a um<br />
„olho ciclópico‟ situado <strong>de</strong> modo fantasmático entre os dois olhos.” (1d.,<br />
1993, p. 46)<br />
Esse único “olho ciclópico”, comentado por Aumont, po<strong>de</strong> ser comparado ao ponto<br />
fixo implícito na perspectiva artificialis. Entretanto, o próprio autor adverte:<br />
2 Aumont (1993, p. 47), entretanto nos adverte que “nenhuma [teoria] é universalmente aceita, mas a mais<br />
concorrente hoje é a da „fusão‟, que supõe que cruzamentos <strong>de</strong> conexões nervosas „fabricam‟ uma<br />
informação única, „fundida‟ a partir das duas informações diferentes dadas pelas duas retinas. (Fusão não é<br />
acumulação: a teoria prevê certa „rivalida<strong>de</strong>‟ entre os dois olhos e, se são apresentados em laboratório objetos<br />
incompatíveis aos dois olhos, um dos dois predominará, e a imagem por ele imposta será vista como única, e<br />
como vista pelos dois olhos.)”<br />
23
“(...) não se <strong>de</strong>ve confundir essa perspectiva, mo<strong>de</strong>lo do que se passa no olho<br />
(e por isso chamada antigamente <strong>de</strong> „perspectiva naturalis‟), com a<br />
perspectiva geométrica aplicada na pintura e, em seguida, na fotografia, a<br />
qual resulta <strong>de</strong> uma convenção representativa em parte arbitrária, a ser<br />
produzida artificialmente (don<strong>de</strong> o nome <strong>de</strong> „perspectiva artificialis‟);<br />
embora uma e outra sigam o mesmo mo<strong>de</strong>lo geométrico, não são <strong>de</strong> mesma<br />
natureza.” (id., 1993, p.42)<br />
Apesar <strong>de</strong> verificarmos essa diferença entre a perspectiva monocular e a<br />
binocularida<strong>de</strong> humana, <strong>de</strong>vemos concluir, contudo, que a aproximação entre ambas se dá<br />
justamente na impressão <strong>de</strong> realismo que a primeira gera na imagem configurada segundo<br />
suas regras. Apesar <strong>de</strong> reconhecermos em ambas uma diferença <strong>de</strong> natureza, uma se<br />
aproxima da outra por aquilo que o próprio Aumont chama, enfim, <strong>de</strong> “direção subjetiva”<br />
do olhar humano.<br />
Tais regras matemáticas passaram a ser utilizadas, enfim, por vários pintores na<br />
elaboração <strong>de</strong> suas pinturas. Mas eles não se limitariam a se servir apenas <strong>de</strong>ssas regras<br />
matemáticas. Vários instrumentos seriam engendrados com o objetivo <strong>de</strong> facilitar a<br />
aplicação da perspectiva monocular. A portinhola, a tavoletta, são alguns exemplos. Mas<br />
haveria um que se <strong>de</strong>stacaria. Um instrumento em auxílio à produção <strong>de</strong> imagens em<br />
perspectiva que se mostraria extremamente fecundo e que viria ainda a participar do<br />
mecanismo <strong>de</strong> produção um novo tipo <strong>de</strong> imagem – as imagens fotográficas. Esse<br />
instrumento era conhecido como câmera obscura. Todos esses instrumentos, que<br />
funcionavam então como “próteses” para o olho do pintor (Dubois, 1999), começavam já a<br />
participar do processo <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> imagens, ou representações visuais, <strong>de</strong> uma maneira<br />
cada vez mais intensa, intervindo cada vez mais no trabalho do produtor da imagem. Mas<br />
enquanto o pintor mantivesse o controle do processo <strong>de</strong> materialização da imagem,<br />
enquanto essas “máquinas <strong>de</strong> visão” (Dubois, 1999) se mantivessem apenas como<br />
mecanismos <strong>de</strong> “pré- visualização”, <strong>de</strong>ixando para o pintor todo o trabalho <strong>de</strong> inscrição da<br />
imagem, elas teriam ainda um papel bem <strong>de</strong>limitado no seu processo <strong>de</strong> produção. Através<br />
do trabalho <strong>de</strong> inscrição manual da imagem, seria permitido ao pintor <strong>de</strong>ixar sua marca na<br />
própria materialida<strong>de</strong> da imagem: a intervenção inevitável <strong>de</strong> sua individualida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> seu<br />
estilo, <strong>de</strong> seu gênio. Os rastros <strong>de</strong> um gesto único e irreproduzível. Sua subjetivida<strong>de</strong>. No<br />
século XIX, contudo, a câmera obscura adquiriria um novo mecanismo em seu modo <strong>de</strong><br />
funcionamento, capaz <strong>de</strong> alterar completamente o papel do produtor da imagem, e fornecer<br />
à máquina um novo status no processo <strong>de</strong> produção das imagens. Esta mudança se daria<br />
com a agregação <strong>de</strong> processos químicos <strong>de</strong> fixação da imagem ao aparato, os quais<br />
24
passariam a permitir sua inscrição automática, sem a necessida<strong>de</strong> da intervenção do pintor.<br />
Essas imagens, por outro lado, apresentar-se-iam como imagens <strong>de</strong> outra natureza. Não<br />
mais pinturas, mas fotografias. O surgimento <strong>de</strong>ssa nova imagem traria, portanto, implícito<br />
em seu modo próprio <strong>de</strong> materialização, em sua gênese, um novo papel para as máquinas.<br />
A importância <strong>de</strong> sua atuação no processo <strong>de</strong> constituição da imagem aumentaria na<br />
proporção em que diminuiria a intervenção do produtor. A possibilida<strong>de</strong> do produtor da<br />
imagem <strong>de</strong>ixar a marca <strong>de</strong> sua subjetivida<strong>de</strong> no próprio processo <strong>de</strong> inscrição da imagem,<br />
na matéria que a sustenta enquanto uma representação possuidora <strong>de</strong> um corpo próprio,<br />
exterior ao nosso, seria neutralizada pela atuação <strong>de</strong> processos químicos <strong>de</strong> produção da<br />
imagem latente a ser posteriormente revelada em laboratório. Essa mesma câmera obscura<br />
receberia ainda novas intervenções técnicas, viabilizando o surgimento <strong>de</strong> mais um outro<br />
tipo <strong>de</strong> imagem, agora móvel, aquela que nos interessa: a imagem cinematográfica. A<br />
passagem <strong>de</strong> uma imagem a outra seria marcada, portanto, por mais uma mudança. Uma<br />
diferença essencial. Voltaremos a falar sobre essa diferença essencial que, por hipótese,<br />
caracterizaria a imagem cinematográfica e a distinguiria das outras. Antes, porém,<br />
propomos uma <strong>de</strong>scrição dos aspectos mais marcantes <strong>de</strong>sse aparato, a câmara obscura,<br />
cujas estruturas fundamentais ainda hoje po<strong>de</strong>m ser <strong>de</strong>tectadas no funcionamento tanto da<br />
câmera fotográfica, quanto da câmera cinematográfica, apesar <strong>de</strong> todas os<br />
aperfeiçoamentos técnicos que lhe permitiriam engendrar diferentes tipos <strong>de</strong> imagens.<br />
25
A câmara obscura<br />
O princípio do aparato já era conhecido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a Antigüida<strong>de</strong>. Mas a aplicação <strong>de</strong>sse<br />
conhecimento óptico na construção <strong>de</strong> um aparato capaz <strong>de</strong> colaborar na produção <strong>de</strong><br />
imagens pictóricas só viria a acontecer no século XVI. Leonardo da Vinci escreveu sobre<br />
ela em seus Livros <strong>de</strong> Notas, mas estes só seriam publicados em 1797. Antes disso, porém,<br />
um discípulo seu, Cesare Cesarino, a <strong>de</strong>screveu em um informe impresso no ano <strong>de</strong> 1521.<br />
No <strong>de</strong>correr <strong>de</strong>ste mesmo século, várias outras publicações divulgariam a câmara obscura<br />
como mais um interessante e útil dispositivo óptico, capaz <strong>de</strong> facilitar o trabalho dos<br />
pintores na produção <strong>de</strong> imagens em perspectiva. Dentre eles, <strong>de</strong>staca-se a obra Magiae<br />
Naturalis, <strong>de</strong> Giovanni <strong>de</strong>lla Porta, na qual, pela primeira vez, recomenda-se seu uso como<br />
ajuda para o <strong>de</strong>senho em perspectiva.<br />
Arlindo Machado a <strong>de</strong>screve:<br />
“Tais aparelhos eram caixas negras inteiramente lacradas, que <strong>de</strong>ixavam<br />
vazar luz apenas por um pequeno orifício, <strong>de</strong> forma que os raios luminosos<br />
penetravam no seu interior fazendo projetar numa das pare<strong>de</strong>s o „reflexo‟<br />
invertido dos objetos iluminados.” (id., 1984, p. 30)<br />
Mas até que se tornasse um instrumento suficientemente prático e eficiente na<br />
produção <strong>de</strong> imagens em perspectiva, a câmara obscura viria ainda a sofrer sucessivos<br />
aperfeiçoamentos técnicos. Segundo Helmut Gernsheim (1996), em 1550, o físico milanês<br />
Girolamo Cardano recomendaria a inserção <strong>de</strong> uma lente na abertura para que a imagem se<br />
tornasse mais brilhante. Em 1568, o veneziano Danielo Barbaro acrescentaria diafragmas<br />
<strong>de</strong> vários tamanhos ao dispositivo, os quais permitiriam obter imagens mais nítidas. Em<br />
1573, o matemático e astrônomo florentino Egnatio Danti acrescentaria um espelho<br />
côncavo para corrigir a posição da imagem, que até então se mantinha invertida. E os<br />
aperfeiçoamentos não cessaram, seguindo-se nos séculos posteriores. Em 1606, Friedrich<br />
Risner publicaria Optics on<strong>de</strong> se <strong>de</strong>screveriam as câmaras portáteis. Em 1636, o professor<br />
<strong>de</strong> matemática Daniel Schwenter criaria um elaborado sistema <strong>de</strong> lentes que combinava<br />
três distâncias focais diferentes. Em 1646, o padre e jesuíta Athanasius Kircher <strong>de</strong>screve,<br />
em seu tratado Arts Magna Lucis et Umbrae, uma câmara que po<strong>de</strong> ser movida por dois<br />
homens. (fig.1) Helmut Gernsheim (1996, p. 13) a <strong>de</strong>screve: “Consistia em um tubo<br />
exterior construído com um metal sólido, mas <strong>de</strong> pouco peso, com uma lente no centro <strong>de</strong><br />
cada lado, em um cubo interior <strong>de</strong> papel transparente on<strong>de</strong> se podia <strong>de</strong>senhar. O artista<br />
entrava por uma porta falsa situada no solo.”<br />
26
Fig. 1<br />
“Câmara obscura transportável” (1646) Athanasius kircher<br />
Fig 2<br />
“Câmara obscura portátil”. A imagem formada pelas lentes (B) é refletida pelo “mirror” (M)<br />
em um gran<strong>de</strong> vidro (N), on<strong>de</strong> finalmente é traçada pelo pintor.<br />
27
Em 1676, o professor Johann Christoph Sturm <strong>de</strong>screve e ilustra, em seu tratado<br />
Collegiun Experimentale, sive Curiosum, a primeira câmara reflex. Em 1685, o cientista<br />
Johannes Zann ilustra vários tipos <strong>de</strong> câmera obscura, na obra Oculus Artificialis. Ao<br />
chegar o século XVIII, a câmara obscura havia se difundido entre os meios mais cultos. A<br />
maioria das obras que tratava <strong>de</strong> ótica, pintura, <strong>de</strong>ntre outras novida<strong>de</strong>s da ciência,<br />
<strong>de</strong>dicava algum espaço para a sua <strong>de</strong>scrição.<br />
Os resultados obtidos com esses aperfeiçoamentos técnicos da câmara obscura<br />
po<strong>de</strong>m ser encontrados ainda hoje na estrutura básica tanto <strong>de</strong> uma câmera fotográfica<br />
quanto <strong>de</strong> uma câmera cinematográfica: a lente, inserida no orifício para produzir uma<br />
imagem mais nítida, o sistema <strong>de</strong> vários diâmetros <strong>de</strong> abertura no diafragma, possibilitando<br />
um melhor equilíbrio entre a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> luz e a qualida<strong>de</strong> da imagem, a variação da<br />
distância focal nos jogos <strong>de</strong> lentes – nas objetivas –, possibilitando uma aplicação<br />
diferenciada da perspectiva da configuração da imagem e prenunciando o surgimento das<br />
objetivas zoom, a inserção <strong>de</strong> um espelho para corrigir a inversão da imagem, que seria<br />
posteriormente aperfeiçoado em um sistema mais complexo capaz <strong>de</strong> viabilizar a<br />
confecção <strong>de</strong> visores prismáticos que disponibilizam para o produtor, agora fora da<br />
câmera, uma outra imagem semelhante àquela que se configura no interior da câmera, a<br />
confecção, enfim, <strong>de</strong> câmeras portáteis, mais leves, menores e, portanto, mais práticas.<br />
Antes mesmo do surgimento das primeiras imagens fotográficas, no século XIX, a câmara<br />
obscura já adquirira traços essenciais que viriam a <strong>de</strong>finir o funcionamento básico do<br />
dispositivo fotográfico, ao menos no que diz respeito aos processos óticos. Faltava apenas<br />
o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> processos químicos <strong>de</strong> fixação da imagem que dispensassem o gesto<br />
do pintor. Todavia, no que diz respeito aos processos óticos, os aspectos fundamentais que<br />
caracterizam ainda hoje o funcionamento do dispositivo responsável pela produção <strong>de</strong><br />
imagens pertencentes ao “paradigma fotográfico” estavam ali já <strong>de</strong>finidos.<br />
Como vimos, o que estabelece uma diferença qualitativa entre a imagem produzida<br />
pelos pintores e aquela produzida por fotógrafos é o modo como a imagem se inscreve no<br />
suporte, como ela se materializa. Portanto, só po<strong>de</strong>mos consi<strong>de</strong>rar uma imagem como<br />
pertencente ao “paradigma fotográfico” quando seu modo <strong>de</strong> produção trouxer implícito<br />
em sua operacionalização o processo químico <strong>de</strong> fixação. E isto só se dará com o advento<br />
da fotografia. Contudo, assim como a aplicação da perspectiva geométrica já nas pinturas<br />
renascentistas prenuncia traços essenciais que seriam <strong>de</strong>finidores da imagem pertencente<br />
28
ao “paradigma fotográfico”, também a apropriação por parte dos pintores <strong>de</strong>sse novo e<br />
interessante instrumento ótico, a câmara obscura, apontaria já para conseqüências que<br />
po<strong>de</strong>m ser <strong>de</strong>tectadas. Vejamos então quais mudanças esse novo instrumento po<strong>de</strong> gerar ao<br />
ser apropriado pelos pintores.<br />
Com a utilização da câmara obscura pelos pintores, os raios luminosos passaram a<br />
participar do processo <strong>de</strong> produção das imagens. Com isso, a noção <strong>de</strong> que essas imagens<br />
pintadas em perspectiva seriam um reflexo fiel da realida<strong>de</strong> visível torna-se muito mais<br />
eloqüente. E essa eloqüência, evi<strong>de</strong>ntemente, apóia-se no processo óptico que dá origem à<br />
imagem. A “objetivação da subjetivida<strong>de</strong>”, <strong>de</strong> que fala Panofsky (1975), ganha força<br />
retórica nos modos <strong>de</strong> produção da imagem. E isto se dá porque o modo <strong>de</strong> produção <strong>de</strong>ssa<br />
imagem pressupõe a presença <strong>de</strong>sse objeto diante do aparato técnico no momento mesmo<br />
<strong>de</strong> sua produção. O objeto <strong>de</strong>ve estar na mira do orifício – geralmente preenchido por um<br />
jogo <strong>de</strong> lentes – justamente do lado on<strong>de</strong> se encontra a realida<strong>de</strong> visível que é afetada pela<br />
luz: do lado <strong>de</strong> fora da câmara obscura. Entre a imagem produzida e o objeto representado<br />
há uma ligação existencial: a luz. É essa necessida<strong>de</strong> da presença do objeto diante do<br />
aparato para que se possa produzir a imagem que leva Couchot (1993) a consi<strong>de</strong>rar a<br />
lógica inerente ao processo ótico como responsável por esse vínculo entre o real e a<br />
representação. Po<strong>de</strong>mos inferir que a substituição da perspectiva artificialis pela câmara<br />
obscura intensifica a invisibilida<strong>de</strong> do código visual que fundamenta a imagem, na medida<br />
em que ten<strong>de</strong> a naturalizar um processo que, como salienta Arlindo Machado (1984), não<br />
<strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ser manipulado por alguns homens com o objetivo <strong>de</strong> obter uma imagem cuja<br />
configuração formal responda a anseios próprios a sua época, conformados a um modo<br />
particular <strong>de</strong> perceber e representar o mundo e a si próprio.<br />
Em outras palavras, o fato da câmara obscura viabilizar uma projeção automática<br />
da imagem em perspectiva, <strong>de</strong>ixando para a mão do artista somente o trabalho <strong>de</strong> fixação,<br />
<strong>de</strong> inscrição, aumenta nessa imagem seu status <strong>de</strong> “verda<strong>de</strong>” sobre o objeto representado –<br />
o referente da imagem – ; intensifica, portanto, na representação, as qualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
“neutralida<strong>de</strong>” e “objetivida<strong>de</strong>” perante a realida<strong>de</strong> visível. Essa imagem passa a ser<br />
sugerida como um “reflexo” da realida<strong>de</strong> visível: são os raios <strong>de</strong> luz que viabilizam a<br />
projeção da imagem na pare<strong>de</strong> interna do aparato; a luz configura automaticamente a<br />
imagem para o pintor; a imagem passa a se formar “naturalmente”. Aos pintores, cabe<br />
apenas fixar a imagem.<br />
29
Contudo, como nos lembra Philippe Dubois (1999), mesmo com o uso <strong>de</strong>sse<br />
aparato na produção das imagens, ainda assim, os pintores continuam a manter seu po<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong> intervenção nessa imagem. O gesto <strong>de</strong> pintá-las permite-lhes imprimir, na própria<br />
materialida<strong>de</strong> da imagem, um traço pessoal. A marca da subjetivida<strong>de</strong> do pintor continua a<br />
ser <strong>de</strong>ixada na materialida<strong>de</strong> da imagem, em sua gênese.<br />
O que Arlindo Machado (1984) ressalta, por outro lado, não é a subjetivida<strong>de</strong> do<br />
pintor no processo <strong>de</strong> inscrição da imagem pictórica, mas essa noção <strong>de</strong> “objetivida<strong>de</strong>” que<br />
costuma ser associada à imagem que se configura em perspectiva, sobretudo pelo uso da<br />
câmara obscura (ou suas sucessoras, a câmera fotográfica, cinematográfica, vi<strong>de</strong>ográfica e<br />
mesmo a digital). Ele reconhece o vínculo existencial que seu uso estabelece entre a<br />
imagem e o real, mas ressalta que, por si só, ele não é suficiente para garantir a essa<br />
imagem o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> dizer a verda<strong>de</strong> sobre o real. O autor observa que essa trajetória da luz<br />
obe<strong>de</strong>ce a uma lógica muito particular quando entra no aparato técnico; uma lógica que,<br />
em última instância, visa obter um resultado específico na configuração da imagem.<br />
Arlindo Machado (1984) preten<strong>de</strong>, portanto, <strong>de</strong>nunciar a artificialida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sse “código<br />
visual” implícito na imagem que se configura em perspectiva, mesmo que essa<br />
configuração seja conseguida <strong>de</strong> uma maneira automática, pelo uso da câmara obscura.<br />
Po<strong>de</strong>-se argumentar que o modo como a luz é manipulada pelo aparato assemelha-<br />
se ao modo como ela se processa no olho humano. Mas mesmo neste caso, se os processos<br />
ópticos que ocorrem no interior da câmara obscura se assemelham aos processos ópticos<br />
que ocorrem no olho humano, isto se dá porque o dispositivo foi aperfeiçoado para esta<br />
direção, no sentido <strong>de</strong> se obter este resultado. Assim, mesmo que o resultado nos pareça<br />
natural, não se po<strong>de</strong> ignorar o fato <strong>de</strong> que essa imagem que se projeta no interior do<br />
aparato e que será fixada pela mão do artista é, e sempre será, uma imagem produzida por<br />
meio <strong>de</strong> mecanismos que o homem engendrou. Como salienta Arlindo Machado (1984),<br />
ela resulta da aplicação <strong>de</strong> um “código visual” concebido por homens que pertencem a uma<br />
época e que, portanto, estão comprometidos com um modo específico <strong>de</strong> perceber e<br />
representar o mundo que os cerca.<br />
“Sabe-se hoje que todos os sistemas perspectivos são relativos e<br />
condicionados historicamente, <strong>de</strong> forma que a perspectiva central do<br />
Renascimento não é senão uma <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> uma concepção <strong>de</strong> espaço e<br />
<strong>de</strong> certos <strong>de</strong>slocamentos gnosiológicos que se processavam na época.”<br />
(Machado, op. cit., p. 66)<br />
30
Ao enfatizar o processo ótico que dá origem à imagem em perspectiva Arlindo<br />
Machado (1984) preten<strong>de</strong> <strong>de</strong>nunciar a artificialida<strong>de</strong> da imagem, romper com a aparente<br />
neutralida<strong>de</strong> <strong>de</strong> seu processo <strong>de</strong> codificação, colocando em cheque a noção <strong>de</strong> objetivida<strong>de</strong><br />
que acompanha essas imagens, sobretudo as fotográficas e cinematográficas, cuja<br />
credibilida<strong>de</strong> em sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> serem fiéis à realida<strong>de</strong> aparente passa a ser enfatizada<br />
pela intervenção do processo químico na técnica <strong>de</strong> fixação da imagem.<br />
“Se a fixação [química] da informação luminosa na película é tomada como<br />
princípio do processo fotográfico, é <strong>de</strong> se supor que em toda fotografia <strong>de</strong>ve<br />
intervir uma verda<strong>de</strong> originária, pois é o próprio objeto focalizado que<br />
„imprime‟ os seus sinais nos grãos <strong>de</strong> prata do negativo. Assim, ignorando os<br />
códigos pictóricos historicamente formados que estão implícitos na<br />
concepção do sistema óptico da câmara obscura, esse ponto <strong>de</strong> vista<br />
menospreza os processos <strong>de</strong> refração que modificam a informação luminosa<br />
fixada na película e se faz cego ao arbítrio da convenção fotográfica.”<br />
(ibi<strong>de</strong>m, p. 32 et seq.)<br />
Arlindo Machado (1984) diverge, neste ponto, <strong>de</strong> alguns teóricos da imagem<br />
consi<strong>de</strong>rados “realistas” por acreditarem na capacida<strong>de</strong> da imagem fotográfica <strong>de</strong><br />
apresentar-se como uma “emanação do referente” (Barthes, 1984, passim), e com outros,<br />
tidos como “i<strong>de</strong>alistas”, por reconhecerem nela uma “objetivida<strong>de</strong> essencial” fundada na<br />
própria “gênese” da imagem (Bazin, 1983, passim). Mais do que isso, alguns chegam a<br />
apontar para a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa imagem <strong>de</strong> dizer alguma verda<strong>de</strong> sobre o referente que<br />
escapa a qualquer codificação, <strong>de</strong> permitir-lhe a “inscrição” do real, <strong>de</strong>ixando ali uma<br />
“ferida” (Barthes, 1984, passim). Não nos parece, contudo, que esses autores com os quais<br />
Arlindo Machado dialoga ignorem a codificação <strong>de</strong>ssa imagem, fundada em processos<br />
óticos operados pelo aparato técnico. O que nos parece é que, ao priorizarem o enfoque <strong>de</strong><br />
suas observações no processo químico, eles percebem nessa imagem algo além da<br />
realida<strong>de</strong> visível codificada; percebem nela um outro aspecto: um modo <strong>de</strong> inscrição que<br />
<strong>de</strong>ixa ali um rastro do real que foge a qualquer codificação. Esse rastro do real não<br />
codificado, apesar <strong>de</strong> presente na imagem como uma marca, não se confun<strong>de</strong>, segundo nos<br />
parece, com o realismo da imagem, mas remete a outro traço, próprio à imagem<br />
fotográfica, implícito em seu modo <strong>de</strong> materializar-se, <strong>de</strong> se constituir; em sua “ontologia”,<br />
portanto.<br />
“Hoje, entre os comentaristas da fotografia (sociólogos e semiólogos), a<br />
moda é a da relativida<strong>de</strong> semântica: nada <strong>de</strong> „real‟ (gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>sprezo pelos<br />
„realistas‟ que não vêem que a foto é sempre codificada), apenas artifício:<br />
Thesis, não Phisis; a fotografia, dizem eles, não é um analogon do mundo; o<br />
que ela representa é fabricado, porque a óptica fotográfica está submetida à<br />
31
perspectiva albertiniana (perfeitamente histórica), e a inscrição no clichê faz<br />
<strong>de</strong> um objeto tridimensional uma efígie bidimensional. Esse é um <strong>de</strong>bate em<br />
vão. Nada po<strong>de</strong> impedir que a fotografia seja analógica; mas ao mesmo<br />
tempo o noema da fotografia não está <strong>de</strong> modo algum na analogia (traço que<br />
ela partilha com todos os tipos <strong>de</strong> representações).” (Barthes, 1984, p. 131 et<br />
seq.)<br />
No paradigma fotográfico, enfim, a relação entre real e representação ganha<br />
<strong>de</strong>staque nos <strong>de</strong>bates travados entre os teóricos da imagem, sobretudo durante os anos<br />
sessenta e setenta. E o cinema traz consigo essa herança da fotografia. A gênese fotográfica<br />
que sustenta os fotogramas não só garante à imagem móvel a manutenção do “realismo”,<br />
como o intensifica ainda mais com a possibilida<strong>de</strong> do movimento. Ismail Xavier (1984)<br />
nos fala a respeito:<br />
“Se já é um fato tradicional a celebração do “realismo da imagem<br />
fotográfica, tal celebração é muito mais intensa no caso do cinema, dado o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento temporal <strong>de</strong> sua imagem, capaz <strong>de</strong> reproduzir não só mais<br />
uma proprieda<strong>de</strong> do mundo visível, mas justamente uma proprieda<strong>de</strong><br />
essencial à sua natureza – o movimento.” (Xavier, 1984, p. 12)<br />
Voltaremos a essa questão mais adiante, quando analisarmos o processo químico<br />
que dá origem às imagens fotográficas e cinematográficas. Por enquanto, cabe-nos concluir<br />
que é justamente nos processos óticos que ocorrem na câmara obscura que po<strong>de</strong>mos<br />
<strong>de</strong>tectar um “código visual” em operação no processo <strong>de</strong> produção <strong>de</strong>ssas imagens. E esse<br />
código insere essas imagens em um novo contexto histórico. Ele as remete a “movimentos<br />
gnosiológicos” (Machado, 1984, p. 66) <strong>de</strong> uma socieda<strong>de</strong> que passa a estabelecer um novo<br />
estatuto para o sujeito, o qual passa a ser concebido como o “centro do universo”. A<br />
câmara obscura (e suas sucessoras, a câmera fotográfica, a cinematográfica, a vi<strong>de</strong>ográfica<br />
e até a digital) passa (m) a difundir nas imagens mo<strong>de</strong>rnas um código visual renascentista<br />
capaz <strong>de</strong> expressar esse “alargamento da esfera do EU” (Panofsky, 1975, p. 160), à medida<br />
que o espaço pictórico passa a ser hierarquizado e sistematizado a partir do ponto fixo<br />
pressuposto no arranjo em perspectiva, potencializando, enfim, através da forma <strong>de</strong><br />
enunciação da imagem, o po<strong>de</strong>r do homem sobre o mundo.<br />
32
Do ponto <strong>de</strong> fuga ao ponto <strong>de</strong> vista: o sujeito transcen<strong>de</strong>ntal<br />
Quando os <strong>de</strong>senhistas aplicam a perspectiva artificialis, o primeiro elemento que<br />
eles <strong>de</strong>finem no quadro é o ponto <strong>de</strong> fuga: um lugar imaginário on<strong>de</strong> todas as retas<br />
convergem. A imagem configurada em perspectiva – seja pela aplicação <strong>de</strong> regras<br />
matemáticas fundadoras da perspectiva geométrica, seja pela manipulação da câmara<br />
obscura – pressupõe, portanto, a atuação imaginária <strong>de</strong>sse ponto <strong>de</strong> fuga, ou linha <strong>de</strong> visão<br />
imaginária, do qual já tratamos anteriormente. O que nos interessa analisar agora é o modo<br />
como o público se relaciona como esse ponto <strong>de</strong> fuga ou linha <strong>de</strong> visão imaginária durante<br />
o processo <strong>de</strong> apreciação da imagem.<br />
Já nas pinturas renascentistas, po<strong>de</strong>mos encontrar a idéia implícita <strong>de</strong> um recorte no<br />
espaço pictórico, cujos limites <strong>de</strong>finem o campo visual da imagem que se projeta em<br />
perspectiva para o fundo do quadro, expresso mesmo na presença da moldura do quadro,<br />
reforçando a conhecida metáfora <strong>de</strong> que ele funcionaria como uma espécie <strong>de</strong> janela para<br />
esse mundo visível representado na imagem. O surgimento da imagem fotográfica só viria<br />
a reforçar essa ligação entre a moldura e os limites imaginários da pirâmi<strong>de</strong> visual<br />
implícita em toda imagem construída em perspectiva. O advento da imagem<br />
cinematográfica, em fins do século XIX, por outro lado, viria a difundir esse recorte do<br />
espaço visual como um ato <strong>de</strong> enquadramento. Esse enquadramento seria sustentado por<br />
um gesto <strong>de</strong> <strong>de</strong>limitação do campo visual a partir da escolha <strong>de</strong> um ângulo particular <strong>de</strong><br />
visão. Ele pressupõe, portanto, uma espécie <strong>de</strong> direção do olhar, capaz <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir o que será<br />
representado na imagem, e <strong>de</strong> que modo. Ele <strong>de</strong>fine, portanto, o modo <strong>de</strong> inscrição, o traço<br />
em imagem. E, ao ter como pressuposto uma linha <strong>de</strong> visão imaginária, esse gesto <strong>de</strong><br />
enquadrar a imagem associa a esse olhar i<strong>de</strong>al, ou fictício, o olhar do produtor da imagem,<br />
o olhar da câmera – no caso das imagens fotográficas e cinematográficas – e o olhar do<br />
público. Essa assimilação dos olhares, esse alinhamento entre eles, tornando-os<br />
equivalentes, leva à noção <strong>de</strong> ponto <strong>de</strong> vista, amplamente utilizada quando se fala da<br />
imagem cinematográfica. Uma noção que se torna ainda mais complexa quando levamos<br />
em conta as formas narrativas da imagem, geralmente associadas à presença <strong>de</strong><br />
personagens na realida<strong>de</strong> representada, e cuja construção imaginária leva em conta o<br />
alinhamento <strong>de</strong> mais esse olhar: o olhar do personagem. Pois bem, como esses olhares se<br />
alinham? De que maneira ocorre esse agenciamento dos olhares?<br />
33
Nós vimos que a organização das formas no espaço configurado em perspectiva<br />
pressupõe uma noção <strong>de</strong> olhar i<strong>de</strong>al que se esten<strong>de</strong>ria para o fundo do quadro. Ele se<br />
ampliaria nessa ilusória profundida<strong>de</strong> espacial, culminando no ponto <strong>de</strong> fuga; esse ponto<br />
fixo do código visual que, em última instância, remete a um espaço que se expan<strong>de</strong> ao<br />
infinito, e que, portanto, não po<strong>de</strong> mais ser representado na imagem senão como esse ponto<br />
on<strong>de</strong> as retas convergem. Pois bem, esse olhar i<strong>de</strong>al, ao se esten<strong>de</strong>r ao infinito, apresenta-<br />
se como um olhar todo-po<strong>de</strong>roso, que atravessa o espaço em profundida<strong>de</strong>. E seu po<strong>de</strong>r se<br />
sustenta justamente no fato <strong>de</strong> apresentar-se como fonte principal <strong>de</strong> referência e sentido<br />
na organização e hierarquia <strong>de</strong>sse mesmo espaço, pois é por meio <strong>de</strong> seu posicionamento<br />
que se estabelece o enquadramento em perspectiva. Ele está, portanto, intimamente<br />
vinculado ao ponto <strong>de</strong> fuga que <strong>de</strong>fine a configuração da imagem em perspectiva.<br />
Uma imagem em perspectiva pressupõe, portanto, esse posicionamento no espaço<br />
<strong>de</strong> um sujeito i<strong>de</strong>al a olhar a cena como fonte <strong>de</strong> sentido e or<strong>de</strong>m para a imagem. Como<br />
vários autores já salientaram, <strong>de</strong>ntre eles Erwin Panofsky (1975) e Arlindo Machado<br />
(1984), o enquadramento em perspectiva traz implícita em sua própria constituição essa<br />
noção particular <strong>de</strong> “sujeito”, cuja “centralida<strong>de</strong>” faz <strong>de</strong>le a fonte <strong>de</strong> sentido e or<strong>de</strong>m para<br />
um mundo que se passa a se hierarquizar e se organizar a partir <strong>de</strong>le. Muito embora essa<br />
noção não apareça na imagem com formas explícitas, ela está presente implicitamente na<br />
própria configuração formal da imagem; no código que a sustenta, portanto. O que vale<br />
aqui ressaltar, contudo, é que, quando a imagem, já acabada, se disponibiliza para o<br />
público, esse lugar i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> um suposto sujeito a olhar a cena representada transforma-se<br />
em condição básica <strong>de</strong> leitura. Pois a imagem só faz sentido ao seu apreciador quando ele<br />
subenten<strong>de</strong> seu olhar ao olhar <strong>de</strong>sse sujeito i<strong>de</strong>al. O público po<strong>de</strong> mesmo não ter<br />
consciência <strong>de</strong>sse mecanismo, mas ele precisa participar <strong>de</strong>sse jogo <strong>de</strong> olhares e ativar a<br />
função <strong>de</strong>sse olho i<strong>de</strong>al para que o código funcione e produza o efeito visual e semântico<br />
que é esperado à imagem. E o único modo do apreciador da imagem ativar esse olhar i<strong>de</strong>al,<br />
o modo <strong>de</strong> dar-lhe vida, é acoplar à imagem o seu próprio olhar.<br />
Esse <strong>de</strong>slizamento do olhar do público sobre a imagem, muitas vezes sem que ele<br />
se dê conta do código que articula tão naturalmente, não se opera, portanto, sem que o<br />
ponto <strong>de</strong> vista i<strong>de</strong>al seja acionado, sem que seja reconhecido como tal. Pois é nele que o<br />
olhar do apreciador se acopla para que a imagem surja configurada como tal. E é também<br />
por meio <strong>de</strong>le que ocorre a passagem da realida<strong>de</strong> à ficção. Nesse sentido, com esse<br />
34
acoplamento <strong>de</strong> olhares, essa i<strong>de</strong>ntificação do olhar do apreciador da imagem com esse<br />
“ponto <strong>de</strong> vista i<strong>de</strong>al” que se articula no código visual renascentista, o olhar do apreciador<br />
se expan<strong>de</strong> para esse mundo ficcional: um mundo que foi criado pelo produtor da imagem<br />
e que só existe nela; um mundo simbólico ou imaginário. O apreciador penetra no quadro;<br />
o seu olhar se expan<strong>de</strong> para <strong>de</strong>ntro da representação. Uma passagem da realida<strong>de</strong> à<br />
representação extremamente sutil.<br />
Esse modo peculiar <strong>de</strong> configuração da imagem em perspectiva pressupõe, então, o<br />
que po<strong>de</strong>ríamos <strong>de</strong>finir como dois níveis distintos <strong>de</strong> operação: um nível explícito, que<br />
aparece representado nas formas visíveis, e um nível implícito, que não aparece nessas<br />
formas perceptíveis, mas encontra-se subentendido na imagem como sua condição <strong>de</strong><br />
leitura, como sua fonte <strong>de</strong> sentido e or<strong>de</strong>m. É o que Jean-Pierre Oudart (1969) <strong>de</strong>fine como<br />
“duplo palco”: em um lado do palco haveria o espetáculo, representado na parte visível da<br />
imagem; no outro lado do palco, um lugar invisível, mas atuante, <strong>de</strong> on<strong>de</strong> se infere a<br />
atuação <strong>de</strong> um olhar fantasmático a observar o espetáculo; um lugar “vazio” – pois esse<br />
observador i<strong>de</strong>al está “ausente” – , mas configurado <strong>de</strong> maneira tal a permitir que o público<br />
se instale imaginariamente nele, <strong>de</strong> modo a assumir para si aquilo que o “observador i<strong>de</strong>al”<br />
supostamente veria encenado em imagem. Oudart (1969) <strong>de</strong>nomina o nível explícito <strong>de</strong><br />
configuração da imagem, a parte visível do texto visual trabalhado pelo código, <strong>de</strong><br />
“espetáculo” ; e o nível implícito, a parte invisível, mas ainda assim integrante <strong>de</strong>le – o<br />
lugar do sujeito i<strong>de</strong>al –, o lugar do “ausente”. O sistema semiótico, enfim, que pressupõe<br />
todo esse arranjo, próprio à pintura renascentista, é nomeado pelo autor como “sistema<br />
clássico <strong>de</strong> representação”.<br />
Segundo esse modo <strong>de</strong> abordagem, po<strong>de</strong>mos inferir que o tema da representação<br />
pictórica passa a ser tratado mesmo como um “pretexto” para a expressão <strong>de</strong> uma idéia que<br />
se encontra codificada no próprio modo <strong>de</strong> configuração da imagem, no próprio “texto”,<br />
apesar <strong>de</strong> insistir em se fazer invisível, <strong>de</strong>sapercebida (Schefer, 1969, passim). Pois, muito<br />
embora o nível implícito não apareça na imagem, muito embora seja, na maioria das vezes,<br />
ignorado, ele se apresenta atuante e, sobretudo, capaz <strong>de</strong> sugerir essa noção específica <strong>de</strong><br />
sujeito a olhar cena. Uma noção que se encontra codificada na imagem no próprio modo<br />
como ela se configura; ou seja, no próprio texto visual.<br />
35
Po<strong>de</strong>-se inferir, ainda, que esse “sistema <strong>de</strong> representação”, por <strong>de</strong>ixar o espectador<br />
<strong>de</strong> fora e ao mesmo tempo permitir-lhe a<strong>de</strong>ntrar o olhar 3 , estimula nele o prazer <strong>de</strong> ver sem<br />
ser visto, perceber sem ser percebido, invadir aquele espaço sem correr nenhum perigo<br />
real. Contudo, no caso das pinturas renascentistas, essa dupla condição do espectador não o<br />
permite envolver-se na trama textual a ponto <strong>de</strong> per<strong>de</strong>r a noção <strong>de</strong> realida<strong>de</strong>; ou seja, ele<br />
não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ter consciência <strong>de</strong> que, na verda<strong>de</strong>, o lugar <strong>de</strong> on<strong>de</strong> ele olha a cena é aquele<br />
espaço real no qual seu corpo se encontra localizado. O prazer ocasionado por sua<br />
i<strong>de</strong>ntificação com aquele lugar do sujeito i<strong>de</strong>al, do “ausente”, é contrabalançado pelos<br />
limites do quadro, pela moldura, que lhe lembram constantemente que ali on<strong>de</strong> a<br />
representação <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ter visibilida<strong>de</strong> está o espaço real. Como o olhar do apreciador da<br />
imagem atua nesse nível implícito, ele, ao mesmo tempo, percebe-se <strong>de</strong>ntro da<br />
representação, pela extensão do seu olhar por esse olho i<strong>de</strong>al, e fora <strong>de</strong>la, por informações<br />
que seu corpo como um todo lhe dá; informações que lhe permitem distinguir o mundo real<br />
do mundo ficcional. A imagem configurada em perspectiva coloca, enfim, o apreciador da<br />
imagem nesse limiar entre a ficção e a realida<strong>de</strong>, permite-lhe vivenciar essa dupla<br />
condição, inebriar-se com a imagem pelos vôos da imaginação, mas não consegue retirar<br />
<strong>de</strong>le a noção <strong>de</strong> realida<strong>de</strong>. O público sabe que, na verda<strong>de</strong>, está diante <strong>de</strong> uma<br />
representação.<br />
No caso na imagem cinematográfica, por outro lado, algo novo acontece. Os<br />
recursos <strong>de</strong> montagem <strong>de</strong>senvolvidos ao longo dos anos <strong>de</strong> convivência com essa imagem<br />
permitiram o <strong>de</strong>sdobramento <strong>de</strong> outro sistema semiótico, <strong>de</strong>rivado daquele “sistema <strong>de</strong><br />
representação clássica” já <strong>de</strong>tectado por Oudart (1969) nas pinturas renascentistas. Um<br />
sistema semiótico capaz <strong>de</strong> intensificar a impressão <strong>de</strong> realida<strong>de</strong> na imagem e minimizar,<br />
no público, esse distanciamento necessário perante a imagem. Esse novo arranjo textual da<br />
imagem é <strong>de</strong>finido por esse teórico da imagem como “sistema do ausente”, ou “sistema <strong>de</strong><br />
sutura”. Vejamos, então, como ele funciona.<br />
O recurso <strong>de</strong> montagem da imagem cinematográfica em vários planos diversifica a<br />
posição <strong>de</strong>sse “olhar i<strong>de</strong>al”. O espaço da representação se fragmenta, portanto, em vários<br />
pontos <strong>de</strong> vista sobre ele. Com isso, ele ten<strong>de</strong> a per<strong>de</strong>r sua unida<strong>de</strong>, garantida até então<br />
pelo “sistema <strong>de</strong> representação” da pintura renascentista, no qual o lugar do sujeito i<strong>de</strong>al,<br />
do “ausente”, mantinha-se fixo em um único ponto, e <strong>de</strong>finia, portanto, sua or<strong>de</strong>m. “Na<br />
3 “No cinema, eu estou ao mesmo tempo na ação e fora <strong>de</strong>la, neste espaço e fora <strong>de</strong>ste espaço. Tendo o dom<br />
da ubiqüida<strong>de</strong>, estou em toda parte e em parte nenhuma.” (Mitry, 1965, Tomo I, pág. 179)<br />
36
verda<strong>de</strong>, a sucessão cinematográfica das imagens ameaça interromper ou mesmo expor e<br />
<strong>de</strong>struir o sistema <strong>de</strong> representação que orienta o sistema estático da pintura e da<br />
fotografia” (Dayan, 1985, p. 107). Como se sabe, foram necessários muitos anos para que<br />
os produtores <strong>de</strong>ssa imagem conseguissem <strong>de</strong>senvolver técnicas <strong>de</strong> linguagem que fossem<br />
capazes <strong>de</strong> restabelecer a unida<strong>de</strong> a esse espaço da representação que tendia, então, a se<br />
fragmentar com essa variação do ponto <strong>de</strong> vista. E esse esforço se fazia realmente<br />
premente, pois sem um espaço com orientações precisas <strong>de</strong> posicionamento, sem uma<br />
organização bem <strong>de</strong>finida para ele, o público tendia a ficar <strong>de</strong>sorientado. O que se<br />
consegue engendrar, ao longo dos anos, são recursos <strong>de</strong> linguagem capazes <strong>de</strong> restabelecer<br />
a unida<strong>de</strong> e a or<strong>de</strong>m ao espaço da representação por meio <strong>de</strong> uma aparente continuida<strong>de</strong>,<br />
fundada, sobretudo em jogos <strong>de</strong> olhares. Esses recursos <strong>de</strong> linguagem são muito<br />
encontrados, hoje em dia, no cinema <strong>de</strong> narrativa clássica. Eles se sustentam em uma<br />
lógica <strong>de</strong> funcionamento própria à imagem cinematográfica, gerando um sistema semiótico<br />
próprio; aquele que Oudart (1969) <strong>de</strong>fine como “sistema <strong>de</strong> sutura”, promovendo, então,<br />
um novo “esquema perceptivo” (Schefer, 1969, passim).<br />
Os jogos <strong>de</strong> olhares seriam então articulados <strong>de</strong> modo a neutralizar esse efeito <strong>de</strong><br />
fragmentação do espaço e <strong>de</strong> <strong>de</strong>sorientação gerados no público pela multiplicação dos<br />
pontos <strong>de</strong> vista na imagem. Para tanto, tentava-se articular esses vários pontos <strong>de</strong> vista <strong>de</strong><br />
modo a reunificá-los em um ponto <strong>de</strong> vista único mais abstrato; uma espécie <strong>de</strong> resultante<br />
dos vários pontos <strong>de</strong> vista que compõem a imagem. Uma noção abstrata <strong>de</strong> ponto <strong>de</strong> vista<br />
móvel, capaz <strong>de</strong> se colocar em diferentes posições no espaço da representação, o qual<br />
passaria, então, a ser compreendido como um espaço homogêneo, unificado. Assim como<br />
na pintura renascentista e na imagem fotográfica, o espaço da representação, na imagem<br />
cinematográfica, voltaria a ser percebido como um espaço contínuo e organizado. A<br />
diferença se encontraria justamente nessa mobilida<strong>de</strong> que o sujeito i<strong>de</strong>al – “o ausente” –<br />
adquiriria <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>sse espaço. Uma mobilida<strong>de</strong> que, na verda<strong>de</strong>, viria a ampliar a<br />
impressão <strong>de</strong> potência <strong>de</strong>sse sujeito i<strong>de</strong>al, que passaria agora a po<strong>de</strong>r se <strong>de</strong>slocar no espaço<br />
por uma espécie <strong>de</strong> salto virtual promovido pelo <strong>de</strong>slocamento da câmera <strong>de</strong> um lugar para<br />
outro. A mobilida<strong>de</strong> da câmera – já <strong>de</strong>tectada pela possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mobilida<strong>de</strong> real do<br />
equipamento <strong>de</strong> filmagem (os movimentos <strong>de</strong> câmera) – é, assim, ampliada pelos recursos<br />
<strong>de</strong> montagem.<br />
37
Nesse sentido, as mudanças <strong>de</strong> posicionamento da câmera, articuladas <strong>de</strong> maneira<br />
tal a fazer com que sejam compreendidas pelo público como se tratassem <strong>de</strong> uma espécie<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>slocamento virtual do sujeito i<strong>de</strong>al no espaço da representação, acabam por<br />
intensificar, na verda<strong>de</strong>, a transcendência <strong>de</strong>sse sujeito. Tal fato levaria Baudry (1983) a<br />
<strong>de</strong>finir esse sujeito i<strong>de</strong>al, operacionalizado no cinema <strong>de</strong> estrutura clássico-narrativa, como<br />
“sujeito transcen<strong>de</strong>ntal”.<br />
“[No cinema] o olho-sujeito constitutivo, mas implícito, da perspectiva<br />
artificial, na verda<strong>de</strong>, é apenas o representante <strong>de</strong> uma transcendência que, ao<br />
se esforçar para reencontrar a or<strong>de</strong>m regrada <strong>de</strong>sta transcendência, acha-se<br />
absorvido, „elevado‟ a uma função mais ampla, à medida do movimento que<br />
é capaz <strong>de</strong> operar.” (Baudry, 1983, p. 391)<br />
Para conseguir fazer com que o público compreenda essas várias posições que a<br />
câmera vai assumindo como oriundas <strong>de</strong> um único ponto <strong>de</strong> vista, mais abstrato, resultante<br />
do olhar <strong>de</strong> um sujeito i<strong>de</strong>al que possui o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> fazer esses saltos virtuais <strong>de</strong> um lugar a<br />
outro do espaço, faz-se necessário, então, engendrar um mecanismo capaz <strong>de</strong> estabelecer<br />
essa ligação entre essas diferentes posições no espaço; engendrar um agente para esses<br />
<strong>de</strong>slocamentos. Algo que po<strong>de</strong>ríamos nos arriscar a chamar aqui <strong>de</strong> sujeito-causa dos<br />
<strong>de</strong>slocamentos do ponto <strong>de</strong> vista. Essa ligação é conseguida, então, pela associação <strong>de</strong>ssas<br />
posições da câmera ao olhar <strong>de</strong> um personagem, gerando o que Oudart (1969) chama <strong>de</strong><br />
“imagem subjetiva”. Ou seja, os sucessivos e diferenciados posicionamentos que a câmera<br />
vai assumindo vão sendo escolhidos segundo posições no espaço que permitam ao público<br />
i<strong>de</strong>ntificá-los como um resultado do olhar <strong>de</strong> um personagem.<br />
Essa i<strong>de</strong>ntificação da posição que a câmera vai assumindo com o olhar <strong>de</strong> um<br />
personagem não se faz, contudo, <strong>de</strong> uma maneira direta. Ela é, na verda<strong>de</strong>, engendrada por<br />
procedimentos sutis que sugerem uma espécie <strong>de</strong> aproximação entre posição da câmera e a<br />
posição do personagem <strong>de</strong>ntro do espaço da representação. A câmera seria posicionada,<br />
por exemplo, próxima ao ombro do personagem, mostrando, na imagem, aquilo que<br />
supostamente ele estaria vendo. Muito freqüentemente, ela <strong>de</strong>ixaria entrar em quadro – e,<br />
portanto, ser representado na imagem – uma parte do corpo <strong>de</strong>sse mesmo personagem,<br />
produzindo, assim, uma espécie <strong>de</strong> metonímia na imagem. Neste exemplo, é a direção do<br />
olhar do personagem que coinci<strong>de</strong> com a direção do olhar do “observador i<strong>de</strong>al” da<br />
imagem, <strong>de</strong>finido pela posição da câmera. Logo após essa imagem, po<strong>de</strong>riam surgir outros<br />
planos mais fechados – mais próximos do objeto filmado – mostrando <strong>de</strong>talhes <strong>de</strong> objetos,<br />
ou seres, ou então, planos mais abertos, planos gerais, com cenários vazios, paisagens.<br />
38
Essas imagens que surgiriam logo em seguida à imagem on<strong>de</strong> aparece parte do corpo <strong>de</strong><br />
um personagem, cuja atenção sugere-se, na imagem, estar voltada para algo que não é<br />
mostrado no quadro, mas parece se situar em algum lugar para além daquele representado<br />
no enquadramento – o extra-campo – , essas imagens ten<strong>de</strong>riam a ser compreendidas pelo<br />
público como aquilo que o personagem vê, ou para o qual sua atenção se volta.<br />
Em um outro exemplo, imaginemos uma imagem cuja visibilida<strong>de</strong> nos mostre um<br />
personagem que olha para fora do quadro. Contudo, esse personagem aparece enquadrado<br />
na imagem por um ângulo frontal, ou mesmo oblíquo. Tanto em um caso, como em outro,<br />
po<strong>de</strong>mos percebê-lo <strong>de</strong> frente para nós; po<strong>de</strong>mos ver seu rosto. Seu olhar, contudo, cria<br />
uma expectativa no espectador: O que ele está olhando? Para on<strong>de</strong> se dirige seu olhar?<br />
Essa expectativa nos induz então a outro plano <strong>de</strong> imagem, o qual tenta nos dar uma<br />
resposta satisfatória: a imagem ten<strong>de</strong> a mostrar, então, aquilo que supostamente o<br />
personagem do plano anterior olhava. Neste exemplo, a câmera passa a assumir uma<br />
posição no espaço que ten<strong>de</strong> coincidir com a posição que antes era assumida pelo<br />
personagem. Geralmente, não há mais, na imagem, nenhum recurso à metonímia, pois já<br />
não é mais preciso mostrar nenhuma parte do corpo do personagem na imagem para que o<br />
público infira que aquilo que o segundo plano passa a mostrar na imagem, na verda<strong>de</strong>,<br />
correspon<strong>de</strong> ao campo <strong>de</strong> visão do personagem que apareceu no plano anterior.<br />
Esse mecanismo <strong>de</strong> articulação entre dois planos po<strong>de</strong> ter ainda sua or<strong>de</strong>m<br />
invertida. Mostra-se inicialmente uma imagem na qual não há nenhum personagem<br />
presente. O espectador se pergunta, então: Quem olha? No cinema <strong>de</strong> estrutura clássica,<br />
essa pergunta não po<strong>de</strong> ficar sem resposta. É preciso estabelecer um sujeito-causa para<br />
esse olhar, para essa imagem, sob o risco <strong>de</strong> se ver <strong>de</strong>nunciada, na própria forma <strong>de</strong><br />
apresentação da imagem, a artificialida<strong>de</strong> do discurso: Quem olha? A câmera? O produtor<br />
da imagem? Eu, público <strong>de</strong>ssa imagem, <strong>de</strong>sse espetáculo? Todos os agentes do discurso<br />
ten<strong>de</strong>m a surgir perante a consciência crítica do espectador, quebrando o efeito <strong>de</strong> ilusão<br />
não só visual, mas sobretudo, <strong>de</strong> uma realida<strong>de</strong> ficcional que, até então, apresentava-se na<br />
imagem como extremamente real e sedutora. Assim, imediatamente após uma imagem<br />
<strong>de</strong>sse tipo, ten<strong>de</strong>-se a surgir um novo plano com um personagem a olhar para fora do<br />
quadro. O espectador se acalma: Ah! É ele quem olha! O personagem ocupa o lugar do<br />
observador “ausente” da imagem, poupando o público <strong>de</strong> se perceber ali, naquele “lugar<br />
vazio”, <strong>de</strong> perceber-se a si mesmo enquanto aquele que olha. A presença do personagem<br />
39
no plano seguinte preserva, enfim, para o espectador, sua invisibilida<strong>de</strong>, sua presença<br />
fantasmática, <strong>de</strong>ntro daquela realida<strong>de</strong> ficcional. No cinema <strong>de</strong> estrutura narrativa clássica,<br />
o “lugar vazio” do observador “ausente” precisa ser preenchido constantemente por<br />
alguma entida<strong>de</strong> que pertença ao universo da representação.<br />
Nos exemplos citados, o modo <strong>de</strong> articulação dos planos, gerido por jogos <strong>de</strong><br />
olhares que promovem uma i<strong>de</strong>ntificação do olhar do público – mediado pela posição da<br />
câmera – com o olhar do personagem, através da articulação <strong>de</strong>sse lugar comum – o lugar<br />
vazio do “observador ausente” – remete, na verda<strong>de</strong>, ao recurso do campo/contra-campo<br />
muito comentado nas gramáticas tradicionais <strong>de</strong> linguagem cinematográfica; muito embora<br />
essas gramáticas não explicitem o modo como os jogos <strong>de</strong> olhares se articulam com o olhar<br />
i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> um observador “ausente”, presente na estrutura textual <strong>de</strong> toda imagem<br />
configurada em perspectiva. Esse mecanismo promove, enfim, uma espécie <strong>de</strong> costura<br />
entre os planos, restabelecendo a unida<strong>de</strong> na imagem cinematográfica, à medida que vai<br />
neutralizando a violência perceptiva promovida pelo corte que separa um plano do outro.<br />
Através <strong>de</strong> procedimentos <strong>de</strong> montagem, os cortes ten<strong>de</strong>m a ficar invisíveis, a passarem<br />
<strong>de</strong>sapercebidos pelo público, o qual passa a inferir, nas diferentes imagens, uma ligação<br />
virtual, sustentada por um olhar único: o olhar <strong>de</strong> um (ou mais) personagem que se move<br />
virtualmente <strong>de</strong> um ponto a outro do espaço da representação . O público passa a perceber<br />
uma imagem única e contínua. É por isso que Oudart (1969) nomeia esse sistema<br />
semiótico próprio ao cinema <strong>de</strong> “sistema <strong>de</strong> sutura”.<br />
Nos filmes cuja forma se fundamenta nesse tipo sistema semiótico <strong>de</strong>scrito por<br />
Oudart, o plano per<strong>de</strong> sua autonomia, visto que só adquire sentido à medida que se articula<br />
com outros planos. A imagem cinematográfica passa a se constituir, então, como uma<br />
imagem resultante <strong>de</strong>ssa articulação entre os vários planos. Na verda<strong>de</strong>, o que confere a<br />
unida<strong>de</strong> e o sentido à imagem não é a soma entre os diferentes planos – uma suposta<br />
síntese entre o plano anterior e o plano posterior –, mas essa trama <strong>de</strong> relações entre os<br />
personagens, cujos pontos <strong>de</strong> vista se <strong>de</strong>slocam virtualmente <strong>de</strong> um ponto a outro da<br />
realida<strong>de</strong> representada. São jogos <strong>de</strong> olhares que configuram uma espécie <strong>de</strong> re<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
significações que <strong>de</strong>terminam quem está olhando o espetáculo visual que se apresenta na<br />
tela para o público. Essa trama textual leva, enfim, a imagem cinematográfica a significar<br />
algo novo: ela passa a significar uma (ou uma trama <strong>de</strong>) subjetivida<strong>de</strong> (s) – sobretudo nos<br />
40
filmes <strong>de</strong> estrutura narrativa clássica. Uma subjetivida<strong>de</strong> que é conferida a um ou mais<br />
personagens da ficção.<br />
O público, por outro lado, tem sua participação negada nos jogos <strong>de</strong> olhares. É a<br />
sua participação que viabiliza o funcionamento do código. Na verda<strong>de</strong>, é para ele que a<br />
imagem é produzida. Contudo, nesse sistema semiótico em particular, ele tem sua<br />
participação negada em mecanismos que conferem o olhar a alguém que não é ele, a um<br />
outro sujeito. O espectador fica alienado <strong>de</strong> sua função <strong>de</strong> sujeito que olha o espetáculo que<br />
se apresenta diante <strong>de</strong>le, e, na verda<strong>de</strong>, para ele.<br />
O “sistema <strong>de</strong> sutura” da imagem cinematográfica distingue-se, assim, do “sistema<br />
<strong>de</strong> representação” das pinturas renascentistas justamente por funcionar como um “sistema<br />
produtor <strong>de</strong> significação” (Oudart). O sentido da imagem – a intencionalida<strong>de</strong> que <strong>de</strong>fine<br />
aquele enquadramento, aquela visualida<strong>de</strong> – não é mais um atributo reconhecido nas<br />
intenções, conscientes ou inconscientes, nem <strong>de</strong> seu produtor, nem <strong>de</strong> seu público; os<br />
verda<strong>de</strong>iros agentes ativos da constituição do discurso. Esse “sistema <strong>de</strong> sutura”,<br />
predominante no cinema <strong>de</strong> estrutura narrativa clássica, ten<strong>de</strong> a apagar a presença <strong>de</strong><br />
ambos, <strong>de</strong>ixando na visibilida<strong>de</strong> apenas a presença atuante do personagem. Mesmo quando<br />
consi<strong>de</strong>ramos o outro lado do “palco” (Oudart) que sustenta esse espetáculo – o “lugar<br />
vazio” do observador i<strong>de</strong>al, do “ausente”, o lado invisível do texto – , ainda assim é ao<br />
personagem que se atribui esse lugar. Na verda<strong>de</strong>, é por atribuir a ele esse “lugar” – a fonte<br />
<strong>de</strong> sentido e or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> toda imagem em perspectiva – que a participação ativa é negada<br />
tanto ao produtor da imagem, quanto ao púbico, na produção <strong>de</strong> sentido. Pois, como vimos,<br />
é a partir <strong>de</strong>sse “lugar” que o sentido se estabelece na imagem, é a partir <strong>de</strong>le que todo<br />
aquele universo se hierarquiza e se configura. E, se esse “lugar i<strong>de</strong>al”, “vazio”, passa a ser<br />
atribuído ao personagem, todo o sentido da imagem passa a ser direcionado pelos traços<br />
subjetivos que são atribuídos a ele (ou eles). Uma subjetivida<strong>de</strong> que, no entanto, sabemos<br />
que não passa já <strong>de</strong> um efeito do discurso, não existe a não ser enquanto um atributo que o<br />
produtor <strong>de</strong> imagem, por um lado, e o público, por outro, lhe fornecem imaginariamente. O<br />
“lugar vazio” do sujeito i<strong>de</strong>al, que na imagem fixa – a pintura em perspectiva e a foto-<br />
grafia – , permitia ao público se colocar como fonte <strong>de</strong> sentido e or<strong>de</strong>m da imagem,<br />
aproximando-se, assim, do próprio olhar do produtor da imagem, carregado <strong>de</strong><br />
intencionalida<strong>de</strong>, esse “lugar” passa a ser preenchido por essa presença do (s) personagem<br />
(s), que insiste (m) em permanecer ali, mascarando o verda<strong>de</strong>iro sujeito-causa da imagem,<br />
41
sua verda<strong>de</strong>ira fonte <strong>de</strong> sentido. Dayan (1985, p. 112) comenta, enfim, sobre a “tirania”<br />
<strong>de</strong>sse sistema perceptivo específico que Oudart (1969) <strong>de</strong>tectou na imagem<br />
cinematográfica: “„O sistema <strong>de</strong> sutura‟ <strong>de</strong>srespeita sistematicamente a liberda<strong>de</strong> do<br />
espectador, interpretando, <strong>de</strong> fato, remo<strong>de</strong>lando sua memória.”<br />
Não preten<strong>de</strong>mos aqui, contudo, abordar esse “sistema <strong>de</strong> sutura” como algo ruim<br />
em si mesmo, contra o qual <strong>de</strong>vemos resistir, ou lutar. Uma tal visão maniqueísta não nos<br />
levaria a lugar algum, a não ser ao lugar da oposição contra o “sistema”. 4 Na verda<strong>de</strong>, ele é<br />
um mecanismo <strong>de</strong> linguagem extremamente sofisticado, que levou anos para ser<br />
aperfeiçoado e chegar ao ponto em que nos encontramos agora a analisar. Deve-se<br />
reconhecer que ele respon<strong>de</strong> com bastante sucesso ao difícil problema <strong>de</strong> restauração <strong>de</strong><br />
uma nova configuração espacial para a imagem cinematográfica, capaz <strong>de</strong> orientar o<br />
movimento da percepção do público em sua exploração, sem que se perca, sem que se<br />
confunda, sem que se sinta confuso e <strong>de</strong>sorientado em um arranjo precário do espaço;<br />
capaz ainda <strong>de</strong> estabelecer alguma unida<strong>de</strong> à representação como um todo. Pois, por si só,<br />
a unida<strong>de</strong> não é algo ruim. Ela ten<strong>de</strong> mesmo a ser buscada por artistas <strong>de</strong> diferentes tipos<br />
<strong>de</strong> imagens, quando tentam encontrar soluções formais em suas representações. Na<br />
verda<strong>de</strong>, o que parece comprometer o “sistema <strong>de</strong> sutura” é sua tendência a fechar a<br />
produção <strong>de</strong> sentido para um único eixo. Um contra-peso para essa tendência, po<strong>de</strong>ria ser<br />
conseguido, por hipótese, com a intensificação <strong>de</strong> planos que não mais se subordinariam ao<br />
olhar <strong>de</strong> um personagem, momentos da trama nos quais a imagem pu<strong>de</strong>sse se <strong>de</strong>scolar<br />
<strong>de</strong>sse sistema <strong>de</strong> ligações imaginárias e adquirir um valor autônomo. 5 O “lugar” do<br />
observador i<strong>de</strong>al voltaria, então, a ficar vazio, <strong>de</strong>ixando o sujeito-causa <strong>de</strong> sentido e or<strong>de</strong>m<br />
à imagem – em última instância, o sujeito-causa da imagem – livre para ser assumido ora<br />
por seu produtor, ora pelo espectador. Ao invés da imagem fazer sentido pelo sujeito-<br />
causa, é o sujeito-causa que passaria a fazer sentido pela imagem; por meio <strong>de</strong> um olhar<br />
4 Na verda<strong>de</strong>, tal modo <strong>de</strong> articular o código cinematográfico já foi bastante criticado, sobretudo entre os<br />
anos sessenta e setenta, quando vários teóricos franceses (<strong>de</strong>ntre eles Silvie Pierre e Jean Louis Commoli), se<br />
dissociaram da abordagem fenomenológica – , na qual se <strong>de</strong>stacava André Bazin – para <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r um cinema<br />
revolucionário que explicitasse a manipulação da matéria fílmica. Através da revista Cinéthique, eles<br />
estimularam vários cineastas a realizar filmes que rompessem a aparente continuida<strong>de</strong> da imagem através <strong>de</strong><br />
uma revalorização da montagem. Como resultado, vários filmes foram realizados em resposta a essa nova<br />
postura política diante da própria linguagem articulada pelo cinema. Na França, a Nouvelle Vague (Godard),<br />
as experiências <strong>de</strong> vanguarda americana, e mesmo no Brasil algumas obras do Cinema Novo (Glauber Rocha)<br />
e do cinema in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte (Bressane, Sganzerla) são alguns <strong>de</strong>staques <strong>de</strong>ssa época.<br />
5 Penso aqui em uma alternativa para a articulação do código, sem que seja necessário romper a unida<strong>de</strong> a<br />
imagem, sem que sejamos levados, portanto, a torná-la obscura.<br />
42
que vagueia, que se per<strong>de</strong>. O sujeito-causa <strong>de</strong>ixaria, então, <strong>de</strong> ser causa para se<br />
transformar em efeito. Um sujeito errante, manco mesmo, intermitente, mas capaz <strong>de</strong> fazer<br />
falar na imagem, significados que transcen<strong>de</strong>m o controle rígido do sistema semiótico que<br />
sustentaria a configuração formal da imagem. Uma abertura possível para essa imagem,<br />
co-existente com a estrutural textual responsável por sua tendência ao fechamento, por sua<br />
relativa estabilida<strong>de</strong> semântica, a qual seria sustentada pela presença <strong>de</strong> um ou mais<br />
personagens da ficção cujo olhar teria esse po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> subjugar e direcionar a imagem. Uma<br />
abertura, enfim, para o sujeito: para o produtor da imagem, enquanto aquele que se<br />
preten<strong>de</strong> como sujeito-autor da fala; para o espectador da imagem, enquanto aquele que se<br />
apropria <strong>de</strong>ssa fala que lhe é dada, que toma a imagem para si e a transforma em sua<br />
própria fala ao lhe oferecer o olhar, abrindo nela a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> sentidos.<br />
Para ambos, a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar a imagem falar algo novo e imprevisível sobre eles,<br />
algo que talvez nem mesmo eles sabiam saber. Uma proposta cuja práxis po<strong>de</strong> ser<br />
apreciada em diversos filmes já existentes.<br />
Esse procedimento, contudo, ten<strong>de</strong> a romper a estrutura clássica da narrativa.<br />
Dentro <strong>de</strong>sta tradição <strong>de</strong> imagens, on<strong>de</strong> o recurso à montagem se faz premente, o que nos<br />
parece interessante mesmo é a conciliação <strong>de</strong>sses momentos <strong>de</strong> contemplação e <strong>de</strong>vaneio<br />
com momentos outros, nos quais a estrutura narrativa restabelece a unida<strong>de</strong> do todo – a<br />
imagem enquanto uma unida<strong>de</strong> maior – , alternando um ritmo <strong>de</strong> imagem com outro, tal<br />
qual a música, que alterna imagens sonoras com o silêncio.<br />
Dayan (1985, p. 109) nos mostra que é o próprio Oudart (1969) quem reconhece<br />
que o “sistema <strong>de</strong> sutura” prevê uma alternância entre „imagens objetivas‟ e „imagens<br />
subjetivas‟. “Estruturalmente, este cinema passa constantemente da forma pessoal para a<br />
impessoal.” Apesar disto, ele reconhece nesse sistema que “a imagem não tarda a ser<br />
confirmada como sendo o ponto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> alguém [um personagem]. Neste cinema [<strong>de</strong><br />
estrutura narrativa clássica] a imagem só é „objetiva‟ ou „impessoal‟ durante os intervalos<br />
da ação dos olhares dos atores.” Tal fato levaria a imagem como um todo a ser<br />
compreendida, ainda assim, como uma “imagem subjetiva”. Não acreditamos, contudo,<br />
que <strong>de</strong>va ser necessariamente assim em todos os casos. Po<strong>de</strong>-se intensificar a presença<br />
<strong>de</strong>sses “intervalos” na imagem. Fornecer-lhe momentos <strong>de</strong> suspiro, <strong>de</strong> silêncio para o<br />
sujeito, esvaziando o lugar i<strong>de</strong>al preenchido constantemente pela presença imaginária <strong>de</strong><br />
um personagem. Esses intervalos nos jogos <strong>de</strong> olhares parecem remeter, enfim, a uma<br />
43
outra dimensão da imagem. Uma dimensão temporal, que passa, então, <strong>de</strong>ixar a imagem se<br />
ampliar pelos efeitos da duração. A análise <strong>de</strong> casos particulares po<strong>de</strong>ria averiguar tal<br />
hipótese, na medida em que explicitasse procedimentos <strong>de</strong> montagem que viabilizem a<br />
abertura da imagem para a manifestação do sujeito-causa, possibilitando, enfim, a<br />
emergência tanto do produtor, quanto do espectador, na imagem. 6<br />
Para o trabalho atual, contudo, o que nos interessa ressaltar é a idéia <strong>de</strong> que esses<br />
jogos <strong>de</strong> olhares ten<strong>de</strong>m a estruturar a narrativa a partir da expressão, ou visibilida<strong>de</strong>, <strong>de</strong><br />
um espaço da representação que se propõe como unificado e homogêneo. É a partir <strong>de</strong>ssa<br />
noção homogênea e unificada do espaço da representação que os sucessivos pontos <strong>de</strong><br />
vista – <strong>de</strong>finidores do enquadramento da imagem – passam a ser compreendidos como<br />
efeitos visuais <strong>de</strong> <strong>de</strong>slocamentos do (s) personagem (s). Ou seja, eles insinuam a idéia <strong>de</strong><br />
trajetórias que são promovidas pelos personagens em atuação no espaço da representação,<br />
ou mesmo pela passagem do olhar <strong>de</strong> um personagem para outro, alternando, assim, o<br />
personagem que vai assumir a função <strong>de</strong> sujeito-causa da imagem. A temporalida<strong>de</strong> da<br />
imagem, implícita em cada plano e em cada corte, nesse contexto, restringe-se a essas<br />
ações dos personagens; ou seja, a seus <strong>de</strong>slocamentos no espaço. Os planos que, por<br />
hipótese, <strong>de</strong>ixassem <strong>de</strong> se subordinar a esses jogos <strong>de</strong> olhares, aqueles que não fossem<br />
submetidos, por alguns instantes, à subjetivida<strong>de</strong> <strong>de</strong> nenhum personagem, adquiririam,<br />
então, o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> expressar uma nova temporalida<strong>de</strong>, não mais atrelada a essa noção <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>slocamento dos personagens no espaço, não mais vinculada à ação <strong>de</strong>les. Sem esse<br />
vínculo com o movimento dos personagens, a imagem po<strong>de</strong>ria, então, expressar uma outra<br />
temporalida<strong>de</strong>: permitir ao plano a expressão da duração. Entre a ação e a reação <strong>de</strong> seres<br />
móveis <strong>de</strong>slocando-se em um espaço que se amplia através da sucessão <strong>de</strong> planos, haveria,<br />
portanto, a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> expressão da própria temporalida<strong>de</strong> da imagem, enquanto algo<br />
que dura. Uma ação sem efeito espetacular. O que acontece? O que vai acontecer? Ao<br />
invés <strong>de</strong>ssas perguntas que <strong>de</strong>ixam o público apreensivo a respeito do futuro, do porvir,<br />
estabelecer-se-iam outras posturas diante da imagem: isso acontece; isso; isso acontece<br />
enquanto o tempo passa. O enquanto, neste caso, não seria mais uma noção <strong>de</strong><br />
simultaneida<strong>de</strong> <strong>de</strong> acontecimentos paralelos sugeridos, por exemplo, pela montagem<br />
alternada <strong>de</strong> duas ações, mas o enquanto <strong>de</strong> uma única ação que dura, <strong>de</strong> uma mise-en-<br />
scène que se <strong>de</strong>senvolve no tempo. Ao invés da sucessão <strong>de</strong> ações, a <strong>de</strong>scrição do gesto.<br />
6 Penso, por exemplo, nos filmes <strong>de</strong> Yasujiro Ozu e Akira Kurosawa, nos quais alguns planos vazios se<br />
intercalam à ação dos personagens.<br />
44
Na imagem, a expressão <strong>de</strong> sua temporalida<strong>de</strong>. 7 Talvez essa seja, <strong>de</strong> fato, a “objetivida<strong>de</strong><br />
essencial” da imagem cinematográfica: sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> expressar o tempo, o <strong>de</strong>vir da<br />
matéria. Um tempo que não se confundiria com a subjetivida<strong>de</strong> <strong>de</strong> personagem algum<br />
enquanto causa, mas que se apresentaria ali, na imagem, enquanto puro movimento da<br />
matéria: a mesma coisa diante do nosso olhar, transformando-se na tela pela passagem do<br />
tempo. Em última instância, o real.<br />
Não cabe aqui, contudo, aprofundarmo-nos nessa questão <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> tal perspectiva.<br />
Tal iniciativa transcen<strong>de</strong>ria em muito o objetivo do presente trabalho, na media em que<br />
abordaria a imagem cinematográfica a partir da análise <strong>de</strong> sistemas textuais específicos,<br />
estruturados sobretudo a partir do recurso à montagem. E esta evi<strong>de</strong>ntemente não é nossa<br />
proposta atual. Tal <strong>de</strong>bate fica proposto aqui, então, como um caminho possível <strong>de</strong><br />
investigação, a ser <strong>de</strong>senvolvido em uma outra oportunida<strong>de</strong>. O que nos moveu até este<br />
ponto <strong>de</strong> nossas reflexões, contudo, foi o interesse em investigar os traços fundamentais<br />
<strong>de</strong>ssa imagem. Ao chegar a este ponto, pu<strong>de</strong>mos constatar, portanto, que o código visual<br />
renascentista, encontrado em várias imagens pictóricas, perpetua-se nas imagens<br />
fotográfica e cinematográfica, por meio dos processos óticos que ocorrem no interior da<br />
câmera. E, no caso da imagem cinematográfica, o surgimento <strong>de</strong> novos procedimentos <strong>de</strong><br />
linguagem ten<strong>de</strong> a intensificar os efeitos, visuais e imaginários, que já eram obtidos com a<br />
aplicação da perspectiva – muito embora tais efeitos sugeridos pela configuração do espaço<br />
em perspectiva possam vir a ser subvertidos em sistemas textuais particulares.<br />
A noção <strong>de</strong> sujeito que sustenta toda imagem configurada em perspectiva ganha,<br />
portanto, novas dimensões na imagem cinematográfica, quando a ela são agregados novos<br />
recursos <strong>de</strong> linguagem. Nos sistemas textuais <strong>de</strong> estrutura narrativa clássica, essa noção<br />
fundamenta a elaboração <strong>de</strong> imagens que, em última instância, po<strong>de</strong>m ser consi<strong>de</strong>radas<br />
como subjetivas, na medida em que são vinculadas à subjetivida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um ou mais<br />
personagens da ficção. Po<strong>de</strong>mos inferir, então, que esse suposto olhar <strong>de</strong> um sujeito i<strong>de</strong>al,<br />
pressuposto em toda imagem configurada em perspectiva, dá origem a uma noção<br />
7 Penso aqui nas propostas estéticas <strong>de</strong> André Bazin (1991), ao atentar para o cuidado que o realizador<br />
<strong>de</strong>veria ter na aplicação <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> montagem, em vistas <strong>de</strong> se evitar intervenções na expressão própria<br />
<strong>de</strong>ssa imagem realista com recursos que lhe promoveriam um sentido artificial, construído, em <strong>de</strong>trimento <strong>de</strong><br />
outros, mais ambíguos, que po<strong>de</strong>riam emanar da própria imagem, minimizando nela a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
expressar algo que se originaria da própria realida<strong>de</strong> que ela conseguiu captar, esquivando-se, enfim, daquilo<br />
que Bazin compreen<strong>de</strong> como sendo o que há <strong>de</strong> específico <strong>de</strong>ssa imagem: seu vínculo com o real, garantido<br />
pela ontologia da fotografia.<br />
45
particular <strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong>. Ela se encontra representada no próprio código que sustenta a<br />
imagem enquanto tal.<br />
Contraditoriamente, essa subjetivida<strong>de</strong> construída, sustentada nessa noção <strong>de</strong> ponto<br />
<strong>de</strong> vista <strong>de</strong> um suposto sujeito a observar a cena, ela encontra-se voltada para a percepção e<br />
representação da realida<strong>de</strong> objetiva. Ela está voltada para algo que passa a ser<br />
compreendido como sendo exterior a ela: a realida<strong>de</strong> visível. Essa noção <strong>de</strong> realida<strong>de</strong><br />
exterior encontra-se representada na parte visível da imagem: o espaço da representação.<br />
Um espaço que se configura em perspectiva, que se hierarquiza a partir <strong>de</strong>sse ponto <strong>de</strong><br />
vista i<strong>de</strong>al, e que, no entanto, é compreendido como homogêneo e infinito. É um espaço<br />
objetivo, na medida em que nos remete a essa suposta realida<strong>de</strong> objetiva, exterior. No<br />
entanto, essa realida<strong>de</strong> visível encontra-se subordinada a um processo <strong>de</strong> codificação. Essa<br />
suposta objetivida<strong>de</strong> da representação é contrariada, portanto, pela intervenção do código.<br />
Quando se afirma, então, que o espaço encontra-se configurado em perspectiva geométrica,<br />
subenten<strong>de</strong>-se que ele é organizado a partir <strong>de</strong>sse ponto <strong>de</strong> vista i<strong>de</strong>al. A configuração<br />
espacial <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong> imagem, remete-nos, na verda<strong>de</strong>, a um modo particular <strong>de</strong> articular a<br />
subjetivida<strong>de</strong>. Em última instância, esse tipo <strong>de</strong> imagem expressa muito mais uma noção<br />
<strong>de</strong> subjetivida<strong>de</strong> do que essa suposta objetivida<strong>de</strong> da realida<strong>de</strong> visível. Uma subjetivida<strong>de</strong><br />
construída que, no entanto, está voltada para a realida<strong>de</strong> que a cerca. Uma interiorida<strong>de</strong><br />
voltada para a exteriorida<strong>de</strong>. Po<strong>de</strong>mos então concluir, por outro lado, que esse tipo <strong>de</strong><br />
configuração espacial da imagem produz essa dicotomia interiorida<strong>de</strong>/exteriorida<strong>de</strong>,<br />
negando, contudo, a percepção da primeira em prol da segunda. Um modo particular,<br />
enfim, <strong>de</strong> representar-se a si mesmo e ao universo segundo uma relação particular e<br />
exclu<strong>de</strong>nte entre sujeito e objeto.<br />
Haveria, contudo alguma objetivida<strong>de</strong> possível a essa imagem? Ou seja, algo da<br />
realida<strong>de</strong> que pu<strong>de</strong>sse se manifestar nesse tipo <strong>de</strong> imagem sem se subordinar ao processo<br />
<strong>de</strong> codificação promovido pela linguagem articulada? Algo que escapasse a essa<br />
intervenção <strong>de</strong> uma subjetivida<strong>de</strong> construída? Algo que se mantivesse, portanto, objetivo,<br />
não codificado? Parece-nos que sim. No paradigma fotográfico, o modo <strong>de</strong> inscrição da<br />
imagem parece viabilizar essa “objetivida<strong>de</strong> essencial”. Nesse caso, não haveria mais a<br />
dicotomia interiorida<strong>de</strong>/exteriorida<strong>de</strong>. A “objetivida<strong>de</strong> essencial” nos remeteria, pois, a um<br />
nível do real ainda não codificado por nenhuma subjetivida<strong>de</strong>. Nele, não haveria, portanto,<br />
diferença entre “objetivida<strong>de</strong>” e “subjetivida<strong>de</strong>”. Uma instância da realida<strong>de</strong> na qual tudo<br />
46
se confundiria <strong>de</strong> maneira indistinta. Não mais, enfim, a realida<strong>de</strong> codificada, mas o real<br />
não-codificado. Como seria possível, então, a inscrição do real na imagem? O real em sua<br />
“objetivida<strong>de</strong> essencial”?<br />
47
1. 2. No processo químico, o vínculo com o real pelo instante fotográfico<br />
Durante os séculos XVI, XVII e XVIII a câmara obscura se difundiu como um<br />
dispositivo óptico que facilitava a produção <strong>de</strong> imagens em perspectiva. No século XIX,<br />
entretanto, ela viria a adquirir um novo status, quando alguns indivíduos começam a se dar<br />
conta do quão interessante seria encontrar um modo mais prático <strong>de</strong> fixar essas imagens<br />
que se produziam no interior do aparato, um modo que dispensasse o trabalho do pintor,<br />
um modo mais automático. Para que isto se tornasse possível, eles <strong>de</strong>veriam pesquisar<br />
sobre materiais que fossem sensíveis à luz. Vários pesquisadores se embrenharam nesses<br />
estudos. E, mesmo residindo em diferentes lugares e, muitas vezes, sem se comunicarem<br />
entre si, eles encontraram soluções que culminariam no surgimento das primeiras imagens<br />
fotográficas. Na Inglaterra, havia o cientista amador Thomas Wedgwood (já em fins do<br />
século XVIII), o erudito e cientista Willian Henry Fox Talbot (<strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1833), e o cientista<br />
J.B. Rea<strong>de</strong> (<strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1837); na França, o funcionário do Estado Hippolyte Bayard (<strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
1837); na Alemanha, os cientistas Franz von Kobell, professor <strong>de</strong> mineralogia, e Carl<br />
August von Steinheil, professor <strong>de</strong> matemáticas (<strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1839); no Brasil, o pintor Hercules<br />
Florence, <strong>de</strong>ntre outros. Mas o primeiro a tornar pública a invenção da fotografia seria o<br />
francês Louis Jacques Mandé Daguerre, quando, em julho <strong>de</strong> 1839, ele ven<strong>de</strong> o seu<br />
invento, o daguerreótipo 8 , para o governo francês. Em 19 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1839, o<br />
daguerreótipo foi apresentado à Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Ciências e Belas Artes. Este passou a ser<br />
consi<strong>de</strong>rado o Dia Oficial do Nascimento da Fotografia 9 . Contudo, mesmo após tal<br />
8 No manual <strong>de</strong> Daguerre, Historique et Description <strong>de</strong>s Procédés du Daguerréotype et du Diorama,<br />
publicado imediatamente após a reunião no Instituto <strong>de</strong> Franquia, havia uma <strong>de</strong>scrição sobre o processo do<br />
daguerreótipo, cujo resumo é comentado por Helmut Gernsheim (1966, p. 16): “Uma lâmina <strong>de</strong> cobre foi<br />
sensibilizada com vapor <strong>de</strong> iodo, que formou io<strong>de</strong>to <strong>de</strong> prata sobre a lâmina. Depois <strong>de</strong> exposta <strong>de</strong>ntro da<br />
câmara, a imagem latente foi revelada com vapor <strong>de</strong> mercúrio aquecido em um fogareiro <strong>de</strong> álcool. O<br />
mercúrio se a<strong>de</strong>riu às partes <strong>de</strong> io<strong>de</strong>to <strong>de</strong> prata que haviam sido afetadas pela luz. A imagem foi fixada com<br />
hipofulfito sódico e lavanda com água <strong>de</strong>stilada. O resultado foi um positivo finamente <strong>de</strong>talhado com uma<br />
superfície <strong>de</strong>licada que tinha que ser protegida com um cristal contra a abrasão e fechada hermeticamente<br />
para prevenir que se <strong>de</strong>svanecesse com o contato com o ar.”<br />
9 Na verda<strong>de</strong>, o daguerreótipo surge como um aperfeiçoamento da Heliografia, que havia sido inventada por<br />
Nicéphore Niépce alguns anos antes. Há especulações <strong>de</strong> que já em 1793, quase meio século antes do Dia<br />
Oficial do Nascimento da Fotografia, Nicephore Niépce e seu irmão Clau<strong>de</strong> Niépce já tentavam fixar<br />
quimicamente a imagem que se projetava no interior da câmara obscura. Segundo pesquisas <strong>de</strong> Gernsheim<br />
(1966), há uma carta <strong>de</strong> Nicéphore a Clau<strong>de</strong> que faz referência a essas tentativas. Mas essas experiências só<br />
produziriam resultados favoráveis muitos anos mais tar<strong>de</strong>, quando Nicéphore Niépce, incentivado pela<br />
técnica da litografia, voltaria a pesquisar sobre os métodos possíveis <strong>de</strong> fixação da imagem. Após<br />
experimentar diferentes materiais – para o suporte da imagem, primeiro pedras litográficas, <strong>de</strong>pois papel,<br />
<strong>de</strong>pois placas <strong>de</strong> cristal, e finalmente pranchas <strong>de</strong> metal; para sensibilização <strong>de</strong>sses diferentes materiais que<br />
serviriam como suporte da imagem, nas pedras, um verniz sensível à luz não especificado, no papel, cloreto<br />
48
evento, muitos ainda viriam a continuar a se empenhar no aperfeiçoamento do processo<br />
fotográfico.<br />
Após três séculos servindo <strong>de</strong> instrumento para os pintores produzirem suas<br />
imagens, a partir da <strong>de</strong>scoberta química, a câmara obscura passa a servir também a uma<br />
nova classe <strong>de</strong> produtores <strong>de</strong> imagens: aqueles que viriam a ser conhecidos como<br />
fotógrafos. A partir do momento em que são <strong>de</strong>senvolvidas novas técnicas <strong>de</strong> fixação<br />
<strong>de</strong>ssas imagens, seu uso se modifica. Ela passa a participar também do processo <strong>de</strong><br />
produção <strong>de</strong>sse novo tipo <strong>de</strong> imagem: a imagem fotográfica.<br />
A produção <strong>de</strong>ssa nova imagem passa a necessitar, então, do processamento <strong>de</strong> pelo<br />
menos dois fenômenos distintos: o fenômeno ótico, elaborado pela câmara obscura, e o<br />
fenômeno químico, a ocorrer com a atuação da luz no material sensível a ela. No contexto<br />
atual, esse material que foi exposto à luz passará ainda por novos e diferentes tratamentos<br />
químicos, por meio dos quais a imagem latente, que foi produzida no material foto-<br />
sensível, mas ainda não se manifestou plenamente, será revelada e <strong>de</strong>pois fixada em uma<br />
imagem negativa, invertida. Esta imagem em negativo servirá como matriz para a<br />
produção <strong>de</strong> quantas imagens em positivo forem <strong>de</strong>sejadas, respeitando-se, evi<strong>de</strong>ntemente,<br />
o tempo <strong>de</strong> vida do material <strong>de</strong> base.<br />
Como a imagem continua a se configurar em perspectiva, ela mantém o efeito <strong>de</strong><br />
realismo na cena. O olhar i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> um suposto sujeito i<strong>de</strong>al continua a fundamentar a<br />
composição da imagem fotográfica. Entretanto, os processos químicos que viabilizam o<br />
surgimento <strong>de</strong>ssa nova imagem tornam-lhe possível apresentar uma nova qualida<strong>de</strong>: a<br />
<strong>de</strong> prata, no cristal e no metal, betume da judéia, <strong>de</strong>ntre outros; e para a fixação da imagem produzida, no<br />
caso do papel sensibilizado pelo cloreto <strong>de</strong> prata, a fixação parcial da imagem se fazia com ácido nítrico;<br />
neste último caso, ele obteve uma imagem em negativo – , Niépce produziria, em 1826, o que hoje a maioria<br />
dos pesquisadores consi<strong>de</strong>ra como a primeira imagem fotográfica. Nela, ficaria registrado em tons <strong>de</strong> cinza<br />
uma imagem que correspondia àquela que Niépce percebia quando fitava “o mundo lá fora” da janela <strong>de</strong> seu<br />
quarto <strong>de</strong> trabalho. Esta imagem é um positivo produzido com o uso <strong>de</strong> uma placa <strong>de</strong> metal que foi<br />
sensibilizada por betume da judéia e exposta durante cerca <strong>de</strong> oito horas, <strong>de</strong>ntro daquela que é consi<strong>de</strong>rada<br />
por muitos pesquisadores como a primeira câmara profissional. Após a exposição, a placa foi banhada com<br />
azeite <strong>de</strong> espieglo e terebentina. Nas partes do metal afetadas pela luz, o betume continuou sendo solúvel ao<br />
azeite <strong>de</strong> espieglo e terebentina, e foi eliminado, enquanto que as partes que não foram expostas à luz se<br />
endureceram quando entraram em contato com este solvente. O resultado é uma imagem em preto e branco<br />
<strong>de</strong> alto contraste. Depois do êxito <strong>de</strong>sta imagem, ele continuou suas experiências com novos materiais. Em<br />
1829, Niépce firma um convênio <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong> com Daguerre. Após sua morte, Daguerre dá prosseguimento<br />
às pesquisas iniciadas por Niépce. Ele <strong>de</strong>senvolve um novo procedimento no qual se produzia primeiro uma<br />
imagem latente e só <strong>de</strong>pois esta se revelaria em imagem, com o uso <strong>de</strong> vapor <strong>de</strong> mercúrio, procedimento tal<br />
que permitia reduzir o tempo <strong>de</strong> exposição <strong>de</strong> oito horas para vinte ou trinta minutos. Mais tar<strong>de</strong>, ele fixaria<br />
essa imagem utilizando uma solução <strong>de</strong> sal comum. Finalmente, acreditando ter criado uma técnica diferente<br />
daquela <strong>de</strong>senvolvida por Niépce, Daguerre <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> chamar esta invenção <strong>de</strong> daguerreótipo.<br />
49
qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> marca, ou vestígio, do real. E essa nova qualida<strong>de</strong> que surge na imagem<br />
fotográfica se <strong>de</strong>ve à ligação existencial que ela passa a apresentar em relação ao seu<br />
referente real. Ou seja, a imagem passa a estar existencialmente associada à realida<strong>de</strong><br />
física que lhe <strong>de</strong>u origem e que agora está representada na imagem.<br />
São, enfim, esses efeitos do processo químico sobre a constituição da imagem que<br />
levam Santaella (1998) a diferenciar o “paradigma fotográfico” do “pré-fotográfico”,<br />
qualificando-o como “diático e dominantemente indicial”.<br />
“Fundamentalmente, a morfogênese do paradigma fotográfico repousa sobre<br />
técnicas óticas <strong>de</strong> formação da imagem a partir <strong>de</strong> uma emanação luminosa,<br />
que o cinema e o ví<strong>de</strong>o não vieram modificar, mas só levar a sua máxima<br />
eficácia. Nesse paradigma, a imagem é o resultado sobre um suporte químico<br />
ou eletromagnético (cristais <strong>de</strong> prata da foto ou a modulação eletrônica do<br />
ví<strong>de</strong>o) do impacto dos raios luminosos emitidos pelo objeto ao passar pela<br />
objetiva. Enquanto o suporte no paradigma pré-fotográfico é uma matéria<br />
ainda vazia e passiva, no paradigma fotográfico, o suporte é um fenômeno<br />
químico ou eletromagnético preparado para o impacto, pronto para reagir ao<br />
menor estímulo da luz.”. (Santaella, 1998, p. 308)<br />
50
O realismo nas imagens pertencentes ao “paradigma fotográfico”<br />
Nas pinturas renascentistas, a semelhança entre o objeto e a representação era<br />
garantida pelo efeito <strong>de</strong> realismo da imagem, proporcionado sobretudo pela aplicação da<br />
perspectiva geométrica. 10 No entanto, o vínculo existencial entre o objeto e a representação<br />
não fazia parte da essência <strong>de</strong>ssa imagem. Os pintores podiam representar seres cuja<br />
existência era sugerida na imagem, mas a confirmação <strong>de</strong>ssa existência real não era<br />
garantida. E mesmo nos casos em que se sabia que, <strong>de</strong> fato, as imagens remetiam a um<br />
objeto real, seria possível ao pintor alterar suas aparências na imagem produzida. Ou seja,<br />
quem não conhecia pessoalmente o objeto representado não podia ter garantias sobre a<br />
fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa imagem em relação à realida<strong>de</strong> que ela pretendia representar (referimo-<br />
nos, evi<strong>de</strong>ntemente, aos casos em que essa é a proposta do pintor). Mesmo com todo o<br />
realismo alcançado da imagem, predominava a subjetivida<strong>de</strong> do pintor: “Por mais hábil<br />
que fosse o pintor, a sua obra era sempre hipotecada por uma inevitável subjetivida<strong>de</strong>.<br />
10 Deve-se observar, contudo, que esse efeito <strong>de</strong> realismo na imagem pictórica apoiava-se ainda em outros<br />
procedimentos técnicos. No norte da Itália, por exemplo, o inventor da pintura à óleo, Jan van Eyck, adotou<br />
uma nova postura, trazendo pacientemente às suas imagens uma riqueza <strong>de</strong> <strong>de</strong>talhes tão gran<strong>de</strong>, a ponto <strong>de</strong><br />
torná-las semelhantes a um “espelho‟ um mundo visível. O quadro intitulado O Casal Arnolfini (1434) é uma<br />
<strong>de</strong>monstração eloqüente dos efeitos alcançados com sua proeza técnica. Além disso, o tema que ele retrata<br />
não é religioso, mas remete ao cotidiano. Os personagens são reais. E Jan van Eyck participa daquela cena<br />
como uma “testemunha ocular”. Ele <strong>de</strong>ixa inscrito: “Jan van Eyck esteve aqui”. Tal qual Jan van Eyck, os<br />
pintores do século XV estavam fascinados com a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> a arte ser usada não só para representar<br />
cenas da história sagrada <strong>de</strong> um modo mais realista e comovente, mas também para po<strong>de</strong>r representar<br />
fragmentos da realida<strong>de</strong>, como “um espelho a refleti-la com fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong>”. A composição visual é um outro<br />
elemento que também recebe atenção especial. Apesar do enquadramento em perspectiva <strong>de</strong>finir o<br />
posicionamento e o tamanho das figuras, a impressão <strong>de</strong> profundida<strong>de</strong> do quadro não passava <strong>de</strong> uma ilusão<br />
visual, visto que a pintura se estabelecia em uma superfície plana. Mas se, <strong>de</strong> fato, ela era produzida para ser<br />
apreciada como uma obra <strong>de</strong> arte, não bastava que esse arranjo formal obe<strong>de</strong>cesse às regras da perspectiva; o<br />
quadro <strong>de</strong>veria ainda apresentar-se em harmonia e equilíbrio, evitando a confusão e o caos. O pintor Antônio<br />
Pollainolo, por exemplo, tentou resolver esse problema produzindo arranjos fundados em composições<br />
simétricas. Essa simetria, no entanto, tornava a composição rígida e artificial. Para quebrar a rigi<strong>de</strong>z da<br />
composição, ele utilizou um artifício: alternou um movimento como um contra-movimento. Mas foi mesmo<br />
no período conhecido como Alta Renascença que gran<strong>de</strong>s artistas, como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo,<br />
Rafael, Ticiano, Corregio, <strong>de</strong>ntre outros, levariam a nova técnica <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> imagens ao seu grau<br />
máximo <strong>de</strong> perfeição e eficiência para os objetivos a que se propunham. Esses pintores ampliariam seus<br />
i<strong>de</strong>ais para algo além da busca pela fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> visual às imagens da natureza. Em suas pinturas, a harmonia<br />
da composição era conseguida com maestria, o uso da luz intensificava a atmosfera simbolizada na imagem,<br />
a cor se diluía entre uma e outra. Leonardo da Vinci introduziu a técnica do sfumato, por meio da qual as<br />
formas se fundiam umas nas outras, <strong>de</strong>ixando algo in<strong>de</strong>finido, como que <strong>de</strong>saparecendo nas sombras; algo <strong>de</strong><br />
sugestivo <strong>de</strong>ixado livre para nossa imaginação atuar. Miguel Ângelo pintou corpos humanos tão realistas e<br />
belos quanto imagináveis. Os corpos se colocavam em posições incríveis, sem que o mestre <strong>de</strong>ixasse <strong>de</strong> ter<br />
completo controle sobre a representação fi<strong>de</strong>digna <strong>de</strong> seus músculos e feições; sem que o conjunto per<strong>de</strong>sse<br />
qualquer harmonia. A Capela Sistina é um gran<strong>de</strong> exemplo da gran<strong>de</strong>za <strong>de</strong> sua obra. Rafael ficou conhecido<br />
por suas Belas Madonas. Enfim, no apogeu do Renascimento das artes visuais, a busca pela reprodução fiel<br />
da realida<strong>de</strong> havia sido superada pela “beleza i<strong>de</strong>al”, sem que, com isto, se per<strong>de</strong>sse a vitalida<strong>de</strong> e o realismo<br />
das formas.<br />
51
Diante da imagem, uma dúvida persistia, por causa da presença do homem.” (Bazin, 1983,<br />
p. 124)<br />
A substituição das regras matemáticas que fundamentam a perspectiva artificialis<br />
pelo uso da câmara obscura passa a pressupor esse vínculo entre o objeto e a<br />
representação como condição básica para a produção da imagem: é necessário que o objeto<br />
a ser representado esteja ali, diante da câmara obscura, para que a imagem luminosa se<br />
projete <strong>de</strong>ntro do dispositivo. Mas, ainda assim, o pintor <strong>de</strong>termina a materialização <strong>de</strong>ssa<br />
imagem, pintando-a por inteiro com suas próprias mãos. O pintor continua a <strong>de</strong>ixar<br />
impresso, na materialida<strong>de</strong> da imagem, a marca da sua subjetivida<strong>de</strong>. (Dubois, 1999) Ele<br />
continua a interferir livremente no vínculo inicial que há entre ela e o objeto representado,<br />
po<strong>de</strong>ndo mesmo apagar nela os indícios <strong>de</strong>sse vínculo.<br />
Com o surgimento da técnica <strong>de</strong> fixação química da imagem que se projeta no<br />
interior da câmara obscura, essa situação se modifica. A existência real do objeto que se<br />
encontra representado na imagem torna-se inquestionável. “Na fotografia, jamais posso<br />
negar que a coisa esteve lá.” (Barthes, 1984, p. 114) Ela ganha “credibilida<strong>de</strong>”. (Bazin,<br />
1983, p. 125) 11 E mesmo a fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> da representação à aparência do objeto passa a ser<br />
uma conseqüência natural do modo como a imagem se produz; <strong>de</strong> sua gênese, portanto.<br />
Uma credibilida<strong>de</strong> que se sustenta, por um lado, no processo ótico, no qual a luz que inci<strong>de</strong><br />
sobre o objeto irá penetrar na câmara obscura e configurar-se em imagem, e por outro, no<br />
processo químico, no qual o material sensível à luz vai reagir automaticamente, produzindo<br />
a imagem latente que será posteriormente revelada em laboratório. Durante todo esse<br />
processo <strong>de</strong> produção da imagem, não há mais a intervenção da mão humana. Na<br />
fotografia, tanto os processos óticos, quanto os químicos são operados pelo dispositivo<br />
técnico <strong>de</strong> maneira quase automática. Mas é o processo químico, pressuposto no modo <strong>de</strong><br />
produção da imagem fotográfica, que garante a ligação existencial entre a representação e<br />
o objeto. Essa ligação já se sugeria no processo ótico que se operava através da câmara<br />
obscura, mas ela só se confirma com o processo químico <strong>de</strong> inscrição da imagem. “Em<br />
última instância, o ganho <strong>de</strong> analogia trazido pela fotografia não é somente <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m ótica,<br />
é mais essencialmente <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m ontológica.” (Dubois, 1999, p.74)<br />
11 “A objetivida<strong>de</strong> da fotografia confere-lhe um po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> credibilida<strong>de</strong> ausente <strong>de</strong> qualquer obra pictórica.<br />
Sejam quais forem as objeções <strong>de</strong> nosso espírito crítico, somos obrigados a crer na existência do objeto<br />
representado, literalmente re-presentado, quer dizer, tornado presente no tempo e no espaço.” (Bazin, 1983,<br />
p. 125)<br />
52
Po<strong>de</strong>-se observar, portanto, que ocorre uma mudança no modo <strong>de</strong> produção da<br />
imagem – que possibilita a passagem da pintura para a fotografia – ; mas, como indica<br />
Bazin (1983, p. 124), essa mudança não se limita à técnica utilizada na produção da<br />
imagem; ela se amplia na solução que consegue oferecer em resposta ao <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> se<br />
produzir uma imagem mais realista que as anteriores; mais neutra, mais fiel à realida<strong>de</strong>,<br />
mais objetiva. 12 É essa busca pelo realismo que, segundo o autor, leva-nos ainda ao<br />
engendramento da imagem cinematográfica, quando a duração seria trazida para o universo<br />
da representação e libertaria, então, a imagem fotográfica <strong>de</strong> sua imobilida<strong>de</strong>. 13<br />
Essa busca por imagens que sejam capazes <strong>de</strong> representar o mundo <strong>de</strong> maneira mais<br />
realista, na verda<strong>de</strong>, é compreendida por Bazin (1983, p. 123 et seq.) como a expressão <strong>de</strong><br />
um “<strong>de</strong>sejo puramente psicológico <strong>de</strong> substituir o mundo exterior pelo seu duplo”. Um<br />
<strong>de</strong>sejo que começa a se distinguir da aspiração estética <strong>de</strong> “expressar realida<strong>de</strong>s espirituais<br />
em que o mo<strong>de</strong>lo se acha transcendido pelo simbolismo das formas”. Esse <strong>de</strong>sejo, <strong>de</strong> que<br />
fala Bazin, conduz a noção <strong>de</strong> realismo para algo muito além <strong>de</strong> uma simples “ilusão das<br />
formas”, <strong>de</strong>ferindo, na verda<strong>de</strong>, à imagem a função <strong>de</strong> “exprimir a significação, a um só<br />
tempo, concreta e essencial do mundo”. De fato, esse <strong>de</strong>sejo po<strong>de</strong> ser observado já nos<br />
pintores renascentistas, quando eles optavam por configurar suas imagens em perspectiva.<br />
Não obstante a atuação <strong>de</strong> pintores <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque que conseguiam conciliar propostas<br />
aparentemente tão distintas, superando a tensão dialética entre i<strong>de</strong>alismo e realismo, o que<br />
se observa, <strong>de</strong> fato, é uma tendência nas artes visuais <strong>de</strong> se tentar respon<strong>de</strong>r mesmo a esse<br />
anseio primordial por realismo. Nesse sentido, com o surgimento da imagem fotográfica,<br />
ela rouba para si essa função, levando o século XIX a vivenciar aquilo que Bazin acredita<br />
tratar-se <strong>de</strong> uma verda<strong>de</strong>ira crise nas artes, na qual essa busca por realismo passa a ser<br />
questionada. Alguns pintores se sentem imbuídos do <strong>de</strong>safio <strong>de</strong> forjar uma nova direção<br />
para suas imagens.<br />
“A fotografia vem a ser o acontecimento mais importante da história das<br />
artes plásticas. Ao mesmo tempo sua libertação e manifestação plena, a<br />
12 “(...) o fenômeno essencial da passagem da pintura barroca à fotografia não resi<strong>de</strong> no mero<br />
aperfeiçoamento material (a fotografia ainda continuaria por muito tempo inferior „a pintura na imitação das<br />
cores), mas num fato psicológico: a satisfação completa do nosso afã <strong>de</strong> ilusão por uma reprodução mecânica<br />
da qual o homem se achava excluído. A solução não estava no resultado, mas na gênese.” (Bazin, 1983, p.<br />
124)<br />
13 “(...) o cinema vem a ser a consecução no tempo da objetivida<strong>de</strong> fotográfica. O filme não se contenta mais<br />
em conservar para nós o objeto lacrado no instante, como no âmbar do corpo intacto dos insetos <strong>de</strong> uma era<br />
extinta, ele livra a arte barroca <strong>de</strong> sua catalepsia convulsiva. Pela primeira vez, a imagem das coisas é<br />
também a duração <strong>de</strong>las, como que uma múmia da mutação.” (Bazin, 1983, p. 126)<br />
53
fotografia permitiu à pintura oci<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong>sembaraçar-se <strong>de</strong>finitivamente da<br />
obsessão realista <strong>de</strong> reencontrar a sua autonomia estética.” (Bazin, op. cit., p.<br />
127)<br />
Passa a caber, enfim, à imagem fotográfica (bem como às outras imagens<br />
pertencentes ao “paradigma fotográfico”, o cinema, o ví<strong>de</strong>o) satisfazer aos anseios <strong>de</strong><br />
nossa época por produzir imagens realistas o suficiente para exercer a função <strong>de</strong> “duplo”<br />
do real. A objetivida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa (s) imagem (s) lhe (s) garantiria a credibilida<strong>de</strong> necessária<br />
para respon<strong>de</strong>r bem a essa necessida<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rna, pois ela se fundamentaria no próprio<br />
modo <strong>de</strong> constituição da imagem, em sua gênese automática.<br />
54
O real na imagem para além da realida<strong>de</strong> visível<br />
As reflexões que Bazin (1983) <strong>de</strong>senvolve sobre a imagem fotográfica – bem como<br />
a cinematográfica – mantêm-se ainda extremamente atuais e influentes no contexto<br />
contemporâneo das teorias das imagens. Contudo, no nosso entendimento, há um outro<br />
teórico mais recente que também se <strong>de</strong>staca na singularida<strong>de</strong> <strong>de</strong> suas idéias: Roland<br />
Barthes. Em seu último trabalho, La chambre claire ele elabora um movimento muito<br />
pessoal nas reflexões que vai tecendo sobre a fotografia. 14 Inicialmente, ele dá<br />
prosseguimento à ênfase bazaniana no processo químico que viabiliza a inscrição da<br />
imagem, também reconhecendo nela o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> se apresentar como “uma emanação do<br />
referente”: “Não é essa senão a única prova <strong>de</strong> sua arte? Anular-se como médium, não ser<br />
mais um signo, mas a própria coisa mesma?” (ibi<strong>de</strong>m, p. 121, 73). Mas Barthes aponta<br />
para algo mais. Para ele, a noção <strong>de</strong> real transcen<strong>de</strong> a realida<strong>de</strong> visível. Nesse sentido, a<br />
função <strong>de</strong> “duplo” do real (Bazin, 1983, passim) não é satisfeita apenas pelo realismo<br />
alcançado na imagem, mas é ampliada pela sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> remeter a algo mais sobre<br />
ele, o real; algo que, em última instância, é “indizível”, e que só se apresenta na imagem<br />
como uma “ferida” (Barthes, 1984, passim). A realida<strong>de</strong> visível representada na imagem<br />
correspon<strong>de</strong>ria, assim, ao que Barthes chama <strong>de</strong> studium, remeteria a um Saber sobre ela<br />
que já se encontra disponibilizado pela cultura; proporia, portanto, um reconhecimento da<br />
realida<strong>de</strong> na imagem, uma “leitura da imagem pela cultura”. O “indizível”, por outro lado,<br />
é um algo a mais sobre o real que a imagem fotográfica tem a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> expressar,<br />
algo além daquilo que os olhos vêem, aquilo que abre a imagem, que rompe sua aparente<br />
unida<strong>de</strong>, que perturba, que “fere”, que “quebra o studium da imagem”. Uma “ferida” que<br />
ele nomeia como punctum. “O punctum tem, mais ou menos virtualmente, uma força <strong>de</strong><br />
expansão.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 73) Quando o punctum está ausente na imagem, a fotografia<br />
restabelece sua unida<strong>de</strong>, garante a tranqüilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> leitura, em um “prazer mediano”. Ela se<br />
torna aquilo que Barthes chama <strong>de</strong> “fotografia unária”: “a fotografia é unária quando<br />
transforma enfaticamente a realida<strong>de</strong>, sem duplicá-la, sem fazê-la vacilar (a ênfase é uma<br />
força <strong>de</strong> coesão), nenhum duelo, nenhum indireto, nenhum distúrbio.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 66) Não<br />
é, contudo, a “fotografia unária” que lhe interessa. Interessa-lhe a imagem que “punge”,<br />
que “fere”.<br />
14 “(...) transformar em razão minha <strong>de</strong>claração <strong>de</strong> singularida<strong>de</strong> e tentar fazer da „antiga soberania do eu‟<br />
(Nietzsche) um princípio heurístico.” (Barthes, 1984, p. 19)<br />
55
“(...) algumas [fotografias] provocavam em mim pequenos júbilos, como se<br />
estas remetessem a um centro silenciado, um bem erótico ou dilacerante,<br />
enterrado em mim mesmo (por mais bem comportado que aparentemente<br />
fosse o tema); e outras, ao contrário, me eram <strong>de</strong> tal modo indiferentes, que à<br />
força <strong>de</strong> vê-las se multiplicarem, como erva daninha, eu sentia em relação a<br />
elas uma espécie <strong>de</strong> aversão, <strong>de</strong> irritação mesmo (...).” (Barthes, op. cit., p.<br />
32 et seq.)<br />
Mas o que é afinal o punctum? Se ele não se confun<strong>de</strong> com a realida<strong>de</strong> visível<br />
representada na imagem, se não correspon<strong>de</strong> àquilo que po<strong>de</strong>mos reconhecer nela, o que é<br />
então essa “ferida”? Barthes nos diz que “não é possível estabelecer uma regra <strong>de</strong> ligação<br />
entre o studium e o punctum (quando ele está presente); trata-se <strong>de</strong> uma co-presença.”<br />
(ibi<strong>de</strong>m, p. 68), que “o punctum conforma-se com uma certa latência, mas jamais com<br />
qualquer exame”. (ibi<strong>de</strong>m, p. 84) Em vários trechos <strong>de</strong> sua obra, ele se refere ao punctum<br />
como um “<strong>de</strong>talhe” na imagem “que parte da cena, como uma flecha, e vem me traspassar<br />
[a ele, Barthes].” (ibi<strong>de</strong>m, p. 49) E, “ao mesmo tempo em que permanece um „<strong>de</strong>talhe‟,<br />
preenche toda a fotografia.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 73)<br />
“(...) o <strong>de</strong>talhe que me interessa não é, ou pelo menos não é rigorosamente,<br />
intencional, e provavelmente não é preciso que o seja; ele se encontra no<br />
campo da coisa fotografada como um suplemento ao mesmo tempo<br />
inevitável e gracioso; ele não atesta obrigatoriamente a arte do fotógrafo; ele<br />
diz apenas ou que o fotógrafo se encontrava lá, ou, <strong>de</strong> maneira mais simplista<br />
ainda, que ele não podia fotografar o objeto parcial ao mesmo tempo que o<br />
objeto total‟. (ibi<strong>de</strong>m, p. 76)<br />
Esse „<strong>de</strong>talhe‟ diz respeito ao referente da imagem. É um traço do real que ficou<br />
inscrito na imagem pelos processos químicos que lhes <strong>de</strong>ram origem. Mas um traço que<br />
não se confun<strong>de</strong> com a aparência visível do real. Pois, segundo Barthes, ele é “indizível”.<br />
Não se submete a nenhum processo <strong>de</strong> codificação. Não se transforma em signo.<br />
Permanece como real, apesar <strong>de</strong> estar ali presente na imagem. “Na foto, a presença da<br />
coisa jamais é metafórica.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 118) Por isso mesmo, incomoda; “intensifica” a<br />
imagem, “fere” seu apreciador. Pois, como afirma o autor, “o que posso nomear não po<strong>de</strong>,<br />
na realida<strong>de</strong>, me ferir. A impotência para nomear é um bom sintoma <strong>de</strong> distúrbio”.<br />
(ibi<strong>de</strong>m, p. 80)<br />
Já ao final <strong>de</strong> sua obra, ele dá um passo adiante, fundamental em suas reflexões, e<br />
que ten<strong>de</strong> a ser negligenciado, ou mal compreendido, por seus interlocutores: “existe um<br />
outro punctum, que não é mais <strong>de</strong> forma, mas <strong>de</strong> intensida<strong>de</strong>, é o tempo, é a ênfase<br />
dilaceradora do noema „isso foi‟, sua representação pura.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 141)<br />
56
Barthes alcança aquilo que tanto procurava, a essência da imagem fotográfica, o<br />
que a singulariza <strong>de</strong>ntre tantas outras: a inscrição do tempo, a marca <strong>de</strong>ixada por ele em<br />
imagem. A imagem fotográfica necessita do tempo para inscrever-se. E surge como uma<br />
espécie <strong>de</strong> vestígio <strong>de</strong> sua passagem. Um traço <strong>de</strong> seu eterno movimento <strong>de</strong>ixado na<br />
impressão química do instante fotográfico. “O que vejo não é uma lembrança, uma<br />
imaginação, uma reconstituição, um pedaço da Maia, como a arte prodigaliza, mas o real<br />
no estado passado: a um só tempo o passado e o real.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 124) Em última<br />
instância, o punctum é essa tensão <strong>de</strong> um instante do passado eternamente presente na<br />
imagem: um instante congelado do tempo. A repetição constante <strong>de</strong>sse instante passado na<br />
imagem que insiste em se fazer presente diante do spectator, sem qualquer possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
mutação. Uma presença que não se transforma, que não se altera mais. Um instante do<br />
tempo fora do tempo.<br />
“A fotografia é violenta: não porque mostra violências, mas porque a cada<br />
vez enche <strong>de</strong> força a vista e porque nela nada po<strong>de</strong> se recusar, nem se<br />
transformar (que às vezes se possa dizer que é doce não contradiz sua<br />
violência; muitos dizem que o açúcar é doce; mas eu o acho, o açúcar,<br />
violento).” (Barthes, op. cit, p. 136 et seq.)<br />
Bazin (1983) já havia comentado sobre esse mal-estar da fotografia ao citar o<br />
“embalsamamento como um fato fundamental <strong>de</strong> sua gênese”, em resposta ao <strong>de</strong>sejo<br />
humano <strong>de</strong> orientar-se “contra a morte”, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>ndo-se do tempo. Na origem das imagens<br />
realistas (não só as fotografias, como também as pinturas configuradas em perspectiva), ele<br />
já <strong>de</strong>tectava o “complexo da múmia”, na tentativa <strong>de</strong> “salvar o ser pela aparência”. Mas<br />
Barthes vai além. Ao colocar-se diante da fotografia <strong>de</strong> sua mãe, que acabara <strong>de</strong> morrer,<br />
ele constata que, ao invés <strong>de</strong> vencer o tempo, o que a fotografia consegue mesmo é afirmar<br />
sua soberania: “A fotografia não fala daquilo que não é mais, mas apenas e com certeza<br />
daquilo que foi [grifo do autor]” (ibi<strong>de</strong>m, p. 127), “um real que não se po<strong>de</strong> mais tocar”<br />
(ibi<strong>de</strong>m, p. 130) “A fotografia não rememora o passado. O efeito que ela produz em mim<br />
não é o <strong>de</strong> restituir o que é abolido (pelo tempo, pela distância), mas o <strong>de</strong> atestar que o que<br />
vejo <strong>de</strong> fato existiu. (ibi<strong>de</strong>m, p. 123) “A foto do ser <strong>de</strong>saparecido vem me tocar como os<br />
raios retardatários <strong>de</strong> uma estrela.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 121) Ele constata, na imagem, o<br />
“esmagamento do Tempo: isso está morto, isso vai morrer” (ibi<strong>de</strong>m, p. 142). A tensão<br />
absoluta do punctum na fotografia refere-se ao tempo extraído do tempo; presente na<br />
imagem. A dor <strong>de</strong> Roland Barthes é constatar que sua mãe está ali, diante <strong>de</strong>le, pela<br />
imagem, e, ao mesmo tempo, não está mais; não po<strong>de</strong>rá estar mais ali diante <strong>de</strong>le, pois ela<br />
57
está morta. A fotografia afirma, a um só golpe, a proximida<strong>de</strong> e a distância entre o<br />
spectator e o referente da imagem. O “complexo da múmia” (Bazin, 1983) não conseguiu,<br />
por fim, vencer a morte, sobreviver à ação avassaladora e indiferente do tempo. Eis a<br />
gran<strong>de</strong> “ferida” que a imagem fotográfica lança a Roland Barthes, “como uma flecha”.<br />
“Dizem que o luto, por seu trabalho progressivo, apaga lentamente a dor; eu<br />
não podia acreditar nisso; pois, para mim, o Tempo elimina a emoção da<br />
perda (não choro), isso é tudo. Quanto ao resto, tudo permaneceu imóvel.<br />
Pois o que perdi não é uma Figura (a mãe), mas um ser ; e não um ser, mas<br />
uma qualida<strong>de</strong> (uma alma): Não a indispensável, mas a insubstituível. Eu<br />
podia viver sem a Mãe (todos vivemos, mais cedo ou mais tar<strong>de</strong>); mas a vida<br />
que me restava seria infalivelmente e até o fim inqualificável (sem<br />
qualida<strong>de</strong>).” (Barthes, op. cit., p.113)<br />
Pouco tempo <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> ter escrito seu último trabalho, Roland Barthes morreria,<br />
vítima <strong>de</strong> um atropelamento. Antes porém, o afeto o levaria a investigar sobre esse “traço<br />
fundamental” da fotografia. O punctum da imagem. O real que transcen<strong>de</strong> a realida<strong>de</strong><br />
visível. O indizível. O <strong>de</strong>talhe <strong>de</strong> uma “ferida” que se espalha por toda a imagem,<br />
rompendo sua unida<strong>de</strong>. Esse real ao qual o punctum <strong>de</strong>finido por Barthes remete aproxima-<br />
se, na verda<strong>de</strong>, do conceito <strong>de</strong> “duração” em Bergson (1990), ou seja, aquilo que não po<strong>de</strong><br />
ser apreendido pela inteligência, mas apenas intuído: a intuição do tempo. Um modo muito<br />
peculiar <strong>de</strong> perceber o tempo real que gera afetos no ser humano: “estados afetivos” que<br />
po<strong>de</strong>m mesmo nunca vir a ser conhecidos pela consciência, produzindo o que ele <strong>de</strong>fine<br />
como “memória”. Percebemos em Barthes a compreensão <strong>de</strong> que esse real, ao qual o<br />
punctum remete, correspon<strong>de</strong> tanto ao real que ficou inscrito na imagem – o real que está<br />
fora do spectator – , quanto ao próprio real que o spectator traz consigo – que está <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong>le; ou seja, a memória que se atualiza perante a imagem que o punge. Na verda<strong>de</strong>, esse<br />
real que diz respeito ao punctum não po<strong>de</strong> mais ser compreendido em termos espaciais. Ele<br />
não está nem <strong>de</strong>ntro nem fora <strong>de</strong> nada. Não há mais a dicotomia<br />
exteriorida<strong>de</strong>/interiorida<strong>de</strong>. Ele pertence a uma outra dimensão do real na qual não se<br />
distingue mais sujeito e objeto: a dimensão temporal. “A própria foto não é nada animada<br />
(não acredito nas fotos vivas) mas ela me anima: é o que toda aventura produz.” (ibi<strong>de</strong>m,<br />
p. 36) Aquilo que Barthes chama <strong>de</strong> real remete, enfim, tanto ao real, quanto à memória,<br />
virtual, <strong>de</strong>finidos por Bergson.<br />
Voltaremos a tratar <strong>de</strong>ssa questão, quando nos <strong>de</strong>teremos com mais acuida<strong>de</strong> nos<br />
conceitos <strong>de</strong>finidos por Bergson. No momento, cabe-nos concluir que os processos<br />
químicos conferem à imagem fotográfica o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> “revelar” um traço do real: “Diz-se<br />
58
„revelar uma foto‟, mas o que a ação química revela é o irrevelável, uma essência (<strong>de</strong><br />
ferida)”.( ibi<strong>de</strong>m, p. 78) Um traço <strong>de</strong> real que o processo químico permite que se inscreva<br />
em imagem. Um real, contudo, que, em imagem, não po<strong>de</strong> mais “transformar-se, mas<br />
apenas repetir-se sob as espécies da insistência (o olhar insistente)” (ibi<strong>de</strong>m, p. 78)<br />
E por que razão Barthes se esforçaria tão arduamente por investigar sobre o<br />
punctum na imagem? On<strong>de</strong> (nos) levaria a busca por esse traço <strong>de</strong> real, por essa “ferida” ?<br />
É ele mesmo quem parece nos dar a resposta: “O que preciso <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r é meu direito<br />
político <strong>de</strong> ser um sujeito” (ibi<strong>de</strong>m, p. 29) Talvez seja esse motivo que transcenda sua<br />
questão pessoal e nos envolva a todos. Nesse traço <strong>de</strong> real que transcen<strong>de</strong> a realida<strong>de</strong><br />
visível, nesse indizível, talvez encontremos a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ser sujeito. 15<br />
Diante da “contra-lembrança” 16 da fotografia, não há “nada a dizer, [senão] fechar<br />
os olhos, <strong>de</strong>ixar o „<strong>de</strong>talhe‟ remontar sozinho à consciência afetiva” (Barthes, op.cit., p.<br />
84), pois, como ele mesmo nos diz, “a insignificância ligeira da linguagem, a suspensão<br />
das imagens, <strong>de</strong>via ser o espaço mesmo do amor, sua música”. (ibi<strong>de</strong>m, p. 108) “O que a<br />
ação química <strong>de</strong>senvolve é o in<strong>de</strong>senvolvível, uma essência (<strong>de</strong> ferida), o que não po<strong>de</strong><br />
transformar-se, mas apenas repetir-se sob as espécies da insistência (do olhar insistente)”<br />
(ibi<strong>de</strong>m, p. 78).<br />
Philippe Dubois, contudo, questiona essa ênfase dada à “objetivida<strong>de</strong> essencial” da<br />
imagem fotográfica”, tanto em Bazin (1983), quanto em Barthes (1984):<br />
“o <strong>de</strong>slocamento que assim se opera leva à conclusão <strong>de</strong> que, na postura<br />
ontofenomenológica, a semelhança <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ser um critério pertinente: a<br />
imagem fotográfica vale aí antes <strong>de</strong> tudo como um vestígio <strong>de</strong> um „isso foi‟<br />
(Barthes), como um tipo <strong>de</strong> moldagem do mundo visível (Bazin), antes <strong>de</strong> ser<br />
reprodução fiel das aparências.” (Dubois, 1999, p. 75)<br />
Mesmo no caso do cinema, essa suposta “objetivida<strong>de</strong>” da imagem, seja ela<br />
sugerida pela configuração da imagem em perspectiva, seja ela enfatizada pela utilização<br />
da câmera como “máquina <strong>de</strong> registro”, ela é, contudo, questionada por vários autores que<br />
15 Compreen<strong>de</strong>mos aqui não mais o sujeito da consciência, aquele que percebe a realida<strong>de</strong> visível, que tece<br />
juízos, mas aquilo que Lacan (1988) <strong>de</strong>fine como “sujeito do inconsciente”; um sujeito errante, intersticial.<br />
Talvez só através <strong>de</strong>le possamos ser afetados por essa “ferida”. Daí a importância <strong>de</strong> sua inscrição na<br />
imagem.<br />
16 “Não somente a foto jamais é, em essência, uma lembrança (cuja expressão gramatical seria o perfeito, ao<br />
passo que o tempo da foto é antes o aoristo), mas também ela a bloqueia, torna-se rapidamente uma contralembrança.”<br />
(Barthes, 1984, p. 136)<br />
59
se esforçaram por <strong>de</strong>nunciar a artificialida<strong>de</strong> dos meios envolvidos no modo <strong>de</strong> produção<br />
da imagem 17 . A esse respeito, Ismail Xavier (1984) nos oferece alguns comentários:<br />
“Um sistema <strong>de</strong> representação instaurado num <strong>de</strong>terminado momento<br />
histórico (a Renascença) não constitui a visão objetiva do mundo, mas a<br />
representação que <strong>de</strong>le elaborou um <strong>de</strong>terminado grupo social, do tado <strong>de</strong><br />
certas „estruturas mentais‟. (...) Portanto, se diante da imagem<br />
cinematográfica, ocorre a famosa „impressão <strong>de</strong> realida<strong>de</strong>‟, isto se <strong>de</strong>ve a que<br />
ela reproduz os códigos que <strong>de</strong>finem a „objetivida<strong>de</strong> visual‟ segundo a<br />
cultura dominante em nossa socieda<strong>de</strong>; o que implica em dizer que a<br />
reprodução fotográfica é „objetiva‟ justamente porque ela é resultado <strong>de</strong> um<br />
aparelho construído para confirmar a nossa noção i<strong>de</strong>ológica <strong>de</strong> objetivida<strong>de</strong><br />
visual. (...) a „ impressão <strong>de</strong> realida<strong>de</strong>‟ no cinema, no fundo, nada mais é do<br />
que a celebração <strong>de</strong> uma forma i<strong>de</strong>ológica <strong>de</strong> representação do espaço-tempo<br />
elaborada historicamente (...) a dissolução do discurso na natureza e a<br />
imposição da „representação‟ como „realida<strong>de</strong>‟ – o mundo dado sem<br />
mediações através <strong>de</strong> uma linguagem transparente (...) A „impressão <strong>de</strong><br />
realida<strong>de</strong>‟ cumpriria basicamente o papel <strong>de</strong> legitimação ou naturalização do<br />
discurso da burguesia, carregando consigo uma i<strong>de</strong>ologia específica: aquela<br />
que nega a representação enquanto representação e procura dar a imagem<br />
como se ela fosse o próprio mundo concreto.” (Xavier, 1984, p. 128)<br />
De fato, não se po<strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> reconhecer a importância <strong>de</strong> tal <strong>de</strong>núncia sobre a<br />
i<strong>de</strong>ologia que cada uma <strong>de</strong>ssas imagens traz consigo, quando se sugere que ela possui esse<br />
po<strong>de</strong>r ser “objetiva” perante a realida<strong>de</strong> visível que ela preten<strong>de</strong> representar. Já tivemos a<br />
oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> comentar sobre a arbitrarieda<strong>de</strong> do código visual que sustenta essa<br />
imagem, quando tratamos da perspectiva artificialis e <strong>de</strong> sua aplicação automática na<br />
configuração da imagem com o uso da câmara obscura. Contudo, parece-nos que quando<br />
Barthes e Bazin comentam sobre uma suposta “objetivida<strong>de</strong> essencial” da imagem<br />
pertencente ao “paradigma fotográfico” (Santaella), eles estão se referindo a uma outra<br />
dimensão tanto da imagem, quanto do real. Na verda<strong>de</strong>, nem um, nem outro, ignoram a<br />
arbitrarieda<strong>de</strong> da semelhança entre a imagem e as aparências do real ao qual remete – seu<br />
grau <strong>de</strong> analogia –, garantida sobretudo pelo modo como o processo ótico que dá origem à<br />
imagem latente é manipulado pelo dispositivo técnico. Segundo nosso enten<strong>de</strong>r, o que eles<br />
parecem, na verda<strong>de</strong>, querer acentuar na imagem pertencente ao paradigma fotográfico é<br />
seu po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> dizer algo mais sobre o real que transcen<strong>de</strong> as aparências, algo que se registra<br />
na imagem pelo processo químico que lhe dá origem, e que não se subordina ao processo<br />
<strong>de</strong> codificação. E Barthes parece ir mais fundo ao observar que esse algo mais sobre o real<br />
remete, na verda<strong>de</strong>, à dimensão temporal. Pois o tempo atravessa a realida<strong>de</strong> visível,<br />
transforma todas as formas, mas não po<strong>de</strong> ser apreendido em uma forma visível (a qual se<br />
17 Dentre eles, <strong>de</strong>stacamos Pierre Francastel (1993) e Erwin Panofsky (1975).<br />
60
traduziria, então, em uma representação espacial). A fotografia parece ter o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
revelar algo do tempo que escapa a esse processo <strong>de</strong> codificação do mundo visível. Ela<br />
surge como uma espécie <strong>de</strong> marca <strong>de</strong>ixada pela sua passagem. Um efeito <strong>de</strong> sua ação sobre<br />
o processo <strong>de</strong> materialização da imagem. Uma prova <strong>de</strong> sua existência. Ela tem esse po<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong> apontar um momento do tempo real. Esta parece ser, na verda<strong>de</strong>, a dimensão do real ao<br />
qual Barthes se refere quando trata do punctum na imagem.<br />
Nesse sentido, se o processo ótico viabiliza uma representação visual fiel às<br />
aparências do real – sobretudo pelo modo como o espaço se configura – e cuja fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong>,<br />
na verda<strong>de</strong>, encontra-se encoberta a articulação <strong>de</strong> um código visual que <strong>de</strong> modo algum é<br />
neutro, mas enraizado na mentalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma época, o processo químico, por outro lado,<br />
parece remeter a um outro tipo <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> – ao menos a um outro tipo <strong>de</strong> vínculo – com<br />
o real. Um vínculo com o tempo. E esta outra fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> da imagem, não mais às<br />
aparências, mas ao tempo (que foi) real, para o qual ela aponta invariavelmente, leva-nos a<br />
reconhecer nela a existência <strong>de</strong> um outro tipo <strong>de</strong> objetivida<strong>de</strong>: uma objetivida<strong>de</strong> que<br />
remete, na verda<strong>de</strong>, a uma dimensão invisível do real. Pois a imagem fotográfica reflete<br />
um instante da matéria em <strong>de</strong>vir. Mais do que a realida<strong>de</strong> visível, ela expressa um instante<br />
do real em plena mutação.<br />
“Nada po<strong>de</strong> impedir que a fotografia seja analógica; mas ao mesmo tempo o<br />
noema da fotografia não está <strong>de</strong> modo algum na analogia (traço que ela<br />
partilha com todos os tipos <strong>de</strong> representações).” (Barthes, op. cit., p. 132)<br />
A imagem fotográfica surge, enfim, como uma representação visual capaz <strong>de</strong><br />
apresentar-se como uma espécie <strong>de</strong> corte do real espaço-temporal: uma imagem congelada<br />
da matéria em movimento. Ela tem esse po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> remeter a um movimento que não é mais<br />
i<strong>de</strong>alizado por seu produtor, como nas pinturas barrocas, mas que foi extraído do próprio<br />
real. Essa parece ser a “objetivida<strong>de</strong> essencial” a qual tanto Bazin (1983) quanto Barthes<br />
(1984, passim) reconheceram na ontologia da imagem fotográfica. A dificulda<strong>de</strong> em se<br />
distinguir a dimensão temporal da dimensão espacial, representada nessa imagem por<br />
aquilo que ela disponibiliza para a visão, parece fazer com que a questão da sua<br />
“objetivida<strong>de</strong> essencial” seja mal compreendida. Quando se trata aqui da inscrição do<br />
tempo na imagem, o que está sendo levado em conta é uma dimensão da realida<strong>de</strong> que,<br />
segundo nos parece, transcen<strong>de</strong> qualquer tentativa <strong>de</strong> apreensão pela inteligência humana,<br />
um real não codificado, ao qual a imagem fotográfica é capaz <strong>de</strong> remeter <strong>de</strong> maneira<br />
inquestionável, como um vestígio, como um traço <strong>de</strong> sua existência que escapa a qualquer<br />
61
tentativa <strong>de</strong> tradução pela linguagem articulada. Nas palavras <strong>de</strong> Barthes (1984, p. 38),<br />
para perceber sua presença na imagem é necessário, enfim, “comprometer-se com uma<br />
força: o afeto”. 18 Como <strong>de</strong>finir, então, essa dimensão que transcen<strong>de</strong> o visível na imagem<br />
cinematográfica?<br />
18 “Eu só me interessava pela fotografia por “sentimento”, eu queria aprofunda-la, não como uma questão<br />
(um tema), mas como uma ferida: vejo, sinto, portanto noto, olho e penso.” (Barthes, 1984, p. 39)<br />
62
2. Entre os fotogramas, o movimento<br />
Cada fotograma traz consigo uma imagem fotográfica. São marcas visuais <strong>de</strong>ixadas<br />
na película por um procedimento técnico sofisticado no qual o uso da câmera ganha<br />
<strong>de</strong>staque especial. Salvo em casos particulares – como a intervenção direta na película para<br />
a produção <strong>de</strong> <strong>de</strong>senhos animados, por exemplo – , o que sustenta a aparição da imagem<br />
cinematográfica na tela são essas fotografias impressas na película. Pu<strong>de</strong>mos avaliar o<br />
quanto o uso da câmera <strong>de</strong>termina a configuração da imagem cinematográfica, sobretudo<br />
no que diz respeito ao arranjo espacial. Responsável pela produção das imagens presentes<br />
em cada fotografa, esse aparato técnico, na verda<strong>de</strong>, <strong>de</strong>termina o modo <strong>de</strong> configuração da<br />
parte visível da imagem cinematográfica. Pois são esses fotogramas que vão fornecer as<br />
informações visuais necessárias para que a imagem cinematográfica se apresente enquanto<br />
tal para o espectador, o qual se responsabilizará, por outro lado, pela passagem do visível<br />
ao visual, através do seu olhar, dando sentido e or<strong>de</strong>m à imagem. No que diz respeito ao<br />
visível, portanto, o dispositivo técnico será manipulado pelo produtor da imagem com<br />
vistas a traçar diretrizes para esse olhar que o público passa, então, a disponibilizar como<br />
condição essencial para a aparição da imagem. E, como pu<strong>de</strong>mos constatar, todo o<br />
processo <strong>de</strong> codificação da imagem ten<strong>de</strong> a se concentrar no modo como o espaço da<br />
representação será configurado. Como nos diz Aumont (1993, p.31), “a visão é antes <strong>de</strong><br />
tudo um sentido espacial.” A temporalida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa imagem, por outro lado, ten<strong>de</strong> a se<br />
estabelecer <strong>de</strong> uma outra maneira. Vejamos, inicialmente, como ela se viabiliza na imagem<br />
por aquilo que o dispositivo <strong>de</strong>termina previamente.<br />
63
Do fotográfico ao cinematográfico<br />
Há um aspecto peculiar no modo <strong>de</strong> produção da imagem cinematográfica que a<br />
diferencia da fotografia. E essa diferença se encontra justamente no processo mecânico da<br />
câmera cinematográfica que viabiliza a produção seqüenciada <strong>de</strong> vários instantâneos<br />
fotográficos por segundo, e cuja composição visual, como já observamos, distingue o<br />
anterior do posterior por aquilo que Baudry (1983) chama <strong>de</strong> “diferença mínima”. Essa<br />
diferença mínima entre uma imagem e outra remete, na verda<strong>de</strong>, às mudanças que<br />
ocorreram na realida<strong>de</strong> que se encontrava diante da câmera; transformações que se <strong>de</strong>ram<br />
no real nos intervalos <strong>de</strong> cada um <strong>de</strong>sses instantes que conseguiram ficar registrados em<br />
imagem como uma marca, como um vestígio da luz em movimento. Em um primeiro<br />
momento, po<strong>de</strong>-se pensar na representação <strong>de</strong> uma figura se <strong>de</strong>slocando no espaço. O<br />
tempo passaria então a remeter à duração <strong>de</strong>sse movimento. Mas po<strong>de</strong>ríamos imaginar,<br />
ainda, uma imagem na qual nenhuma figura em particular estivesse efetuando esse tipo <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>slocamento espacial. Constataríamos, então, que, ainda assim, a imagem não<br />
permaneceria a mesma. Entre um instantâneo e outro, alguma mudança se faria visível. O<br />
espaço visual apresentaria, ainda assim, alguma alteração aparente. Uma mudança na luz.<br />
Uma mudança em um <strong>de</strong>talhe qualquer da imagem. Algum traço do instantâneo seguinte se<br />
distinguindo do anterior por uma diferença mínima. Uma paisagem se transformando no<br />
<strong>de</strong>correr do tempo que passa, por exemplo. É essa mudança inevitável entre um<br />
instantâneo fotográfico e outro que viabiliza, na representação, a aparição da duração a<br />
transformar toda a matéria visível. A imagem cinematográfica, nesse sentido, dá<br />
visibilida<strong>de</strong> à duração, permite-nos percebê-la na imagem pelos feitos que ela causa nas<br />
formas, em suas mutações. Ela <strong>de</strong>nuncia o movimento do real, seu dinamismo, seu <strong>de</strong>vir.<br />
Não somente o movimento dos corpos no espaço; seu <strong>de</strong>slocamento físico – uma noção <strong>de</strong><br />
movimento que é própria à mecânica clássica. Mas uma outra noção <strong>de</strong> movimento,<br />
inerente à própria realida<strong>de</strong>. O <strong>de</strong>vir. Um movimento que não po<strong>de</strong> ser interrompido. O<br />
movimento da matéria. Ele encontraria eco na imagem cinematográfica justamente pela<br />
diferença mínima verificável entre um instantâneo e outro. Ele se faria perceptível pelos<br />
efeitos que causa na realida<strong>de</strong> visível representada na imagem, ou seja, pelas mudanças<br />
que promove nos estados da matéria. Em imagem, essa mudança ganharia visibilida<strong>de</strong> na<br />
alteração da forma, dos tons, das cores, em qualquer <strong>de</strong>talhe visual no qual pudéssemos<br />
<strong>de</strong>tectar alguma transformação. Para citar alguns outros exemplos bem simples, po<strong>de</strong>mos<br />
constatar a luz refletida nos objetos em constante alteração, a brisa a mover suabvemente<br />
64
partes mais leves <strong>de</strong> algum corpo maior. A variação da luz entre áreas mais claras e mais<br />
escuras que se alternam e se transmutam. A alteração visual promovida na figura <strong>de</strong> um<br />
corpo físico que, diante da ação <strong>de</strong> uma brisa, apresentaria algumas partes a se moverem<br />
aleatoriamente com mais intensida<strong>de</strong> do que outras, supostamente mais pesadas e<br />
resistentes a ela. A própria fonte <strong>de</strong> luz po<strong>de</strong> se tornar intermitente na realida<strong>de</strong> diante da<br />
câmera. A brisa po<strong>de</strong> se transformar em vento. O vento em vendaval. Algo po<strong>de</strong> explodir<br />
<strong>de</strong> um momento para outro na imagem. Algo surpreen<strong>de</strong>nte po<strong>de</strong> surgir <strong>de</strong> repente. O<br />
movimento aleatório inerente à matéria po<strong>de</strong> adquirir mesmo um tom assustador. Ele po<strong>de</strong><br />
gerar na imagem, por si só, um clima <strong>de</strong> suspense, quando se intensifica nela a<br />
possibilida<strong>de</strong> do imprevisível, do porvir absolutamente aberto ao acaso. O <strong>de</strong>vir da matéria<br />
ganha, portanto, visibilida<strong>de</strong> na imagem cinematográfica pelos instantâneos fotográficos<br />
que se suce<strong>de</strong>m na película. Um <strong>de</strong>vir que, na verda<strong>de</strong>, remete à realida<strong>de</strong> que esteve<br />
diante da câmera; que remete, portanto, ao real.<br />
O movimento que a imagem cinematográfica será capaz <strong>de</strong> apresentar vai além,<br />
portanto, da capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fazer com que as formas se transfigurem, <strong>de</strong> fazer com que<br />
figuras se <strong>de</strong>sloquem no espaço da representação. Nos <strong>de</strong>senhos animados, por exemplo,<br />
as figuras se movem, há uma transformação aparente da imagem; no entanto, não há<br />
vínculo existencial entre esse movimento que se expressa na imagem e o movimento do<br />
real, o movimento da matéria; a própria aparência da imagem po<strong>de</strong> se assemelhar às<br />
aparências do real, em um grau elevado <strong>de</strong> analogia, sem, no entanto, apresentar nenhum<br />
vínculo existencial com ele. Não é o que ocorre, contudo, com as fotografias animadas.<br />
Nelas, há algo que emana do real, como o brilho <strong>de</strong> uma estrela que nos chega atrasado,<br />
algo que escapa a qualquer artifício técnico, a qualquer recurso <strong>de</strong> linguagem. Essa<br />
capacida<strong>de</strong> das fotografias animadas <strong>de</strong> expressar um movimento que emana do real, <strong>de</strong><br />
apontar para um tempo absolutamente objetivo, ela origina-se, na verda<strong>de</strong>, do modo como<br />
a imagem se inscreve na película, do seu modo <strong>de</strong> materialização. Como diria Bazin<br />
(1983), ela se sustenta na própria ontologia da imagem. Pois se a materialida<strong>de</strong> da imagem<br />
cinematográfica se concentra nos instantâneos fotográficos que se enfileiram na película,<br />
ela está vinculada existencialmente ao real que lhes <strong>de</strong>u origem, como um rastro da luz que<br />
<strong>de</strong>ixou vestígios no negativo em forma <strong>de</strong> imagem. Um vínculo existencial que não po<strong>de</strong><br />
65
ser negado, que faz parte <strong>de</strong> um arché. 19 A imagem cinematográfica traz consigo essa<br />
herança da fotografia: a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se apresentar como um vestígio do real, como um<br />
rastro visual <strong>de</strong>ixado pelo movimento constante da matéria. Também ela traz consigo essa<br />
qualida<strong>de</strong>, essa “objetivida<strong>de</strong> essencial” que Bazin (1983) <strong>de</strong>tecta na imagem fotográfica.<br />
Ela remete ao tempo real, ao <strong>de</strong>vir da matéria.<br />
Mas o vestígio <strong>de</strong> real que o cinema apresenta em imagem difere daquele<br />
possibilitado pela fotografia, visto que o <strong>de</strong>vir da matéria encontra um modo mais pleno <strong>de</strong><br />
se manifestar na imagem cinematográfica. Não são apenas instantes do tempo, congelados<br />
em imagem, imutáveis, que se manifestam na situação cinematográfica; é um pedaço do<br />
real em plena mutação, em pleno <strong>de</strong>vir, que ganha visibilida<strong>de</strong> com a aparição da imagem<br />
mutável. No cinema, “a imagem das coisas é também a imagem da duração <strong>de</strong>las” (Bazin,<br />
1983). A violência <strong>de</strong> que falava Barthes sobre a insistência da imagem fotográfica em<br />
permanecer a mesma diante do nosso olhar, em não se <strong>de</strong>sdobrar, em não se transformar, é<br />
suavizada, no cinema, quando a imagem adquire essa nova qualida<strong>de</strong> – o movimento – ,<br />
transmutando-se para o público.<br />
Mas essa possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mutação das formas <strong>de</strong>tectada na imagem<br />
cinematográfica gera conseqüências que vão além do efeito visual. A imagem<br />
cinematográfica adquire a qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> não apenas apontar para o real que se encontra<br />
vinculado à representação – um real que para nós, pertence ao passado – , <strong>de</strong> afirmar isso<br />
foi (Barthes, 1984, passim) – ou seja, isso foi real – , mas inclusive <strong>de</strong> restituir na<br />
representação o seu <strong>de</strong>vir, <strong>de</strong> trazer para a imagem a vitalida<strong>de</strong> do real; ou seja, <strong>de</strong> afirmar<br />
ainda que isso é real, um outro tipo <strong>de</strong> real.<br />
No caso da fotografia, a presença insistente da imagem diante do público coloca-se<br />
como uma “ferida”, à medida que aponta para o real que foi no passado e que, no entanto,<br />
não é mais, a não ser enquanto representação. Ela aponta, em imagem, para esse real que<br />
foi e que agora é passado, impedindo, com isso, que o público consiga se esquecer <strong>de</strong>le. 20<br />
No entanto, ela não po<strong>de</strong> trazê-lo <strong>de</strong> volta, a não ser enquanto imagem, enquanto<br />
representação. Diante <strong>de</strong>la, estamos cientes <strong>de</strong> que estamos lidando com uma<br />
19 Termo empregado por Schaeffer (1987) para <strong>de</strong>signar um saber sobre a gênese da imagem fotográfica que<br />
é comungado pelos integrantes da socieda<strong>de</strong> que a manipula. Um saber que se encontra socializado, que não<br />
precisa ser dito, não precisa ser confirmado, pois já está supostamente implícito na imagem.<br />
20 A imagem fotográfica como contra-lembrança. Ela não permite a lembrança porque não <strong>de</strong>ixa esquecer.<br />
66
epresentação; no entanto, ela remete a algo que sabemos que foi real. Ela nos traz <strong>de</strong> volta<br />
ao olhar um pedaço do real que agora é passado. É a evidência <strong>de</strong>sse vínculo existencial<br />
entre a imagem fotográfica e o real o que violenta tanto o público, o que o assombra. Um<br />
vínculo que não po<strong>de</strong> ser negado. 21 É esse vínculo que confere à imagem fotográfica um<br />
dom particular <strong>de</strong> se apresentar como um documento, como uma prova. Como assinala<br />
Barthes (1984), ele confere um valor jurídico à fotografia. Há, nessa imagem, uma<br />
proximida<strong>de</strong> entre o real e a representação; mais que uma proximida<strong>de</strong>, um ponto <strong>de</strong><br />
contato. Concomitante a isso, ela reafirma a distância real entre o referente da imagem e o<br />
público que se encontra diante <strong>de</strong>la, o spectator (Barthes, op. cit., passim). É a tensão que<br />
tanto dilacera Barthes (1984). A “ferida” em imagem. Na imagem cinematográfica, por<br />
outro lado, algo <strong>de</strong> diferente se estabelece. Também ela apresenta esse vínculo com o real<br />
ao qual ela remete em sua própria gênese. No entanto, esse vínculo ganha novos traços. Ele<br />
adquire um novo valor. Pois a possibilida<strong>de</strong> do movimento, a expressão do <strong>de</strong>vir na<br />
imagem, acaba por oferecer a ela uma autonomia muito maior perante esse real ao qual se<br />
encontra inegavelmente vinculada. A inscrição do real na imagem mutável é muito mais<br />
intensa, pois o movimento do real ganha expressão na imagem; mas essa nova qualida<strong>de</strong><br />
da imagem, <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r se transformar, <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r se transmutar, acaba por lhe oferecer maior<br />
autonomia perante o real ao qual ela remete, na medida em que passa a se apresentar para o<br />
público como uma outra realida<strong>de</strong>, uma realida<strong>de</strong> <strong>de</strong> outra natureza, possuidora <strong>de</strong> uma<br />
duração própria. Há, na imagem cinematográfica, uma espécie <strong>de</strong> <strong>de</strong>scolamento do real<br />
que <strong>de</strong>u lhe origem. Ela parece adquirir vida própria. 22 Ela passa a expressar, na verda<strong>de</strong>,<br />
21 Talvez até se consiga atenuar essa evidência em casos particulares. Penso aqui, por exemplo, em alguns<br />
anúncios publicitários, nos quais há uma tendência em se amenizar esse traço essencial da imagem<br />
fotográfica . No entanto, ele não po<strong>de</strong> ser totalmente apagado na imagem; ele faz parte <strong>de</strong> um saber, <strong>de</strong> um<br />
arché, caso se prefira utilizar um termo cunhado por Schaeffer (1987).<br />
22 O poeta russo Máximo Gorki nos <strong>de</strong>ixou um relato interessante das impressões que essa imagem lhe<br />
causou, ao presenciar umas <strong>de</strong> suas primeiras aparições, em fins do século XIX: “Ontem à noite, eu estava no<br />
Reino das Sombras. (...) Quando as luzes se apagam, na sala on<strong>de</strong> nos mostram a invenção dos irmãos<br />
Lumière, uma gran<strong>de</strong> imagem cinza – sombra <strong>de</strong> uma má gravura – aparece, <strong>de</strong> repente, na tela; é Une rue <strong>de</strong><br />
Paris (Uma rua <strong>de</strong> Paris). Examinando-a, vêem-se automóveis, edifícios, pessoas, todos imóveis; pressupõese,<br />
então, que esse espetáculo nada trará <strong>de</strong> novo: vista <strong>de</strong> Paris que já vimos várias vezes? E, <strong>de</strong> repente, um<br />
curioso clique parece se produzir na tela: a imagem nasce para a vida. Os automóveis, que estavam ao fundo<br />
da imagem, vêm direto sobre você. Em alguma parte longínqua, pessoas aparecem, e quanto mais se<br />
aproximam, mais crescem. No primeiro plano, crianças brincam com um cachorro, ciclistas passam e<br />
pe<strong>de</strong>stres procuram atravessar a rua. Tudo isso se agita, tudo respira vida e, <strong>de</strong> repente, tendo atingido o<br />
limite da tela, <strong>de</strong>saparece não se sabe para on<strong>de</strong>. (...) Seus movimentos são plenos <strong>de</strong> energia vital e tão<br />
rápidos que mal são percebidos (...) Uma vida nasce em sua frente, uma vida privada do som e do espectro<br />
das cores (...) A gente termina por ficar perturbado e <strong>de</strong>primido por essa vida silenciosa e cinzenta. Acreditase<br />
que ela quer dar qualquer aviso e que ela o envolve num incerto significado sinistro; isso enfraquece o<br />
67
uma outra espécie <strong>de</strong> real. Daí o talento <strong>de</strong>ssa imagem para criar realida<strong>de</strong>s paralelas –<br />
ficções – que se acrescenta ao talento fotográfico <strong>de</strong> documentar o real que lhe <strong>de</strong>u origem.<br />
Parece-nos que Bazin (1991) intui sobre essa diferença entre a imagem<br />
cinematográfica e a imagem fotográfica, quando, no artigo intitulado “Montagem<br />
proibida” 23 , ele incentiva a exploração da ambigüida<strong>de</strong> essencial da imagem<br />
cinematográfica, valorizando, por exemplo, filmes como Crin blanc (O balão Branco), <strong>de</strong><br />
Albert Lamorisse, que, segundo o crítico francês, conseguem conciliar a realida<strong>de</strong><br />
cinematográfica com a realida<strong>de</strong> documentária:<br />
cinema:<br />
“Consi<strong>de</strong>rar os filmes <strong>de</strong> Lamorisse como filmes <strong>de</strong> pura ficção seria traí-los,<br />
com também, por exemplo, Le ri<strong>de</strong>au cramoisi. A credibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong>las está<br />
certamente ligada a seu valor documental. Os acontecimentos que eles<br />
representam são parcialmente verda<strong>de</strong>iros. Para Crin Blanc, a paisagem <strong>de</strong><br />
Camargue, a vida dos criadores e pescadores, os costumes das manadas,<br />
constituem a base da fábula, o ponto <strong>de</strong> apoio sólido e irrefutável do mito.<br />
Porém, essa realida<strong>de</strong> fundamenta-se justamente em uma dialética do<br />
imaginário, cujo interessante símbolo é a duplicação <strong>de</strong> Crin Blanc. Assim,<br />
Crin Blanc é a um só tempo o verda<strong>de</strong>iro cavalo que pasta nos campos<br />
salgados <strong>de</strong> Camargue, e o animal <strong>de</strong> sonho que nada eternamente em<br />
companhia do menino Folco. Sua realida<strong>de</strong> cinematográfica não po<strong>de</strong>ria<br />
dispensar a realida<strong>de</strong> documentária, mas era preciso, para que ela se tornasse<br />
verda<strong>de</strong> <strong>de</strong> nossa imaginação, que se <strong>de</strong>struísse e renascesse na própria<br />
realida<strong>de</strong>.” (Bazin, 1991, p. 59)<br />
Há ainda um outro trecho do artigo on<strong>de</strong> Bazin aponta para esse traço próprio ao<br />
“O importante é que possamos dizer, ao mesmo tempo, que a matéria-prima<br />
do filme é autêntica e que, no entanto, é „cinema‟. Assim, a tela reproduz o<br />
fluxo e refluxo <strong>de</strong> nossa imaginação, que se nutre da realida<strong>de</strong> a qual ela<br />
projeta sem substituir. A fábula nasce da experiência que ela transcen<strong>de</strong>.”<br />
(ibi<strong>de</strong>m, p 60)<br />
Se há algo do fotográfico que possa ser encontrado no cinema é essencialmente<br />
esse vínculo existencial que a imagem mutável apresenta com o real que lhe <strong>de</strong>u origem;<br />
seu valor <strong>de</strong> documento. Como diz Barthes (1984), a imagem se apresenta como uma<br />
“emanação do referente” ; este compreen<strong>de</strong>ndo, na verda<strong>de</strong>, o real que se encontrava lá,<br />
embrenhando o equipamento <strong>de</strong> produção da imagem latente. Mas o que po<strong>de</strong>mos<br />
consi<strong>de</strong>rar aqui como sendo especificamente cinematográfico é esse modo particular como<br />
coração: esquece-se on<strong>de</strong> se está. Idéias estranhas inva<strong>de</strong>m os espíritos; fica-se cada vez menos consciente.”<br />
(Gorki, 1995, p. 28 et seq. )<br />
23 Cahiers du cinema, 1953 e 1957.<br />
68
o real se articula com a imagem; essa ambigüida<strong>de</strong> entre a realida<strong>de</strong> do referente e a<br />
realida<strong>de</strong> da imagem, a qual adquire um novo status, perante o spectator, com a<br />
possibilida<strong>de</strong> do movimento, da transformação das formas. A realida<strong>de</strong> atual da imagem<br />
cinematográfica – aquela que ela apresenta para o público enquanto uma imagem – ela<br />
ganha mais autonomia perante a realida<strong>de</strong> que lhe <strong>de</strong>u origem, o passado. É um outro tipo<br />
<strong>de</strong> vínculo, enfim, que o cinema instaura com o real. Um novo modo <strong>de</strong> lidar com o <strong>de</strong>vir,<br />
com a temporalida<strong>de</strong>. Não é mais o real fotográfico, compreendido como um instante do<br />
passado que insiste em se fazer presente, ali, na imagem fixa, imutável, extraída do <strong>de</strong>vir,<br />
colocando-se como um impedimento para o esquecimento, evitando, portanto, a elaboração<br />
silenciosa e transformadora da memória. No cinema, o real se <strong>de</strong>scola <strong>de</strong> sua origem<br />
material e única para servir à produção <strong>de</strong> um outro tipo <strong>de</strong> real, aquele que se atualiza na<br />
imagem mutável, que ganha vida com ela. Do real da matéria que dá origem à imagem,<br />
extrai-se, na verda<strong>de</strong>, sua vitalida<strong>de</strong>. Se, na imagem fotográfica, o real ficou <strong>de</strong>stituído<br />
<strong>de</strong>ssa vitalida<strong>de</strong>, na imagem cinematográfica, ele a recupera. Mas só o faz para viabilizar a<br />
atualização <strong>de</strong> uma outra dimensão <strong>de</strong>le, que pertence agora ao universo da imagem, da<br />
imaginação. Nas palavras <strong>de</strong> Bazin (1983), “a distinção lógica entre real e imaginário ten<strong>de</strong><br />
a ser abolida [na imagem cinematográfica].”<br />
Também Barthes (1984) parece reconhecer, na imagem cinematográfica, essa<br />
ambigüida<strong>de</strong> entre o real que lhe <strong>de</strong>u origem – o qual pertence, para nós, ao passado – e o<br />
real que se sugere para o público na própria atualida<strong>de</strong> da imagem; um outro tipo <strong>de</strong> real,<br />
atual e atuante:<br />
“De um ponto <strong>de</strong> vista fenomenológico, o cinema começa a diferir da<br />
fotografia; pois o cinema (ficcional) mistura duas poses: o „isso foi‟ do ator e<br />
[o „isso é‟] do papel [do personagem], <strong>de</strong> modo que jamais posso ver ou<br />
rever, em um filme, atores que sei que estão mortos, sem uma espécie <strong>de</strong><br />
melancolia [do „isso foi‟ do ator] : a melancolia da fotografia.” (id., op. cit.,<br />
p. 119)<br />
A melancolia que o referente da imagem – que pertence ao passado – po<strong>de</strong>ria gerar<br />
no espectador cinematográfico, fica, então, amenizada pelo grau <strong>de</strong> autonomia da imagem,<br />
a qual se propõe como uma outra realida<strong>de</strong>. No caso <strong>de</strong> filmes narrativos, essa autonomia<br />
da imagem cinematográfica perante o referente fotográfico intensifica, portanto, a<br />
impressão <strong>de</strong> realismo da ficção.<br />
“No cinema, cujo material é fotográfico, a foto, no entanto, não tem essa<br />
mesma completu<strong>de</strong> (felizmente para ele). Por quê? Porque a foto, tirada em<br />
um fluxo, é empurrada, puxada incessantemente para outras vistas; no<br />
69
cinema, sem dúvida, sempre há referente fotográfico, mas esse referente<br />
<strong>de</strong>sliza, não reivindica em favor <strong>de</strong> sua realida<strong>de</strong>, não <strong>de</strong>clara sua antiga<br />
existência; não se agarra a mim: não é um espectro. Como o mundo real, o<br />
mundo fílmico é sustentado pela presunção <strong>de</strong> „que a experiência continuará<br />
constantemente a fluir no mesmo estilo constitutivo‟; mas a fotografia rompe<br />
o „estilo constitutivo‟ (está aí seu espanto); ela é <strong>de</strong>sprovida <strong>de</strong> futuro (estão<br />
aí seu patético, sua melancolia); nela não há qualquer protensão, ao passo<br />
que o cinema é protensivo, e por isso <strong>de</strong> modo algum melancólico (o que é<br />
então? – Pois bem, é simplesmente „normal‟, como a vida). Imóvel, a<br />
fotografia reflui da apresentação para a retenção.” (Barthes, 1984, p. 134)<br />
Deixemos, agora, nossa reflexão sobre o vínculo existencial entre a imagem e o real<br />
para ser retomado mais adiante e <strong>de</strong>tenhamo-nos, então, nos dispositivos técnicos que<br />
possibilitam a aparição da imagem mutável. Vejamos como o movimento foi conquistado à<br />
imagem ao longo <strong>de</strong> anos <strong>de</strong> pesquisa e experimentação <strong>de</strong> novos inventos técnicos,<br />
inspirados em teses e idéias sobre o fenômeno da percepção do movimento.<br />
70
2. 1. Das pesquisas sobre a persistência da visão à produção <strong>de</strong> imagens<br />
mutáveis<br />
No século XVIII, alguns indivíduos partiram em busca <strong>de</strong> explicações para um<br />
fenômeno conhecido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a Antigüida<strong>de</strong> 24 como “persistência da visão”. Por meio <strong>de</strong>le,<br />
aparentemente, uma imagem se perpetua em nossa visão ainda por alguns segundos,<br />
mesmo <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> sua fonte causadora, ou estímulo visual, ser eliminada ou retirada <strong>de</strong><br />
nosso campo <strong>de</strong> visão. Uma <strong>de</strong>monstração clássica <strong>de</strong>sse fenômeno resi<strong>de</strong> na observação<br />
<strong>de</strong> uma fonte <strong>de</strong> luz a girar rapidamente no escuro: a uma <strong>de</strong>terminada velocida<strong>de</strong>, não se<br />
percebe mais um ponto <strong>de</strong> luz se <strong>de</strong>slocando no espaço, mas a imagem <strong>de</strong> um círculo,<br />
resultante da trajetória do objeto luminoso. Na tentativa <strong>de</strong> medir a duração <strong>de</strong>sse efeito<br />
visual, o alemão Johannes Segner reproduziu um experimento similar. Segundo o<br />
pesquisador David Robinso (1996), ele pôs a girar um carvão incan<strong>de</strong>scente no escuro,<br />
“variando e contabilizando a velocida<strong>de</strong> das voltas efetuadas”. Com isto, ele concluiu que,<br />
para que o fenômeno <strong>de</strong> persistência da visão produzisse a ilusão <strong>de</strong> um círculo fechado, o<br />
carvão <strong>de</strong>veria completar cerca <strong>de</strong> <strong>de</strong>z voltas por segundo. 25<br />
Meio século <strong>de</strong>pois, no ano <strong>de</strong> 1821, é publicado em um jornal um artigo que tece<br />
novos comentários sobre o fenômeno. Nele, afirma-se que, quando os raios <strong>de</strong> uma roda<br />
giratória são “observados através <strong>de</strong> uma cerca ou <strong>de</strong> qualquer outro tipo <strong>de</strong> grelha”,<br />
produz-se um efeito <strong>de</strong> “distorção”. Segundo Robinson (1996), quem assinava o artigo era<br />
“J.M.”, que se supõe tratar-se do editor do periódico, John Murray. Cerca <strong>de</strong> quatro anos<br />
<strong>de</strong>pois, em <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1824, o médico Peter Mark Roget propõe uma explicação para<br />
este fenômeno visual. Em um documento apresentado à Royal Society of London,<br />
intitulado Explanation of an optical <strong>de</strong>ception in the appearance of the spokes of a wheel<br />
seen through vertical apertures, Peter Roget faz o seguinte comentário:<br />
24<br />
Segundo Aumont (1993), há relatos <strong>de</strong> Aristóteles, Lucrécio, Ptolemeu e Al-Hazen sobre esse fenômeno<br />
visual.<br />
25<br />
Mais tar<strong>de</strong>, o irlandês Chevalier Patrice d‟Arcy retomou as experiências <strong>de</strong> Segner e conseguiu obter um<br />
resultado mais preciso, concluindo, então, que seriam necessárias sete voltas por segundo para que se<br />
produza a imagem <strong>de</strong> um círculo fechado. David Robinson (1996, p. 124) nos fala sobre a experiênica<br />
realizada pelo irlandês: “Numa plataforma com <strong>de</strong>zoito pés <strong>de</strong> altura, construiu um mecanismo semelhante a<br />
um relógio acionado por um peso que <strong>de</strong>scia até um poço situado junto à máquina. Esse mecanismo servia<br />
para fazer girar uma cruz em ma<strong>de</strong>ira, <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dimensões, semelhantes às asas <strong>de</strong> um moinho <strong>de</strong> vento. A<br />
velocida<strong>de</strong> era controlada por volantes, e uma campainha, acionada pela engrenagem em intervalos regulares,<br />
permitia contabilizar as voltas com exatidão.”<br />
71
“(...) a causa da ilusão da curvatura dos raios é a mesma que respeita a ilusão<br />
que tem lugar quando um objeto luminoso gira rapidamente em círculo,<br />
dando origem ao aparecimento <strong>de</strong> um feixe <strong>de</strong> luz em toda a circunferência;<br />
nomeadamente, que a impressão provocada na retina por um conjunto <strong>de</strong><br />
raios, se for suficientemente nítida, permanecerá durante algum tempo após<br />
ter cessado a sua causa”. (apud Robinson, 1996, p. 125)<br />
A explicação <strong>de</strong> Roget <strong>de</strong>monstra que ele acredita que o fenômeno se <strong>de</strong>ve, na<br />
verda<strong>de</strong>, a uma “impressão provocada na retina”. Mas Robinson (1996) relata que, anos<br />
<strong>de</strong>pois, em 1830, François Magendie e Sir Charles Bell publicam um tratado, The Nervous<br />
System of the Human Body, que transfere a causa <strong>de</strong>sses efeitos visuais a níveis mais<br />
complexos da mente humana, os quais envolvem não só o sistema visual, mas inclusive o<br />
sistema nervoso e outras partes do cérebro, que seriam responsáveis pela re-elaboração e<br />
transformação <strong>de</strong>ssas informações.<br />
Ao longo dos anos que se suce<strong>de</strong>ram, várias outras experiências foram realizadas.<br />
E, hoje em dia, reconhece-se que o sistema visual necessita <strong>de</strong> um <strong>de</strong>terminado período <strong>de</strong><br />
tempo para que se consiga perceber um estímulo visual. Alguns estágios da percepção<br />
po<strong>de</strong>m ser mais rápidos, outros, mais <strong>de</strong>morados, contudo, o processamento da informação<br />
luminosa sempre necessita <strong>de</strong> tempo para sua elaboração. Segundo Aumont (1993), em<br />
1974, <strong>de</strong>scobriu-se que o nervo ótico é composto por dois tipos distintos <strong>de</strong> células: umas<br />
mais adaptadas para respon<strong>de</strong>r a estímulos mais permanentes, e outras, para respon<strong>de</strong>r a<br />
estímulos mais transitórios. O pesquisador as <strong>de</strong>screve:<br />
“As células „permanentes‟ têm um campo receptor menor, correspon<strong>de</strong>m<br />
mais à fóvea, trabalham quando a imagem é nítida; as células „transitórias‟<br />
[por outro lado] têm um campo bem amplo, respon<strong>de</strong>m aos estímulos<br />
variáveis, correspon<strong>de</strong>m mais à periferia e são pouco sensíveis ao flou. (...)<br />
[as células transitórias] po<strong>de</strong>m [ainda] inibir as células „permanentes‟: as<br />
primeiras seriam, pois, uma espécie <strong>de</strong> sistema <strong>de</strong> alarme e as segundas, um<br />
instrumento analítico”. (id., 1993, p. 34)<br />
Há, portanto, duas maneiras distintas do sistema visual reagir aos estímulos<br />
luminosos, aos quais Aumont faz menção: uma resposta lenta e uma resposta rápida. A<br />
resposta lenta po<strong>de</strong> ser observada, por exemplo, quando o sistema visual encontra-se<br />
exposto a uma fonte <strong>de</strong> luz muito intensa que, no entanto, perdura por um período <strong>de</strong><br />
tempo muito curto. O efeito <strong>de</strong> acumulação faz com que essa informação luminosa perdure<br />
ainda por mais algum tempo, mesmo após o estímulo que lhe <strong>de</strong>u origem ter sido<br />
interrompido. Em um outro exemplo, a resposta lenta po<strong>de</strong> ainda promover um outro efeito<br />
visual. Quando vários estímulos luminosos se suce<strong>de</strong>m com muita rapi<strong>de</strong>z, eles po<strong>de</strong>m vir<br />
72
a ser percebidos como um único evento. 26 Esse fenômeno é conhecido, hoje em dia, como<br />
fenômeno <strong>de</strong> integração. Reconhece-se, atualmente, que esses efeitos, na verda<strong>de</strong>, são<br />
produzidos em níveis pré-retinianos. Desse modo, po<strong>de</strong>-se concluir que o efeito visual<br />
conseguido com o movimento circular do carvão a uma <strong>de</strong>terminada velocida<strong>de</strong> se <strong>de</strong>ve,<br />
na verda<strong>de</strong>, a fenômenos que não se restringem apenas à persistência retiniana.<br />
A resposta rápida, por outro lado, é encontrada em casos nos quais os estímulos<br />
visuais variam rapidamente. Estímulos luminosos que aparecem e <strong>de</strong>saparecem a uma<br />
freqüência constante – como acontece com a imagem cinematográfica – costumam<br />
produzir esse tipo <strong>de</strong> resposta no sistema visual humano. Produz-se, então, um efeito<br />
conhecido como cintilação (flicker, em inglês), caracterizado pelo ofuscamento da<br />
imagem. Para que esse efeito seja evitado, <strong>de</strong>ve-se aumentar a freqüência das aparições,<br />
possibilitando, assim, a percepção <strong>de</strong> um estímulo constante e unificado. Esse efeito visual<br />
<strong>de</strong> continuida<strong>de</strong> e unificação dos vários estímulos recebe, portanto, a colaboração daquele<br />
outro tipo <strong>de</strong> resposta do sistema visual: a resposta lenta, na qual se opera o efeito <strong>de</strong><br />
integração. Além da freqüência dos estímulos, há, enfim, um outro fator que <strong>de</strong>termina se<br />
a fonte luminosa vai promover um efeito <strong>de</strong> cintilação ou um efeito <strong>de</strong> integração: a<br />
intensida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sse estímulo. 27<br />
Contudo, a experiência com o carvão, realizada no século XVIII, não per<strong>de</strong> seu<br />
mérito. Ela resi<strong>de</strong>, pois, no esforço que os homens <strong>de</strong>ssa época empreen<strong>de</strong>ram na tentativa<br />
<strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r melhor quais eram as condições que levavam a visão humana a perceber a<br />
trajetória do carvão incan<strong>de</strong>scente como uma forma sintética. Sabia-se que esta forma<br />
circular não existia na realida<strong>de</strong>, mas resultava <strong>de</strong> um efeito visual que se produzia com o<br />
26 Aumont (1993, p. 32) observa que, para que seja possível perceber dois estímulos visuais não sincrônicos<br />
como distintos é necessário que haja um intervalo <strong>de</strong> tempo <strong>de</strong> pelo menos 60 a 80 milissegundos entre eles.<br />
E esse intervalo <strong>de</strong>ve passar para 100 ms (1/10 <strong>de</strong> segundos) caso se queira distinguir qual <strong>de</strong>les é posterior<br />
ao outro.<br />
27 Jacques Aumont (1993, p. 35) comenta sobre a influência <strong>de</strong>sses efeitos visuais na produção da imagem<br />
cinematográfica: “Os primeiros projetores ofereciam, na maioria das vezes, uma imagem cintilante: entre<br />
outras coisas, é para eliminar esse efeito que a velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> projeção (logo, também a velocida<strong>de</strong> do<br />
instantâneo) não parou <strong>de</strong> aumentar, passando <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 12 a 16, e <strong>de</strong>pois, progressivamente, a 24 imagens<br />
por segundo. Quando a intensida<strong>de</strong> das lâmpadas aumentou (principalmente com os projetores a arco<br />
voltaico), a freqüência crítica aumentou acima <strong>de</strong> 24 Hz, e com 24 imagens por segundo a cintilação<br />
reapareceu. Para eliminá-la sem aumentar ainda mais a velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> projeção – o que acarretaria sérios<br />
problemas mecânicos – usou-se <strong>de</strong> um artifício ainda em vigor, que consiste em „<strong>de</strong>sdobrar‟ e até „triplicar‟ a<br />
paleta giratória do projetor, interrompendo assim o fluxo luminoso do projetor, duas ou três vezes em cada<br />
fotograma projetado. Tudo se passa, então, como se cada fotograma fosse projetado duas ou três vezes antes<br />
que a película avance para o fotograma seguinte. Passa-se assim, com 24 imagens diferentes por segundo, a<br />
2x 24 = 48, ou a 3x24 = 72 imagens projetadas por segundo, portanto, acima da freqüência crítica [que é da<br />
or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> 10 Hz para intensida<strong>de</strong>s médias].”<br />
73
movimento do carvão a uma <strong>de</strong>terminada velocida<strong>de</strong>. Esta forma sintética que surgia no<br />
processo <strong>de</strong> percepção visual estava diretamente associada à trajetória do carvão. Inferia-<br />
se, então, que a ilusão visual era conseguida por meio <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong> síntese das<br />
informações luminosas. Em um intervalo <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong> tempo, o carvão se movia. E os<br />
olhos humanos percebiam esse movimento. Mas ele se processava <strong>de</strong> modo tão rápido que<br />
se tornava impossível distinguir um estagio do movimento <strong>de</strong> outro, gerando assim a<br />
percepção <strong>de</strong>ssa imagem única.<br />
A experiência realizada com o carvão permite, portanto, constatar a existência<br />
<strong>de</strong>sse efeito visual <strong>de</strong> síntese dos vários estágios do movimento. As causas <strong>de</strong>sse efeito, por<br />
outro lado, continuavam a ser explicadas por teorias que não podiam ser comprovadas e<br />
que, anos <strong>de</strong>pois, viriam mesmo a ser refutadas. Todavia, o esforço por conhecer melhor as<br />
condições que <strong>de</strong>terminavam a produção <strong>de</strong>sse efeito visual possibilitou aos pesquisadores<br />
da época reproduzi-lo em situações controladas intencionalmente. Desse modo, essas<br />
experiências viabilizaram a invenção <strong>de</strong> vários dispositivos capazes reproduzir<br />
intencionalmente efeitos visuais similares.<br />
E foi o que, <strong>de</strong> fato, aconteceu. Vários aparatos foram engendrados a partir <strong>de</strong>sses<br />
estudos sobre a persistência da visão. Em 1825, surge um dispositivo muito interessante<br />
nas lojas londrinas <strong>de</strong> brinquedos, a partir <strong>de</strong> pesquisas realizadas pelo médico John Ayrton<br />
Paris: o traumatrópio. (fig. 3) Robinson o <strong>de</strong>screve:<br />
“Consistia num pequeno disco <strong>de</strong> cartão, em cujas faces eram impressas<br />
imagens complementares [numa um pássaro e noutra uma gaiola, por<br />
exemplo]. Prendiam-se uns fios <strong>de</strong> cada lado, permitindo assim que o disco<br />
girasse rapidamente por forma que as duas faces fossem vistas numa rápida<br />
sucessão.” (id., 1996, p. 126)<br />
Supunha-se então que, assim como aconteceu com o carvão, o fenômeno da<br />
“persistência da visão” misturava, neste aparato, uma imagem a outra, dando a impressão<br />
<strong>de</strong> que elas eram sobrepostas e compunham uma única imagem. Neste caso, po<strong>de</strong>-se<br />
perceber melhor que a imagem final <strong>de</strong>riva das duas imagens que estão inscritas no suporte<br />
material, através <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong> síntese. As imagens inscritas no cartão existem <strong>de</strong> fato.<br />
Estão ali como marcas, presas a um material qualquer. Mas a imagem que resulta <strong>de</strong>stas,<br />
por um processo <strong>de</strong> síntese, não está marcada em suporte algum. Ela surge no ato <strong>de</strong><br />
percepção promovido pelo público a partir do acionamento <strong>de</strong>ste simples aparato.<br />
74
Fig. 3<br />
“Séries <strong>de</strong> taumatrópios” – Inglaterra (1827)<br />
Um outro invento que aprimorou estes resultados obtidos com o traumatrópio foi o<br />
anorthoscope. O físico belga Joseph-Antoine Ferdinand Plateau <strong>de</strong>u sua contribuição às<br />
pesquisas sobre o fenômeno da persistência da visão, em gran<strong>de</strong> parte pelas conclusões a<br />
que chegou em sua tese <strong>de</strong> doutoramento, apresentada em maio <strong>de</strong> 1829. Ele concluiu que<br />
o tempo médio <strong>de</strong> duração das impressões equivalia a um terço <strong>de</strong> segundo. Observou<br />
ainda que esta duração variava <strong>de</strong> acordo com a cor do estímulo. A partir <strong>de</strong> suas<br />
pesquisas, elaborou então esse novo dispositivo:<br />
75
“Um conjunto <strong>de</strong> roldanas com engrenagem, colocadas numa plataforma,<br />
permitia fazer girar dois discos paralelos, sobre o mesmo eixo, mas em<br />
sentidos opostos e a velocida<strong>de</strong>s diferentes. O disco da frente era um<br />
obturador negro com quatro ranhuras radicais em forma <strong>de</strong> cruz. O segundo<br />
disco, situado por traz do primeiro, movendo-se quatro vezes mais <strong>de</strong>pressa e<br />
em sentido oposto, era feito <strong>de</strong> papel translúcido e continha imagens<br />
anamorficamente distorcidas. O dispositivo era observado numa sala escura,<br />
havendo uma luz clara por trás do disco translúcido. Quando a máquina<br />
começava a funcionar, e vistas através das ranhuras do obturador em<br />
movimento, as imagens distorcidas pareciam imóveis e até corrigidas para<br />
formas reconhecíveis. O processo <strong>de</strong> distorção era invertido.” (Robinson,<br />
1996, p. 128)<br />
Segundo Robinson, um outro pesquisador, o físico inglês Michael Faraday, mesmo<br />
<strong>de</strong>sconhecendo o trabalho <strong>de</strong> Plateau, <strong>de</strong>senvolveu investigações similares.<br />
“Tal como Plateau, observou que uma roda <strong>de</strong>ntada giratória, vista através<br />
dos espaços existentes entre os <strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> uma segunda roda, parece estar<br />
imóvel. Este efeito podia ser <strong>de</strong>monstrado <strong>de</strong> forma ainda mais simples<br />
fazendo girar uma única roda <strong>de</strong>ntada frente a um espelho, „<strong>de</strong> modo a que os<br />
nossos olhos conseguissem ver o espelho através ou por entre os <strong>de</strong>ntes da<br />
roda, parecendo então que a imagem refletida era a <strong>de</strong> uma roda <strong>de</strong>ntada,<br />
com o mesmo número <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntes, mas completamente imóvel e sendo visíveis<br />
todos os <strong>de</strong>ntes‟.” (Robinson., op. cit, p. 128)<br />
Segundo Robinson, Faraday tomou conhecimento das publicações <strong>de</strong> Plateau. Este,<br />
por outro lado, uniu suas forças a Faraday, propondo assim substituir os <strong>de</strong>ntes da roda por<br />
estreitas ranhuras. Além disso, ele observou que:<br />
“Se em vez <strong>de</strong> dividir o círculo em faixas concêntricas, como Faraday, se<br />
<strong>de</strong>senhasse numa das partes uma figura qualquer, repetindo essa figura<br />
sempre na mesma posição em cada uma das outras partes, seria óbvio que<br />
quando se submetesse o círculo à experiência do espelho, distinguir-se-iam<br />
todas essas pequenas figuras perfeitamente imóveis. (...) Mas se em vez <strong>de</strong><br />
ter apenas figuras idênticas, se proce<strong>de</strong>sse <strong>de</strong> forma a que, seguindo a série<br />
<strong>de</strong>ssas figuras, elas passassem através <strong>de</strong> várias fases, <strong>de</strong> uma forma ou<br />
posição para outra, é evi<strong>de</strong>nte que cada uma das partes, cuja imagem<br />
ocuparia sucessivamente no espelho o mesmo lugar relativamente ao olhar,<br />
conteria uma figura que seria ligeiramente diferente da anterior; <strong>de</strong> forma<br />
que, se a velocida<strong>de</strong> fosse suficientemente gran<strong>de</strong> para que todas as imagens<br />
sucessivas se ligassem entre si, mas não excessiva <strong>de</strong> modo a confundi-las,<br />
ver-se-ia cada uma das pequenas figuras mudar gradualmente <strong>de</strong> estado.”<br />
(ibi<strong>de</strong>m, p. 129)<br />
Assim surgiu, em 1832, o primeiro fenacistioscópio <strong>de</strong> Plateau, com imagens<br />
animadas <strong>de</strong> “um dançarino a fazer piruetas” (Robinson). Este é consi<strong>de</strong>rado, <strong>de</strong> fato, o<br />
primeiro <strong>de</strong>senho animado do mundo.<br />
76
O cientista austríaco Simon Stampfer é outro pesquisador que também é citado por<br />
Robinson como autor <strong>de</strong> pesquisas paralelas sobre o mesmo fenômeno visual. Era<br />
relativamente comum, naquela época, encontrar pessoas <strong>de</strong>dicando-se a tais pesquisas, e<br />
costumavam obter bons resultados, elaborando dispositivos diversos. Stampfer elaborou<br />
um aparato que em muito se assemelhava ao fenacistioscópio: o estroboscópio. Em 1833,<br />
tanto um, quanto o outro invento, foram comercializados como brinquedos ópticos. O<br />
primeiro foi comercializado por seu i<strong>de</strong>alizador em socieda<strong>de</strong> com o fabricante <strong>de</strong><br />
brinquedos vienense Mathias Trentsensky, enquanto que o segundo o foi pela empresa da<br />
gran<strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Rudolph Ackermann, com o nome <strong>de</strong> fantasmascópio, <strong>de</strong>pois<br />
simplificado para fantascópio. É interessante observar que, mais tar<strong>de</strong>, Stampfer aperfeiçoa<br />
o seu invento, trazendo-lhe alterações que se mostrariam valiosas para confecção do<br />
dispositivo que tornaria possível a produção da imagem cinematográfica.<br />
“Em vez <strong>de</strong> serem impressas num disco e observadas num espelho, as<br />
imagens podiam se dispostas ao longo <strong>de</strong> uma tira <strong>de</strong> papel, que seria<br />
colocada no interior <strong>de</strong> um tambor <strong>de</strong> cartão ou metal, e vistas diretamente<br />
através <strong>de</strong> ranhuras feitas na parte lateral do cilindro”. (Robinson, 1996, p.<br />
133)<br />
No ano seguinte, após terem sido feitas estas alterações, o dispositivo passaria a ser<br />
conhecido como zootrópio. Mas ele só viria a ser comercializado em 1867.<br />
Todos esses dispositivos técnicos <strong>de</strong>monstram, <strong>de</strong> maneira eloqüente, o <strong>de</strong>sejo,<br />
emergente na época, por se produzir imagens mutáveis, capazes <strong>de</strong> apresentar a ilusão <strong>de</strong><br />
mutação das formas. O século XIX presencia, portanto, a conquista do movimento<br />
aparente na imagem. Conseguido por meios mecânicos, ele surge como uma ilusão óptica,<br />
a partir <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong> síntese <strong>de</strong> várias imagens imóveis, fixadas em um suporte que<br />
se encaixava em dispositivos técnicos. A comercialização <strong>de</strong>sses sofisticados brinquedos<br />
ópticos incentivou a pesquisa sobre o fenômeno da persistência da visão e a invenção <strong>de</strong><br />
outros aparatos técnicos capazes <strong>de</strong> fazer surgir diante dos olhos, <strong>de</strong> maneiras as mais<br />
diversas, as imagens mutáveis. De um modo ou <strong>de</strong> outro, esses inventos favoreceram, já<br />
em fins do século XIX, o surgimento das primeiras imagens cinematográficas, também<br />
possuidoras <strong>de</strong>ssa qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se apresentar ao público como uma imagem mutável.<br />
77
Fig. 4<br />
“Praxinoscópio” (1877)<br />
Emile Reynaud<br />
Fig. 5<br />
“Praxinoscópio-teatro” (1877)<br />
Emile Reynaud<br />
78
A projeção luminosa<br />
Há ainda uma outra qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong>tectável na imagem cinematográfica que não era<br />
até então comum a essas imagens mutáveis produzidas por meio <strong>de</strong>sses sofisticados<br />
brinquedos óticos e que, no entanto, já havia sido conseguida em outras imagens anteriores<br />
a ela: sua projeção luminosa em uma sala escura, on<strong>de</strong> o público se dispõe a apreciá-las.<br />
Esta outra qualida<strong>de</strong> da imagem, remete, na verda<strong>de</strong>, aos espetáculos visuais produzidos<br />
com a utilização <strong>de</strong> um outro invento conhecido como lanterna mágica 28 , e que era<br />
manipulado em exibições públicas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o século XVII. 29<br />
Fig. 6<br />
“Lanterna Mágica”, in “L’ Optique” (1874)<br />
28 A pesquisadora Donata Pesenti Campagnoni (1996, p. 62) <strong>de</strong>screve o dispositivo: “A lanterna mágica era,<br />
na realida<strong>de</strong>, uma máquina simples, uma espécie <strong>de</strong> pequena caixa munida <strong>de</strong> uma fonte <strong>de</strong> luz artificial, um<br />
espelho côncavo posterior e um sistema <strong>de</strong> lentes que permitia projetar sobre uma superfície branca as<br />
imagens ampliadas <strong>de</strong> vidros pintados com cores transparentes.”<br />
29 O uso da lanterna mágica na produção <strong>de</strong> espetáculos visuais logo foi vislumbrado pelos envolvidos com a<br />
antiga tradição da Mágica Natural. Eles adaptaram as novas <strong>de</strong>scobertas científicas fundadas na óptica às<br />
suas tradições. Absorveram as novas <strong>de</strong>scobertas da ciência e se apropriaram <strong>de</strong>la para aten<strong>de</strong>r aos seus<br />
interesses.<br />
79
Já nessas imagens projetadas pela lanterna mágica, a ânsia pelo movimento se<br />
evi<strong>de</strong>nciava. Ele já podia ser encontrado nas imagens i<strong>de</strong>alizadas por Christian Huygens,<br />
como o esqueleto que joga com a própria cabeça 30 . Supostamente, tais imagens seriam<br />
projetadas em sucessão, promovendo uma espécie <strong>de</strong> fusão entre as diferentes imagens.<br />
Também nas fantasmagorias <strong>de</strong> Robertson o <strong>de</strong>slocamento do aparato técnico em direção à<br />
tela produzia um efeito visual que simulava o movimento na imagem: ela ia crescendo <strong>de</strong><br />
tamanho, produzindo, assim, a sensação <strong>de</strong> estar cada vez mais próxima do público, como<br />
se quem estivesse se movendo fosse a própria figura projetada pela luz. 31 O caso das<br />
dissolving views (fig. 7, 8 e 9) é um outro exemplo no qual po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>tectar o <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> se<br />
exprimir visualmente o fluxo do tempo que passa, por meio <strong>de</strong> uma espécie <strong>de</strong> fusão entre<br />
uma imagem e outra que se projetavam na tela. Projetava-se, por exemplo a imagem<br />
pintada <strong>de</strong> paisagem à luz do dia e, logo em seguida, uma outra imagem <strong>de</strong>ssa mesma<br />
paisagem simulando o anoitecer. 32<br />
30 Segundo Campagnoni (1996), em manuscritos do matemático e astrônomo holandês Christian Huygens<br />
produzidos em <strong>de</strong> 1659, há uma referência ao invento. Nele consta um estudo preparatório para a produção<br />
<strong>de</strong> representações visuais, a serem pintadas em vidros e projetadas por uma lanterna mágica. São<br />
representações <strong>de</strong> um esqueleto em diferentes poses, on<strong>de</strong> se simula o movimento <strong>de</strong> tirar e por a sua cabeça,<br />
“como se fosse uma bola <strong>de</strong> jogar”. Estas imagens são consi<strong>de</strong>radas, pela pesquisadora, como provavelmente<br />
as primeiras a serem produzidas para serem projetadas em lanternas mágicas.<br />
31 Campagnoni (1996, p. 79), nos fala que os espetáculos <strong>de</strong> Fantasmagoria produzidos por um físico inglês<br />
chamado Paul Philidor, eram criados pelo uso <strong>de</strong> em uma lanterna mágica especial, que ela <strong>de</strong>screve: “podia<br />
ser comodamente <strong>de</strong>slocada sobre carris ou sobre rodas. Não só, escondido da vista do público, o aparelho<br />
retroprojetava a imagem, que se ia ampliando pouco a pouco, <strong>de</strong>slocando-se, simultaneamente, <strong>de</strong> forma a<br />
aproximar-se ou afastar-se, dos espectadores.” Segundo a pesquisadora, um outro físico e aeronauta belga,<br />
Etienne-Gaspard Robert, conhecido então como Robertson, também se apropria do novo invento para fazer<br />
espetáculos <strong>de</strong> fantasmagoria. Ele retoma as técnicas <strong>de</strong> Philidor e, em 1799, registra a patente <strong>de</strong> um invento<br />
que ele nomeia como fantascópio. Nos anos seguintes, Robertson utiliza o fantascópio para produzir<br />
espetáculos visuais cujo sucesso eloqüente levaria, enfim, à consagração da lanterna mágica como um<br />
instrumento voltado para produção <strong>de</strong> imagens luminosas e espetaculares. Campagnoni o <strong>de</strong>screve: “ [o<br />
aparelho] era montado sobre um pequeno carro rudimentar que <strong>de</strong>slizava ao longo <strong>de</strong> dois carris e era<br />
munido <strong>de</strong> um sofisticado sistema óptico que permitia projetar objetos e vidros <strong>de</strong> vários tamanhos e garantir<br />
a focagem das imagens, qualquer que fosse o tamanho que resultava do avançar ou recuar do fantascópio; a<br />
intensida<strong>de</strong> da luz era ainda regulada por uma chapa <strong>de</strong> cobre que funcionava como diafragma”. (ibi<strong>de</strong>m, p.<br />
81)<br />
32 Em fins do século XVIII e início do século XIX ocorre a industrialização da lanterna mágica. Por volta <strong>de</strong><br />
1821, o óptico inglês Philip Carpenter lança no mercado uma versão industrializada do aparato. Campagnoni<br />
(1996, p. 83) a <strong>de</strong>screve: “uma máquina caracterizada por uma chaminé cônica angulada e munida <strong>de</strong> quatro<br />
lentes biconvexas (duas utilizadas como con<strong>de</strong>nsador e duas como lentes objetivas) e um diafragma na<br />
extremida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um tubo óptico (que servia para eliminar os raios situados na extremida<strong>de</strong> do feixe luminoso<br />
e, portanto, a aberração <strong>de</strong> esfericida<strong>de</strong> das imagens projetadas).” Carpenter lança também no mercado um<br />
outro invento que serviria como complemento ao primeiro. Juntos estes dois aparelhos se transformariam em<br />
um único “instrumento educativo e recreativo, difundidos em proporções sem prece<strong>de</strong>ntes e economicamente<br />
acessível a todos”. São as copper-plate sli<strong>de</strong>s. Elas são, na verda<strong>de</strong>, vidros feitos especificamente para a<br />
projeção <strong>de</strong> imagens do phantasmagoria lantern. E sua peculiarida<strong>de</strong> está na técnica utilizada na impressão<br />
das imagens 32 , a qual não só possibilita uma produção em gran<strong>de</strong> escala, como também oferece um resultado<br />
<strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> nas imagens projetadas, pela riqueza <strong>de</strong> <strong>de</strong>talhes e ampla gama <strong>de</strong> possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> temas<br />
80
81<br />
Figuras 7 e 8<br />
“Dissolving Views”<br />
Série <strong>de</strong> vidros<br />
para lanterna<br />
mágica.<br />
Alemanha<br />
(2 a meta<strong>de</strong> do<br />
século XIX)<br />
passíveis <strong>de</strong> serem ali representados. Essas imagens eram ainda acompanhadas <strong>de</strong> breves comentários que o<br />
próprio Carpenter fornecia em manuais que ele mesmo escrevia e dispunha ao público consumidor <strong>de</strong> seus<br />
inventos. Com o sucesso do empreendimento, este mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> lanterna mágica <strong>de</strong>senvolvido por Carpenter, é<br />
retomado por outras indústrias na fabricação <strong>de</strong> novos aparelhos. As dissolving views surgem, portanto, como<br />
uma nova versão <strong>de</strong>sses aparatos. Campagnoni (op. cit., p. 87) a <strong>de</strong>screve: “colocadas uma ao lado da outra,<br />
as duas lanternas, provocando através <strong>de</strong> um mecanismo frontal especial um efeito <strong>de</strong> dissolvência permitiam<br />
projetar as fantasiosas e espetaculares transformações, produzidas por uns vidros representando temas<br />
complementares: um mesmo tema, visto em diversos momentos do dia, do ano, ou, <strong>de</strong> qualquer maneira, em<br />
condições que <strong>de</strong>terminavam mudanças mais ou menos parciais.” Nesta nova versão, entretanto, visava-se<br />
mais à produção <strong>de</strong> efeitos espetaculares e sugestivos do que à instrução e à educação do público por meios<br />
divertidos e <strong>de</strong>scontraídos, como acontecia com as copper-plate sli<strong>de</strong>s.
Constatamos, portanto, que a ânsia pelo movimento e pela transformação da<br />
imagem luminosa é eloqüente nesses espetáculos <strong>de</strong> lanterna mágica. Contudo, nenhum<br />
<strong>de</strong>sses empreendimentos chegou a produzir a ilusão óptica <strong>de</strong> movimento aparente como<br />
viria a conseguir os dispositivos <strong>de</strong>senvolvidos por pesquisadores do fenômeno da<br />
persistência da visão, como Plateau, Faraday, ou Stampfer. Não surpreen<strong>de</strong>, pois, que, em<br />
<strong>de</strong>terminado momento, alguns homens tenham resolvido se empenhar em adaptar os novos<br />
dispositivos capazes viabilizar o movimento aparente nas imagens técnicas à situação da<br />
lanterna mágica. T. W. Naylor aparece nos registros como o primeiro a tentar realizar este<br />
<strong>de</strong>safio, no ano <strong>de</strong> 1843. 33 Mas a adaptação dos dispositivos fundamentados no fenômeno<br />
<strong>de</strong> persistência da visão ao dispositivo capaz <strong>de</strong> projetar uma imagem luminosa na tela<br />
<strong>de</strong>parava-se com alguns problemas fundamentais, tais como a perda da luz e <strong>de</strong> niti<strong>de</strong>z da<br />
imagem. 34 Em 1866, J. S. Beale propõe a solução para esse problema em um novo invento:<br />
o choreutoscópio. O recurso utilizado neste aparato para produzir um movimento<br />
intermitente nas imagens viria a ser conhecido como Maltese Cross, ou Cruz <strong>de</strong> Malta. E<br />
33 O pesquisador David Robinson (1996) comenta sobre o dispositivo criado por T. W. Naylor: “ (...) propôs<br />
pintar as imagens <strong>de</strong> um fenacistioscópio em torno do perímetro <strong>de</strong> um disco <strong>de</strong> vidro e <strong>de</strong>pois fazê-lo girar<br />
entre o con<strong>de</strong>nsador e a lente <strong>de</strong> uma lanterna mágica. Um segundo disco, opaco e com orifícios<br />
correspon<strong>de</strong>ntes às imagens, giraria à mesma velocida<strong>de</strong>, sobre o mesmo eixo e no mesmo sentido. [O<br />
obturador seria colocado] entre os dois elementos <strong>de</strong> uma lente composta, no ponto em que os raios<br />
luminosos convergiam. Assim, conseguiria fazer passar o feixe através da mais pequena abertura possível,<br />
para reduzir ao mínimo os intervalos em que o écran era iluminado.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 134 et seq.) A <strong>de</strong>svantagem<br />
<strong>de</strong>sta adaptação encontrava-se na perda <strong>de</strong> luz que se promovia durante o percurso <strong>de</strong>la no interior da<br />
engrenagem; o que evi<strong>de</strong>ntemente prejudicava a qualida<strong>de</strong> da imagem resultante. Em 1853, Frans von<br />
Uchatius apresentou um novo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> fenacistioscópio <strong>de</strong> projeção à Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Ciências <strong>de</strong> Viena que<br />
tentava minimizar este problema por meio <strong>de</strong> um mecanismo que iluminava apenas “um diagrama <strong>de</strong> cada<br />
vez”. Este mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Uchatius foi comercializado e provavelmente inspirou um outro mo<strong>de</strong>lo, bem mais<br />
simples, <strong>de</strong>senvolvido pelo fabricante <strong>de</strong> instrumentos ópticos parisiense Jules Dubosq. Além <strong>de</strong>ste, outros<br />
ainda foram inventados.<br />
34 Nos dispositivos inventados até então, as imagens se sucediam umas às outras em um movimento contínuo,<br />
ininterrupto. Mas quando elas eram projetadas, elas apareciam borradas. Mesmo que a fonte <strong>de</strong> luz fosse<br />
interrompida entre uma imagem e outra, através <strong>de</strong> uma espécie <strong>de</strong> obturador que bloqueava a passagem da<br />
luz no instante em que uma imagem saía para dar lugar à outra, ainda assim o movimento contínuo das<br />
imagens – a passagem <strong>de</strong> uma imagem a outra, sem que elas se estabilizassem no momento em que eram<br />
projetadas na tela – não lhes permitia serem percebidas com niti<strong>de</strong>z. Para que a imagem surgisse nítida na<br />
tela, seria preciso então que ela se estabilizasse por alguns segundos: seria preciso que ela permanecesse<br />
parada na tela o suficiente para que fosse percebida pelo sistema visual humano com niti<strong>de</strong>z. Só <strong>de</strong>pois,<br />
então, ela <strong>de</strong>sapareceria, com a interrupção <strong>de</strong> sua projeção luminosa. O aparato <strong>de</strong>veria se encarregar <strong>de</strong> tirar<br />
a imagem que já se projetou na tela da frente do obturador e colocar uma outra em se lugar. Por outro lado,<br />
para que o observador da imagem projetada pu<strong>de</strong>sse percebê-la em movimento, seria necessário que a<br />
passagem <strong>de</strong> uma imagem a outra fosse rápida o suficiente para que o suposto fenômeno então conhecido<br />
como persistência da visão promovesse a “síntese” <strong>de</strong>las em uma só, agora mutável. Essa passagem <strong>de</strong> uma<br />
imagem à outra, esse movimento efetivo promovido pelo dispositivo, <strong>de</strong>veria ficar, enfim, escondido dos<br />
olhos do apreciador, <strong>de</strong>veria ser ocultado no funcionamento do dispositivo.<br />
82
ele viria a se tornar um elemento importante no <strong>de</strong>senvolvimento das câmaras <strong>de</strong> filmar e<br />
dos projetores. A invenção do Teatro Ótico 35 pelo engenheiro Emile Reynaud (1844-<br />
1918) levou, enfim, esses espetáculos visuais ao seu ápice, possibilitando a projeção, entre<br />
1892 e 1900, <strong>de</strong> imagens luminosas que se ofereciam ao público como pantomimas<br />
cômicas ou dramáticas <strong>de</strong> longa duração e <strong>de</strong> narrativas complexas. Robinson (1996) nos<br />
fala sobre <strong>de</strong>senhos animados <strong>de</strong> “cores vivas” que traziam inclusive a possibilida<strong>de</strong> do<br />
acompanhamento musical, promovidas pelas “partituras <strong>de</strong> piano especialmente composta<br />
por Gaston Paulin”.<br />
Essas exibições públicas <strong>de</strong> imagens luminosas imóveis que, ao serem projetadas<br />
em uma tela localizada no interior <strong>de</strong> uma sala escura para um púbico se oferece à sua<br />
apreciação, apresentam-se como uma única imagem mutável, prefiguram, portanto, a<br />
“situação cinematográfica”, <strong>de</strong>finida por Michotte (1948) como o encontro entre o<br />
dispositivo técnico e o espectador, o qual possibilita o surgimento da imagem<br />
cinematográfica através daquilo que ele chama <strong>de</strong> “efeito-tela”. 36 Por outro lado, as<br />
condições <strong>de</strong> apreciação <strong>de</strong>ssas imagens luminosas e mutáveis, caracterizadas sobretudo<br />
pela sala escura e pela disponibilida<strong>de</strong> do público, também se aproximam da <strong>de</strong>scrição<br />
sobre a “situação cinematográfica” feita por Barthes (1980), que a <strong>de</strong>fine como “pré-<br />
hipnótica”. 37 São espetáculos visuais oferecidos ao público como um meio <strong>de</strong><br />
35 Este dispositivo é um aperfeiçoamento do fenacistioscópio com alterações importantes. Segundo Robinson<br />
(1996), Emile Reynaud pretendia construir um fenacistioscópio para ele, mas, quando procedia à construção<br />
do aparelho, em 1873, também percebeu que um dos gran<strong>de</strong>s problemas <strong>de</strong>ste dispositivo encontrava-se na<br />
perda <strong>de</strong> luz que se promovia durante seu funcionamento. Para resolver o problema, entretanto, ele encontrou<br />
uma solução que se mostraria muito eficaz: substituir as ranhuras do dispositivo por um polígono <strong>de</strong> espelhos<br />
colocado no centro do tambor. David Robinson nos explica sobre este invento: “Os <strong>de</strong>senhos pintados na<br />
banda, colocada em torno da circunferência interna do cilindro, são assim refletidos nos espelhos, cujas faces,<br />
ao passarem rapidamente, apresentam à vista cada imagem sucessiva.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 136) Mais tar<strong>de</strong>, em 1879,<br />
ele aperfeiçoou este dispositivo e criou o Praxinoscópio-Teatro: “O Praxinoscópio era agora encastrado<br />
numa caixa especialmente concebida para o efeito, e as figuras animadas eram vistas através <strong>de</strong> vidro,<br />
emoldurado num pequeno proscênio. O vidro refletia a imagem <strong>de</strong> uma cena <strong>de</strong> palco, <strong>de</strong> modo que as<br />
figuras animadas pareciam estar sobrepostas ao cenário.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 137) A associação <strong>de</strong>ste dispositivo à<br />
lanterna mágica se dá, enfim, quando lhe surge a idéia <strong>de</strong> um praxinoscópio <strong>de</strong> projeção: “Os <strong>de</strong>senhos,<br />
litografados em pequenas placas <strong>de</strong> vidro unidas por bocados <strong>de</strong> tecidos, eram colocados num tambor <strong>de</strong><br />
moldura aberta, em cujo centro se encontrava a coroa <strong>de</strong> espelhos. O feixe <strong>de</strong> uma lanterna mágica,<br />
especialmente concebida para o efeito, atravessava as imagens translúcidas até os espelhos, a partir dos quais<br />
a imagem refletida era direcionada através <strong>de</strong> uma lente e <strong>de</strong>pois projetada no écran.” (ibi<strong>de</strong>m, 137) Com o<br />
aperfeiçoamento do praxinoscópio <strong>de</strong> projeção, juntando todas as imagens em uma banda contínua e<br />
ilimitada, Reynaud finalmente inventa o Teatro Óptico.<br />
36 É, pois, essa necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se instaurar a “situação cinematográfica” como condição essencial para o<br />
surgimento da imagem que leva Aumont (1993) a dizer que ela, na verda<strong>de</strong>, é uma aparição.<br />
37 “Salvo o caso – na verda<strong>de</strong> cada vez mais freqüente – <strong>de</strong> uma busca cultural bem precisa (filme escolhido,<br />
<strong>de</strong>sejado, procurado,objeto <strong>de</strong> verda<strong>de</strong>iro alerta prévio), vai-se ao cinema a partir <strong>de</strong> um certo ócio, <strong>de</strong> uma<br />
disponibilida<strong>de</strong>, <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>socupação. Tudo se passa com se, antes mesmo <strong>de</strong> entrar na sala, as condições<br />
83
entretenimento e distração em um ambiente escuro on<strong>de</strong> seus corpos ten<strong>de</strong>m a ficar mais<br />
quietos, <strong>de</strong>ixando-os mais disponíveis para o <strong>de</strong>vaneio, para o encantamento com as<br />
imagens. É justamente esse contexto <strong>de</strong> exibição pública da imagem luminosa e mutável<br />
que leva o cinema a se aproximar <strong>de</strong>sses espetáculos visuais que o antece<strong>de</strong>m e cuja<br />
origem se encontra associada à lanterna mágica. As características mais marcantes <strong>de</strong> tal<br />
contexto <strong>de</strong> projeção das imagens, capaz <strong>de</strong> favorecer a imaginação do público, <strong>de</strong>ixando-o<br />
mais propenso ao <strong>de</strong>vaneio, permanecem, portanto, atuais na “situação cinematográfica”.<br />
Po<strong>de</strong>-se inferir, então, que o contexto <strong>de</strong> exibição da imagem cinematográfica – o<br />
qual remete, na verda<strong>de</strong>, à tradição da lanterna mágica – intensifica nela seu grau <strong>de</strong><br />
autonomia perante a realida<strong>de</strong>, na medida em que oferece ao público condições mais<br />
favoráveis ao domínio da imaginação. Por outro lado, essa tendência promovida pelo<br />
contexto <strong>de</strong> exibição da imagem fica mais intensa com a possibilida<strong>de</strong> do movimento<br />
aparente na imagem luminosa. Ambos os fatores colaboram para o grau <strong>de</strong> autonomia da<br />
imagem, em seu po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> sugerir realida<strong>de</strong>s fantásticas. Predomina, enfim, a imaginação e<br />
a fantasia.<br />
Há, contudo, uma distinção fundamental entre a imagem cinematográfica e essas<br />
imagens mutáveis e luminosas produzidas ao longo do século XIX. A imagem<br />
cinematográfica se compõe <strong>de</strong> instantâneos fotográficos, enquanto que essas imagens<br />
produzidas com o uso <strong>de</strong> lanternas mágicas são originadas <strong>de</strong> pinturas, ou <strong>de</strong>senhos, feitos<br />
à mão por algum artesão. Não apresentam, portanto, qualida<strong>de</strong>s que são específicas do<br />
instantâneo fotográfico. São imagens <strong>de</strong> outra natureza. São lúdicas, divertidas, poéticas.<br />
Mas não se confun<strong>de</strong>m com aquela que viria surgir em fins do século; muito embora elas<br />
comunguem com a imagem cinematográfica essa possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mutação das formas.<br />
Este, na verda<strong>de</strong>, é o ponto em comum que as aproxima da imagem cinematográfica,<br />
constituindo o que po<strong>de</strong>ríamos <strong>de</strong>finir aqui como uma tradição <strong>de</strong> imagens mutáveis e<br />
luminosas, as quais são produzidas a partir da operacionalização <strong>de</strong> dispositivos mecânicos<br />
que, ao serem acionados, viabilizam sua aparição na tela perante o olhar do público. Mas o<br />
movimento que singulariza a imagem cinematográfica apresenta algo mais. Com a<br />
clássicas da hipnose estivessem reunidas: vazio, ociosida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>semprego: não é frente ao filme e pelo filme<br />
que sonhamos; é, sem o sabermos, antes mesmo <strong>de</strong> nos tornarmos seus espectadores. Existe uma „situação <strong>de</strong><br />
cinema‟, e esta situação é pré-hipnótica. Seguindo uma metonímia verda<strong>de</strong>ira, o escuro da sala é pré-figurado<br />
pelo „<strong>de</strong>vaneio crepuscular‟ prévio à hipnose, no dizer <strong>de</strong> Breuer-Freud) que prece<strong>de</strong> este escuro, conduz o<br />
sujeito, <strong>de</strong> r em ua, <strong>de</strong> cartaz em cartaz, a precipitar-se finalmente num cubo obscuro, anônimo, indiferente,<br />
on<strong>de</strong> <strong>de</strong>ve-se produzir este festival <strong>de</strong> afetos que chamamos filme”. (Barthes, 1980, p. 121 et seq.)<br />
84
animação da imagem fotográfica, algo diferente acontece, pois, como vimos, ela está<br />
vinculada ao real por seu próprio modo <strong>de</strong> constituição, por sua ontologia (Bazin, 1983,<br />
passim). O movimento que essa imagem virá a adquirir está, portanto, vinculado<br />
existencialmente ao real que lhe <strong>de</strong>u origem. Ele é afetado pelo instante fotográfico, pelo<br />
punctum <strong>de</strong> que fala Barthes (1984). O estímulo à imaginação e à fantasia convive com<br />
essa “objetivida<strong>de</strong> essencial” própria ao fotográfico. Contudo, isso só acontece quando a<br />
imagem fotográfica encontrar-se em condições <strong>de</strong> se associar à lanterna mágica. Vejamos,<br />
então, como isto se torna possível.<br />
Fig. 9<br />
“Phantasmagoria e Dissolving<br />
Views Lanterns”,<br />
Londres (1866)<br />
George Pightling<br />
85
Animação das fotografias<br />
O daguerreótipo foi apresentado à Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Ciência e Belas Artes no ano <strong>de</strong><br />
1839. Contudo, foi preciso aguardar o aperfeiçoamento das técnicas <strong>de</strong> produção <strong>de</strong>ssa<br />
imagem para que ela pu<strong>de</strong>sse adquirir o movimento aparente das formas. O tempo <strong>de</strong><br />
exposição necessário para a produção <strong>de</strong> uma imagem latente <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> no material<br />
sensível à luz <strong>de</strong>veria ser pequeno o suficiente para que pu<strong>de</strong>ssem fornecer os instantâneos<br />
fotográficos. 38 Quando a imagem fotográfica conquista “o instante”, ela passa, então a ser<br />
utilizada em auxílio às investigações sobre o movimento dos corpos, através <strong>de</strong> sua análise<br />
ou <strong>de</strong>composição em instantes congelados.<br />
Fig. 10<br />
“Galloping Horse”, N. Y. (1878) Eadweard Muybridge<br />
38 A utilização da albumina, em 1848, por Abel Niépce, possibilitou a produção <strong>de</strong> fotografias sobre vidro, e,<br />
em 1851, o surgimento do colódio úmido, diminuiu significativamente o tempo <strong>de</strong> exposição necessário para<br />
a produção da imagem latente. Duas décadas <strong>de</strong>pois, houve a substituição do procedimento do colódio úmido<br />
por uma emulsão <strong>de</strong> gelatina, o que diminuiu ainda mais o tempo <strong>de</strong> exposição necessário. Finalmente, em<br />
1888, o vidro foi substituído pelo celulói<strong>de</strong>.<br />
86
Fig. 11<br />
“Balle Rebondissante – Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Trajectoire” (1866) Étienne Jules Marey<br />
Destacam-se, nessas pesquisas, o astrônomo francês Jules Janssen 39 com a invenção<br />
do “revolver fotográfico”, o fotógrafo inglês Eadweard Muybridge 40 pelo registro do<br />
galope <strong>de</strong> um cavalo em várias e sucessivas posições, e o fisiologista francês Etienne Jules<br />
Marey 41 , cujo dispositivo técnico responsável pela produção <strong>de</strong> suas cronofotografias<br />
39 No dia 9 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1874, o astrônomo francês Jules Janssen fotografa pela primeira vez, com seu<br />
“revolver fotográfico”, as diferentes fases <strong>de</strong> um movimento não simulado: o eclipse do planeta Vênus.<br />
40 Em 1876, o fotógrafo inglês Eadweard Muybridge havia engendrado um aparelho fotográfico cujo sistema<br />
<strong>de</strong> obturador era extremamente rápido: duas placas verticais se juntavam e, quando se acionava o aparato,<br />
elas se abriam pelo ligeiro período <strong>de</strong> um 1/500 <strong>de</strong> segundo. Com este dispositivo, e utilizando-se do colódio<br />
úmido, ele produziu, para o antigo governador da Califórnia, Leland Stanford, uma imagem fotográfica do<br />
cavalo Occi<strong>de</strong>nt a galope. Em 1878, Muybridge retoma seus trabalhos na casa do governador e emprega um<br />
novo método que lhe permite fotografar o movimento <strong>de</strong> galope do cavalo em várias e sucessivas posições. O<br />
método consistia em colocar doze aparelhos fotográficos, um ao lado do outro, <strong>de</strong> on<strong>de</strong> saíam fios<br />
galvanizados que se estendiam até a pista que o cavalo percorreria. Quando o cavalo pisasse nos fios<br />
galvanizados, os obturadores seriam acionados e ficariam abertos pelo curtíssimo período <strong>de</strong> 1/2.000 <strong>de</strong><br />
segundo. Muybridge realizou várias séries <strong>de</strong> imagens. E publicou-as no mesmo ano, divulgando os<br />
resultados.<br />
41 O fisiologista havia concebido vários aparelhos que se fundamentavam na captação <strong>de</strong> informações sobre<br />
os movimentos dos animais e dos humanos por meio <strong>de</strong> materiais sensíveis, como sapatos com câmaras <strong>de</strong><br />
87
apresentava já princípios similares àqueles encontrados até hoje nas câmeras<br />
cinematográficas.<br />
A <strong>de</strong>composição do movimento em vários instantâneos fotográficos foi<br />
fundamental para o surgimento das fotografias animadas. Mas seria necessário ainda passar<br />
para a fase seguinte <strong>de</strong> síntese <strong>de</strong>sses vários instantâneos em uma única imagem mutável.<br />
Como Marey preferia sobrepor os diferentes instantes fotográficos, equivalentes aos<br />
estágios do corpo em movimento, em uma única imagem imóvel que fosse capaz <strong>de</strong><br />
informar-lhe sobre sua trajetória em uma espécie <strong>de</strong> “gráfico fotográfico” 42 , é George<br />
Demeny, seu assistente, quem <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> arquitetar um outro aparelho capaz <strong>de</strong> restituir o<br />
movimento aparente às cronofotografias. Surge, então, o fonoscópio, um instrumento<br />
capaz <strong>de</strong> projetar na tela a imagem luminosa <strong>de</strong> vários instantâneos fotográficos em<br />
sucessão, a uma velocida<strong>de</strong> tal que permite a aparição <strong>de</strong> uma imagem única luminosa e<br />
ar, ferraduras com bolas <strong>de</strong> borracha, contatos elétricos, <strong>de</strong>ntre tantos outros. Com esses materiais, ele<br />
captava informações sobre os movimentos e as transmitia para um objeto <strong>de</strong> ponta fina que traçava<br />
“alinhamentos” em um papel negro localizado sobre um cilindro. Ao tomar conhecimento do método<br />
fotográfico utilizado por Muybridge, Marey abandona esses aparelhos e resolve criar outros, agora fundados<br />
na técnica da fotografia. Marey, era amigo <strong>de</strong> Janssen e sabia dos trabalhos que seu amigo havia realizado<br />
com seu “revolver fotográfico”. Assim, em 1882, ele projeta um aparelho semelhante que, mais tar<strong>de</strong> é<br />
adaptado para se integrar a um disco opaco rotativo com várias fendas, <strong>de</strong>ntro do qual insere uma placa <strong>de</strong><br />
vidro sensível. O disco era capaz <strong>de</strong> rodar sobre seu próprio eixo, <strong>de</strong>z vezes por segundo, <strong>de</strong>ixando passar a<br />
luz e alcançar a placa sensível em 1/500 <strong>de</strong> segundo. Com este dispositivo, ele produziu imagens que<br />
apresentavam o movimento dos corpos em suas várias fases. Trabalhando <strong>de</strong> um modo diferente <strong>de</strong><br />
Muybridge, Marey acumula todas as diferentes posições do corpo, durante a execução do movimento, em<br />
uma única imagem. Essa imagem passa a apresentar o mesmo corpo congelado em diferentes posições,<br />
criando, assim, uma espécie <strong>de</strong> “gráfico” do movimento. Em 1888, Marey insere ao aparato um eletroímã. A<br />
função <strong>de</strong>sse ímã era parar o suporte sensível à luz no momento em que o obturador se abria. Em 1890, ele<br />
passa a utilizar a película <strong>de</strong> celulói<strong>de</strong> da Eastman Company como suporte para suas imagens. Ele cria ainda<br />
um outro sistema para arrastar a película: enrolar a película em uma bobina e inseri-la no aparelho<br />
fotográfico. Quando o aparelho é acionado, automaticamente a película é arrastada para o foco da objetiva,<br />
fica então parada, enquanto o obturador se abre; quando este se fecha, ela volta a ser arrastada e enrola-se em<br />
uma outra bobina receptora. No dia 3 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1890, Marey patenteia o sistema e <strong>de</strong>nomina suas<br />
imagens como cronofotografias.<br />
42 Segundo Laurent Mannoni (1996) para realizar tais “gráficos” do movimento, Marey dispunha <strong>de</strong> um<br />
estúdio <strong>de</strong> filmagem, criado em 1882, e subsidiado tanto pelo Estado quanto pela cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Paris: a Station<br />
Physiologique. O estúdio possuía uma pista em forma <strong>de</strong> círculo, on<strong>de</strong> o fisiologista colocava os corpos a<br />
serem fotografados e os punha a girar diante do “revolver fotográfico”. Este era posto sobre carris,<br />
permitindo-lhe movê-lo para frente e para trás e, com isto, variar o enquadramento da imagem. O fundo era<br />
negro, assim como as roupas que os corpos a serem fotografados vestiam. Com este procedimento, Marey<br />
pretendia confundir o fundo com os corpos. Apenas as partes fundamentais do corpo eram visualmente<br />
salientadas: fitas brancas eram postas nos braços e nas pernas, pontos brancos eram pintados nas articulações<br />
dos ossos. Como resultado, quando o corpo se movia, o aparelho fotográfico registrava na imagem apenas<br />
esses pontos salientados pelas fitas e pontos brancos, <strong>de</strong>ixando todo o resto in<strong>de</strong>finido no negro da imagem.<br />
Essas imagens não mais apresentavam o realismo comum à fotografia, mas diagramavam o movimento em<br />
formas simplificadas e abstratas.<br />
88
mutável. 43 Em 1891, Thomas Edison, inspirado no fonoscópio <strong>de</strong> Demeny, cria ainda um<br />
outro aparelho capaz <strong>de</strong> produzir “fotografias animadas”: o quinetoscópio. 44 Ele incorpora<br />
o uso da película <strong>de</strong> celulói<strong>de</strong> em substituição ao vidro utilizado por Demeny no<br />
fonoscópio, como suporte da imagem fotográfica. Contudo o quinetoscópio <strong>de</strong> Edison não<br />
visava projetar imagens luminosas no interior <strong>de</strong> uma sala escura. A imagem mutável <strong>de</strong>via<br />
ser apreciada individualmente, bisbilhotando-se por meio <strong>de</strong> um orifício o que se passava<br />
lá <strong>de</strong>ntro do dispositivo. 45 São os irmãos Lumière que se encarregam <strong>de</strong> engendrar uma<br />
nova versão do quinetoscópio <strong>de</strong> Edison capaz <strong>de</strong> projetar as imagens em uma tela, no<br />
interior <strong>de</strong> um ambiente escuro, para ser apreciada coletivamente, a partir dos instantâneos<br />
fotográficos registrados na película. 46 O industrial Louis Lumière já havia tomado<br />
conhecimento tanto sobre o Teatro Óptico <strong>de</strong> Emile Reynaud, quanto sobre o fonoscópio<br />
43 Atraído pela possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> animar as cronofotografias George Demenÿ, cria, em 1891, um novo<br />
aparelho. Segundo Mannoni (1996), tratava-se <strong>de</strong> uma caixa preta se apoiava em um pe<strong>de</strong>stal; atrás <strong>de</strong>la<br />
havia uma fonte <strong>de</strong> luz, e na frente, uma lente que permitia ampliar o tamanho da imagem luminosa; <strong>de</strong>ntro<br />
do aparelho, havia uma placa <strong>de</strong> vidro, on<strong>de</strong> eram dispostas as cronofotografias; havia ainda um obturador <strong>de</strong><br />
metal que controlava a passagem da luz.; o aparato era acionado por uma manivela. Este é consi<strong>de</strong>rado pelos<br />
pesquisadores o primeiro projetor cronofotográfico. No ano seguinte, Demenÿ funda, com outros dois<br />
amigos, a Société du Phonoscope. O objetivo <strong>de</strong>ssa socieda<strong>de</strong> era explorar comercialmente o fonoscópio.<br />
44 Laurent Mannoni (1996) nos informa que o quinetoscópio <strong>de</strong> Edson era constituído por uma caixa <strong>de</strong> um<br />
pouco mais <strong>de</strong> um metro <strong>de</strong> altura. Na parte <strong>de</strong> cima do aparelho, havia um orifício preenchido por uma lente,<br />
por on<strong>de</strong> uma pessoa podia observar, ampliada, a imagem móvel que se constituía no interior do aparato. As<br />
imagens fixas que davam origem à imagem móvel encontravam-se em uma película <strong>de</strong> 35 mm, com cerca <strong>de</strong><br />
15 metros <strong>de</strong> comprimento, perfurada em suas laterais e enrolada em uma bobina. Quando o aparato entrava<br />
em funcionamento, essa película automaticamente se <strong>de</strong>senrolava, por meio <strong>de</strong> carregadores <strong>de</strong>ntados, que se<br />
encaixavam nas perfurações laterais à imagem e a arrastavam para frente do obturador; em seguida, ela era<br />
novamente enrolada em outra bobina. O processo <strong>de</strong> obturação das imagens se dava por meio <strong>de</strong> um disco<br />
horizontal giratório com um orifício em forma <strong>de</strong> janela. A câmara que se encarregava <strong>de</strong> produzir as<br />
imagens fixas funcionava <strong>de</strong> modo similar. O diferencial estava em uma roda <strong>de</strong> escape que arrastava a<br />
película em um movimento intermitente. Este aparelho, entretanto, não ficava disponível ao público.<br />
45 No dia 14 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1894 inaugurou-se, na Broadway, a primeira sala comercial on<strong>de</strong>, por alguns níqueis,<br />
o público podia apreciar, individualmente, as “fotografias animadas” que se exibiam no interior dos vários<br />
quinetoscópios disponíveis. O empreendimento comercial <strong>de</strong> Edison foi um sucesso. Uma gran<strong>de</strong> quantida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> aparelhos foi produzida e várias salas foram abertas ao público. Nestes aparelhos podia-se assistir a<br />
dançarinas, mulheres se <strong>de</strong>spindo, contorcionistas, amestradores <strong>de</strong> animais, lutas <strong>de</strong> boxe, combates entre<br />
galos, lutas entre bêbados, <strong>de</strong>ntre muitos outros temas. Havia ainda, nessas imagens, a produção <strong>de</strong> efeitos<br />
especiais, como a inserção do fumo e a coloração <strong>de</strong> algumas partes das imagens. O quinetoscópio não se<br />
popularizou apenas nos Estados Unidos, mas chegou à Europa. Muitos outros empreen<strong>de</strong>dores produziram<br />
aparatos similares ao quinetoscópio, colaborando para o aperfeiçoamento das técnicas <strong>de</strong> produção e exibição<br />
das “fotografias animadas” e tornando-as cada vez mais atraentes para o público e rentáveis para os<br />
comerciantes.<br />
46 No dia 28 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1895, Lumière apresenta, no Grand Café <strong>de</strong> Paris, para pessoas que pagaram<br />
para estar ali, a projeção luminosa <strong>de</strong> várias “fotografias animadas”, as quais foram produzidas por ele<br />
mesmo, utilizando-se do mesmo aparelho que, naquele momento, viabilizava a exibição pública das imagens.<br />
Os registros atestam que o evento foi um sucesso. A acuida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lumière no o enquadramento e na escolha<br />
<strong>de</strong> um tema apropriado para uma representação visual em movimento levou-o a produzir imagens que até<br />
hoje são lembradas pelos amantes do cinema, como a inesquecível Chegada do Trem à Estação.<br />
89
<strong>de</strong> Demenÿ, ambos aparelhos capazes <strong>de</strong> projetar imagens móveis e luminosas. Quando o<br />
quinetoscópio <strong>de</strong> Edison surge, Lumière se interessa em construir uma máquina similar.<br />
No entanto, aquela que ele engendraria, além <strong>de</strong> viabilizar a projeção luminosa da imagem,<br />
<strong>de</strong>veria ser reversível; ou seja, uma máquina capaz tanto <strong>de</strong> projetar as imagens fixas na<br />
tela, quanto <strong>de</strong> produzir essas mesmas imagens na película em estado latente. No dia 13 <strong>de</strong><br />
fevereiro <strong>de</strong> 1895, Lumière registra a patente <strong>de</strong> um “aparelho cronofotográfico” reversível<br />
que, na época, viria a ser conhecido como quinetoscópio <strong>de</strong> projeção, e, <strong>de</strong>pois, finalmente<br />
chamado <strong>de</strong> cinematógrafo.<br />
Po<strong>de</strong>-se dizer, então, que o cinematógrafo <strong>de</strong> Lumière surge a partir <strong>de</strong> uma espécie<br />
<strong>de</strong> síntese <strong>de</strong> três tipos distintos <strong>de</strong> dispositivos técnicos: a câmara obscura, utilizada pelos<br />
pintores <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o século XVI para produzir imagens em perspectiva, e que se <strong>de</strong>sdobraria<br />
na câmera fotográfica em meados do século XIX, com o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> suportes<br />
sensíveis à luz e processos químicos <strong>de</strong> revelação e fixação das imagens latentes que neles<br />
se produziam; a lanterna mágica, manipulada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o século XVII para a projeção <strong>de</strong><br />
imagens luminosas no interior <strong>de</strong> uma sala escura, as quais, freqüentemente, serviam <strong>de</strong><br />
atração para a produção <strong>de</strong> espetáculos visuais públicos e pagos; e, finalmente, os aparatos<br />
<strong>de</strong>senvolvidos ao longo do século XIX para a produção <strong>de</strong> imagens mutáveis, tais como o<br />
fenacistioscópio <strong>de</strong> Plateau, e o zootrópio <strong>de</strong> Stampfer. Como vimos, os dispositivos<br />
responsáveis pela viabilização do movimento à imagem já haviam sido levados ao<br />
encontro da lanterna mágica <strong>de</strong>s<strong>de</strong> meados do século XIX, gerando, assim, espetáculos<br />
visuais públicos e pagos, inspirados em imagem luminosas e mutáveis. O Teatro Óptico <strong>de</strong><br />
Emile Reynauld <strong>de</strong>staca-se nessa conquista, quando, em 1879, possibilita a produção <strong>de</strong><br />
espetáculos visuais elaborados, nos quais imagens pintadas à mão davam origem a<br />
pantomimas sofisticadas e complexas quando se apresentavam ao público através da<br />
projeção luminosa. Mas a possibilida<strong>de</strong> do movimento só po<strong>de</strong> chegar à fotografia alguns<br />
anos mais tar<strong>de</strong>, quando a <strong>de</strong>composição do movimento em instantes fotográficos se<br />
tornou possível. Muito embora tenham surgido outros inventos similares, o cinematógrafo<br />
<strong>de</strong> Lumière, se <strong>de</strong>staca nessa conquista pela simplicida<strong>de</strong> e eficiência do mecanismo. Ao<br />
mesmo tempo câmera e projetor, ele po<strong>de</strong> ser manipulado tanto para a produção dos<br />
instantâneos fotográficos que se enfileiram na película, viabilizando assim, a<br />
<strong>de</strong>composição do movimento em várias imagens fixas, quanto para a projeção luminosa<br />
<strong>de</strong>sses vários instantâneos fotográficos, possibilitando, enfim, a aparição da imagem única<br />
e mutável, que passa <strong>de</strong> fotográfica para cinematográfica.<br />
90
Fig. 12<br />
“Projetor e câmera<br />
cronofotográfica<br />
<strong>de</strong> Georges Demeny” (1897)<br />
Fig. 13<br />
“Cinematógrafo <strong>de</strong><br />
Auguste e<br />
Louis Lumière”<br />
91
A maioria dos inventos anteriores <strong>de</strong>saparece com o passar dos anos. O<br />
cinematógrafo, contudo, não só permaneceu atual ao longo <strong>de</strong> todo o século XIX, como<br />
ganhou <strong>de</strong>staque no contexto das imagens. A imagem que ele viabiliza ganhou<br />
complexida<strong>de</strong> nas estruturas formais. O <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma linguagem própria a sua<br />
natureza narrativa explora suas potencialida<strong>de</strong>s, confirmando, assim, a peculiarida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa<br />
imagem: sua aparente simplicida<strong>de</strong>, combinada a uma complexida<strong>de</strong> interna única. Nela,<br />
encontramos a conciliação <strong>de</strong> um espaço configurado em perspectiva com a possibilida<strong>de</strong><br />
do movimento, o vínculo da imagem com o real que lhe <strong>de</strong>u origem em acordo com a<br />
exploração da imaginação do público, o convite, enfim, ao <strong>de</strong>vaneio.<br />
Na passagem do fotográfico para o cinematográfico, algo <strong>de</strong> novo acontece. O<br />
movimento aparente, agregado à imagem fotográfica, dá origem a uma nova imagem. Tal<br />
como a imagem fotográfica, essa nova imagem continua a se configurar em perspectiva,<br />
gerando uma noção <strong>de</strong> espaço homogêneo e infinito na representação e que, no entanto,<br />
hierarquiza-se a partir <strong>de</strong> um ponto <strong>de</strong> vista i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> um suposto sujeito a olhar a cena. Os<br />
processos óticos que ocorrem na câmera cinematográfica garantem, portanto, a<br />
manutenção <strong>de</strong>sse modo <strong>de</strong> configuração da imagem. Contudo, se a parte visível da nova<br />
imagem, produzida com a utilização da câmera, continua a apresentar uma configuração<br />
espacial similar àquela outra imagem, a fotográfica, no momento <strong>de</strong> projeção, os intervalos<br />
entre cada uma <strong>de</strong>ssas imagens fixas darão origem a uma noção <strong>de</strong> tempo completamente<br />
nova. Já nos instantâneos fotográficos, o processo químico responsável pela inscrição da<br />
imagem na película <strong>de</strong>terminava a expressão <strong>de</strong> uma nova noção <strong>de</strong> tempo na imagem; o<br />
noema isso foi <strong>de</strong> Barthes (1984). Mas nesta outra imagem mutável – a imagem<br />
cinematográfica – o tempo adquire uma nova expressivida<strong>de</strong>. Algo novo surge com ela,<br />
nos intervalos do visível. A expressão do invisível, do indizível.<br />
No que tange a técnica <strong>de</strong> produção da imagem, o projetor insinua-se, portanto,<br />
como o instrumento capaz <strong>de</strong> diferenciar a imagem cinematográfica da fotográfica. É ele<br />
quem lhe confere a possibilida<strong>de</strong> do movimento, através <strong>de</strong> processos mecânicos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>slocamentos da película, on<strong>de</strong> se encontram inscritos os instantâneos fotográficos, e sua<br />
projeção luminosa a intervalos constantes. Ele promove uma espécie <strong>de</strong> alternância entre a<br />
aparição e o <strong>de</strong>saparecimento da imagem fixa, a iluminação e o escurecimento da tela, o<br />
movimento da película e a imobilida<strong>de</strong> da imagem que surge luminosa na tela. Uma<br />
92
alternância que não é percebida pelo público como tal, mas cuja atuação viabiliza a<br />
aparição <strong>de</strong> uma única imagem luminosa e mutável em uma continuida<strong>de</strong> plena.<br />
O movimento que surge com a imagem cinematográfica não é, portanto, um<br />
simples efeito visual promovido pela síntese <strong>de</strong> várias imagens fixas. No cinema, há, na<br />
verda<strong>de</strong>, uma espécie <strong>de</strong> encontro entre o visível e o invisível, entre a presença e a ausência<br />
<strong>de</strong> imagem. É <strong>de</strong>sse encontro que surge a imagem móvel. No visível, o fotográfico garante<br />
o vínculo da imagem com o real que lhe <strong>de</strong>u origem, ao mesmo tempo em que preserva<br />
nela um tipo <strong>de</strong> codificação visual <strong>de</strong> origem renascentista. No invisível, algo emerge e<br />
vem ao encontro do visível, viabilizando a aparição da imagem cinematográfica.<br />
Po<strong>de</strong>-se inferir, nesse sentido, que a câmera possibilita a produção da parte visível<br />
da imagem cinematográfica, sua materialida<strong>de</strong>; e cujo processo químico <strong>de</strong> produção<br />
confere a ela um vínculo como real. O projetor, por outro lado, viabiliza o encontro entre o<br />
visível e o invisível, possibilitando, então, a aparição da imagem cinematográfica.<br />
Na verda<strong>de</strong>, a imagem cinematográfica não surge da soma entre os vários<br />
instantâneos fotográficos que se projetam em sucessão. Não é o encontro entre esses<br />
instantâneos visíveis o que promove a aparição da imagem cinematográfica; o encontro<br />
entre os fotogramas. Mas o encontro entre o visível e o invisível, entre os fotogramas e o<br />
intervalo. A materialida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa imagem é complementada por algo que não é material,<br />
que transcen<strong>de</strong>, portanto, o dispositivo técnico. É esse encontro que parece sustentar a<br />
ambigüida<strong>de</strong> da imagem sobre a qual havíamos comentado. Um encontro entre os<br />
fotogramas, os quais remetem ao real, e os intervalos do visível, que remetem à memória<br />
do espectador. São duas instâncias que não se confun<strong>de</strong>m, apesar <strong>de</strong> estarem imbricados na<br />
imagem cinematográfica.<br />
Até então, priorizamos em nossas reflexões a parte visível <strong>de</strong>ssa imagem. Mas o<br />
que vem a ser essa dimensão invisível que possibilita sua aparição? Como <strong>de</strong>finir esse<br />
encontro entre o visível e o invisível? Para compreen<strong>de</strong>r melhor como se dá a aparição da<br />
imagem cinematográfica, propomos, enfim, um cruzamento <strong>de</strong> nossas idéias com a tese do<br />
filósofo Henri Bergson sobre a matéria e a memória. É o que faremos a seguir.<br />
93
2. 2. Na imagem cinematográfica, o encontro entre o real e o virtual<br />
Em Matière et mémoire – obra divulgada pela primeira vez em 1897 – o filósofo<br />
Henri Bergson (1859-1941) parte <strong>de</strong> um pensamento dualista para <strong>de</strong>monstrar a realida<strong>de</strong><br />
tanto da matéria quanto do espírito. Na evolução <strong>de</strong> sua dissertação, propõe uma revisão do<br />
realismo, no qual se <strong>de</strong>staca o pensamento <strong>de</strong> Descartes, e do i<strong>de</strong>alismo, don<strong>de</strong> sobressai<br />
Berkeley. Ele contrasta essas duas gran<strong>de</strong>s vias do pensamento filosófico, em busca <strong>de</strong><br />
uma nova tese capaz <strong>de</strong> dar conta <strong>de</strong> ambas as realida<strong>de</strong>s.<br />
Para isso, ele <strong>de</strong>senvolve uma extensa pesquisa sobre a percepção exterior e o papel<br />
da memória em sua manifestação à consciência na forma <strong>de</strong> representações. Através <strong>de</strong><br />
uma extensa revisão crítica do trabalho <strong>de</strong> vários cientistas associacionistas que se<br />
<strong>de</strong>bruçaram diante da questão da percepção exterior e do fenômeno da formação <strong>de</strong><br />
representações pela consciência – como Ribot, Lichtheim, Adler, Kussmaul, P. Janet,<br />
<strong>de</strong>ntre outros – o filósofo se propõe a confrontar tais idéias com o intuito <strong>de</strong> reformular tais<br />
teorias por meio <strong>de</strong> um raciocínio ao mesmo tempo rigoroso e intuitivo.<br />
Ao longo <strong>de</strong> sua obra, ele <strong>de</strong>monstra que a percepção é único modo <strong>de</strong> acesso da<br />
consciência ao mundo material. Ela seria, segundo suas observações, um momento<br />
intermediário entre a ação do mundo material sobre o corpo vivo e a reação <strong>de</strong>ste sobre o<br />
primeiro. A ação é assim, para o filósofo, o objetivo principal da percepção consciente.<br />
Mas, como ele mesmo <strong>de</strong>monstra, algo se produz no contato do ser vivo com o universo da<br />
matéria. Algo que está embrenhado no esforço <strong>de</strong> percepção consciente da matéria, mas<br />
que, segundo Bergson, não se confun<strong>de</strong> com ela. O que surge <strong>de</strong> novo, ao longo do<br />
processo <strong>de</strong> percepção exterior, para o filósofo, são, na verda<strong>de</strong>, “estados afetivos”. São<br />
estes que irão formar uma outra realida<strong>de</strong>: a memória. O reconhecimento <strong>de</strong>sta como uma<br />
realida<strong>de</strong> distinta da matéria e atuante no processo <strong>de</strong> percepção consciente e formação <strong>de</strong><br />
representações aponta, portanto, para a tese principal do filósofo.<br />
Vejamos, então, quais são os principais conceitos formulados pelo filósofo e como<br />
eles po<strong>de</strong>m colaborar com a reflexão sobre a imagem cinematográfica.<br />
94
Real e virtual: dois planos distintos <strong>de</strong> realida<strong>de</strong><br />
Segundo a tese <strong>de</strong> Bergson, a memória não está localizada no cérebro, como<br />
querem os cientistas; ela não se confun<strong>de</strong> com a matéria. Na verda<strong>de</strong>, ela está fora da<br />
realida<strong>de</strong> material. É, portanto, virtual. Costumamos <strong>de</strong>finir aquilo que está <strong>de</strong>ntro e aquilo<br />
que está fora tendo como referência nosso corpo. Mas a memória que Bergson <strong>de</strong>fine como<br />
uma realida<strong>de</strong> virtual não está nem <strong>de</strong>ntro nem fora do corpo, porque ambas as<br />
localizações fariam parte ainda da mesma realida<strong>de</strong> material, e sujeitar-se-iam às mesmas<br />
leis. Portanto, quando se afirma que a memória encontra-se “fora” da realida<strong>de</strong> material,<br />
esse “fora” já não po<strong>de</strong> mais ser associado a noções <strong>de</strong> interiorida<strong>de</strong> nem <strong>de</strong> exteriorida<strong>de</strong>.<br />
Ele não remete às noções espaciais próprias à matéria. Caso assim procedêssemos,<br />
estaríamos inserindo a memória no universo da matéria. Don<strong>de</strong> se conclui que ela se<br />
constitui como uma realida<strong>de</strong> distinta, <strong>de</strong> outra natureza: uma realida<strong>de</strong> virtual.<br />
Mas se ela está “fora” do espaço físico, como po<strong>de</strong>ria ela atingir a matéria? Sendo<br />
ela virtual, esse encontro não po<strong>de</strong> se dar na matéria. Segundo Bergson, ele se dá na<br />
consciência. Seguindo o pensamento do filósofo, po<strong>de</strong>mos inferir que a consciência surge<br />
<strong>de</strong>sse encontro, ao mesmo tempo em que o promove. Pela consciência, percebemos a<br />
matéria, distinguimos a imagem <strong>de</strong> vários corpos no espaço; <strong>de</strong>ntre eles o nosso.<br />
Percebemos também a mudança, o <strong>de</strong>vir temporal. E essa percepção consciente do mundo<br />
físico implica já em uma interferência da memória. A percepção do mundo físico está,<br />
portanto, já comprometida com a participação inevitável e necessária da memória.<br />
E o que é a memória? O que é essa realida<strong>de</strong> virtual? Bergson a <strong>de</strong>fine como o<br />
passado; aquilo que a psicologia <strong>de</strong>fine como o inconsciente. E se esse passado está fora da<br />
realida<strong>de</strong> material, ele não se confun<strong>de</strong> com o tempo físico. O passado, para Bergson, é<br />
algo virtual que só se atualiza na consciência, por meio <strong>de</strong> alguma associação “caprichosa”<br />
(Bergson, 1990, p. 120) com a percepção consciente. O passado <strong>de</strong>finido por Bergson está<br />
fora do tempo e do espaço físicos. Como dissemos linhas atrás, ao atualizar-se na<br />
consciência e interferir na percepção do universo material que nos alcança, ele altera a<br />
representação que construímos para nós <strong>de</strong>sse universo, ao mesmo tempo em que também<br />
ele, o passado, atualiza-se nessa representação. O passado <strong>de</strong>finido por Bergson como<br />
memória não se confun<strong>de</strong>, portanto, com o tempo físico da matéria.<br />
95
No processo <strong>de</strong> percepção da matéria, a consciência está sempre diante do presente.<br />
O tempo físico que rege a matéria apresenta-se à percepção consciente enquanto um tempo<br />
presente. Todavia, segundo a tese <strong>de</strong> Bergson, po<strong>de</strong>mos inferir que, sem a participação da<br />
memória no processo <strong>de</strong> percepção do mundo, este se tornaria irrepresentável. O presente<br />
puro, nesse sentido, é irrepresentável. Ele po<strong>de</strong> atingir o corpo vivo em infinitas direções,<br />
mas este será incapaz <strong>de</strong> formular qualquer representação <strong>de</strong>le enquanto um tempo puro,<br />
enquanto puro presente. E sem representação, o corpo não po<strong>de</strong> agir. 47 É pela produção <strong>de</strong><br />
representações do mundo, portanto, que o ser vivo torna possível sua ação. Mas essas<br />
representações já não apresentam apenas imagens do mundo físico. Elas estão misturadas a<br />
outras imagens oriundas da memória. Na verda<strong>de</strong>, é a intervenção da memória no processo<br />
<strong>de</strong> percepção consciente do universo material que viabiliza sua representação . Por outro<br />
lado, é graças à representação que ela se atualiza no presente. Po<strong>de</strong>mos, então, concluir que<br />
é na percepção consciente que o presente se fun<strong>de</strong> e confun<strong>de</strong> com o passado. E, se o<br />
presente remete ao universo da matéria, enquanto que o passado, à memória, então, a<br />
representação é já resultante do encontro <strong>de</strong> ambos.<br />
Ora, o dispositivo cinematográfico se fundamenta justamente nesse encontro. Como<br />
pu<strong>de</strong>mos observar, ao acompanhar o pensamento <strong>de</strong> Bergson, a memória não é um<br />
armazém <strong>de</strong> representações esquecidas, alocadas em algum lugar do cérebro. Ela não tem<br />
materialida<strong>de</strong>. É virtual. Está fora do corpo. Ela é o passado <strong>de</strong>sconhecido pelo ser. Mas<br />
um passado que não se confun<strong>de</strong> com o tempo físico. Pois, como vimos, o tempo físico é o<br />
presente puro. O passado pertence já a uma outra realida<strong>de</strong>. São duas dimensões diferentes<br />
que se encontram e se tocam no processo <strong>de</strong> percepção consciente e que se fun<strong>de</strong>m na<br />
produção <strong>de</strong> representações. Nesse sentido, po<strong>de</strong>-se inferir que o dispositivo<br />
47 Po<strong>de</strong>ríamos, então, arriscar uma comparação <strong>de</strong>ssa situação i<strong>de</strong>alizada com aquela que reconhecemos nas<br />
rochas, nos minerais, passivos como o são à ação do mundo físico. Diferentes dos minerais, os seres vivos<br />
possuem a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> representar-se a si mesmos e ao mundo ao redor <strong>de</strong> seu corpo, e, graças à<br />
representação que constroem do mundo, eles po<strong>de</strong>m agir. Haveria, portanto, uma tensão no corpo vivo que o<br />
impulsionaria criar mecanismos capazes <strong>de</strong> viabilizar a ação sobre o mundo físico que o atinge<br />
incessantemente. Somos levados, portanto, a comparar essa tendência natural do corpo vivo à ação como um<br />
modo <strong>de</strong> resistir ao <strong>de</strong>sgaste natural da matéria. Em outras palavras, essa reação do corpo às imagens que o<br />
atingem – movimentos da matéria sobre a matéria – po<strong>de</strong> ser compreendida como uma luta do corpo contra a<br />
finitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> sua integrida<strong>de</strong> física, contra sua <strong>de</strong>sagregação enquanto uma unida<strong>de</strong> viva e relativamente<br />
autônoma; ou seja, uma luta contra a morte inevitável. Esse esforço que levaria o corpo vivo à representação<br />
seria, nesse sentido, antes <strong>de</strong> tudo, manifestação do <strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> viver, ou sobreviver à morte. Por outro lado, a<br />
força capaz <strong>de</strong> impulsioná-lo a produzir mecanismos capazes <strong>de</strong> permitir-lhe engendrar uma ação possível<br />
sobre o universo viria <strong>de</strong>sses estado afetivos gerados no contato do corpo vivo com o mundo; ou seja, essa<br />
situação traumática do ser diante <strong>de</strong> um mundo absolutamente inapreensível e, no entanto, atuante sobre ele.<br />
Em última instância, essa força viria da memória, dos afetos, da dor <strong>de</strong> sentir a ação do mundo sobre si<br />
mesmo sem que se possa reagir a ele. Uma dor não conhecida, pois tudo se passa, então, em um nível anterior<br />
a qualquer percepção consciente.<br />
96
cinematográfico fundamenta-se no encontro entre o real e o virtual. Não é, portanto, a<br />
soma <strong>de</strong> vários fotogramas projetados na tela que possibilita o surgimento da imagem<br />
cinematográfica, mas o encontro entre o passado, virtual, imóvel, e o presente, real, móvel.<br />
Na verda<strong>de</strong>, ela é já uma representação, um fato psíquico: resulta <strong>de</strong> movimentos da<br />
matéria que foram manipulados pelo dispositivo técnico e que, ao atingirem nosso corpo,<br />
foram absorvidos como estímulos visuais e re-elaborados pelo pensamento com o<br />
acionamento da memória a fim <strong>de</strong> serem restituídos ao movimento enquanto uma ação<br />
convertida em representação. Veremos, contudo que tal afirmação, que nos parece<br />
relativamente simples em um primeiro momento, apresentar-se-á com nuances bem mais<br />
sutis e nem um pouco óbvias. Detenhamo-nos, então, um pouco mais diante da questão.<br />
97
Imagens da matéria<br />
Neste ponto do nosso trabalho faz-se premente esclarecer que aquilo que Bergson<br />
chama <strong>de</strong> imagem não se confun<strong>de</strong> com a noção <strong>de</strong> representação. A imagem, segundo<br />
Bergson, não <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da consciência. Não se fixa nela. E quando se fixa, já não é mais<br />
imagem. Enquanto imagem, ela é movimento. Um conceito não se confun<strong>de</strong> com o outro.<br />
Depreen<strong>de</strong>-se então que aquilo que costumamos chamar <strong>de</strong> imagem mental é <strong>de</strong>finido por<br />
Bergson como representação, ou seja, aquilo que se manifesta na consciência. É a<br />
elaboração <strong>de</strong> algumas imagens da matéria que dá origem à representação. Infinitas<br />
imagens da matéria po<strong>de</strong>m surgir em nosso corpo sem que cheguemos a ter consciência<br />
<strong>de</strong>las. Elas se atualizam em um tempo presente que, <strong>de</strong> fato, é real, mas que, para nós, só<br />
existe <strong>de</strong> direito. 48 Elas nos atravessam, mas estão aquém e além da representação<br />
consciente.<br />
Segundo a tese do filósofo, as imagens refletem os movimentos da matéria, visto<br />
que, na verda<strong>de</strong>, “os movimentos da matéria são muito claros enquanto imagens, e não há<br />
como buscar no movimento outra coisa além daquilo que se vê.” (Bergson, 1990, p. 14)<br />
Quando Bergson comenta sobre algo “que se vê”, refere-se, na verda<strong>de</strong>, àqueles<br />
movimentos que, ao atravessarem o corpo vivo, <strong>de</strong>ixam, <strong>de</strong> algum modo, impressões sobre<br />
o sistema perceptivo; vestígios <strong>de</strong> sua passagem que serão transformados em imagens pela<br />
percepção. As imagens são, portanto, esses estímulos transmitidos pelo movimento da<br />
matéria ao sistema nervoso do organismo vivo.<br />
As imagens, para Bergson, pertencem, portanto, à realida<strong>de</strong> da matéria. É a matéria<br />
agindo sobre a matéria. A matéria em movimento. Como tal, as imagens seguem as leis da<br />
48 O filósofo <strong>de</strong>screve uma situação i<strong>de</strong>al na qual a percepção pura – ou seja, livre <strong>de</strong> qualquer influência da<br />
memória – elaboraria essas imagens pelo sistema nervoso do organismo. “A verda<strong>de</strong> é que meu sistema<br />
nervoso, interposto entre os objetos que estimulam meu corpo e aqueles que eu po<strong>de</strong>ria influenciar,<br />
<strong>de</strong>sempenha o papel <strong>de</strong> um simples condutor, que transmite, distribui ou inibe movimento.” (Bergson, 1990)<br />
A percepção pura funcionaria, assim, como uma espécie <strong>de</strong> fase do movimento que atravessa o corpo. Nela, o<br />
movimento se transforma em imagem para o corpo atingido. E, por meio <strong>de</strong>la, ele voltará a ser movimento.<br />
Um movimento que se traduz para o corpo como uma reação ao movimento original. Em última instância,<br />
Bergson <strong>de</strong>fine a percepção como uma ação iminente, uma ação em estágio <strong>de</strong> ser executada pelo corpo. Em<br />
organismos mais sofisticados essa reação leva o corpo a <strong>de</strong>slocar-se no espaço. Entre o plano das imagens e o<br />
plano da percepção pura, haveria, então, apenas uma diferença <strong>de</strong> grau, mas não <strong>de</strong> natureza. E ambas<br />
visariam, <strong>de</strong> um modo ou <strong>de</strong> outro, a reação do corpo vivo aos movimentos da matéria que o atravessam.<br />
Bergson dissocia a percepção pura – que segundo ele, só existe <strong>de</strong> direito, mas não <strong>de</strong> fato – da<br />
representação, afirmando que a primeira, em tese, po<strong>de</strong> ocorrer in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do fato <strong>de</strong> haver consciência ou<br />
não no organismo vivo.<br />
98
natureza, on<strong>de</strong> o passado e o futuro não existem <strong>de</strong> fato. O que existe, na verda<strong>de</strong>, é o<br />
presente puro, a matéria em seu eterno <strong>de</strong>vir. Na realida<strong>de</strong> da matéria, o futuro não é o<br />
novo, mas a <strong>de</strong>corrência natural da lei que a rege: a mudança, a transformação. Seu tempo,<br />
ao fim, como no início, é o presente. Sem fim e sem início. 49<br />
Nesse contexto, aquilo que chamamos <strong>de</strong> imagem cinematográfica é já uma<br />
representação, à medida que só existe como tal para um público que a percebe pela<br />
consciência. A materialida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa imagem, por outro lado, ou seja, os estímulos<br />
luminosos que atingem o público disponibilizado no interior da sala escura, eles se<br />
originam, na verda<strong>de</strong>, daquilo que Bergson <strong>de</strong>fine como imagens da matéria em<br />
movimento. São esses estímulos visuais que darão origem à imagem cinematográfica.<br />
Todo o trabalho <strong>de</strong> manipulação do dispositivo técnico – a administração dos processos<br />
óticos, químicos e mecânicos da câmera e do projetor pelo produtor da imagem<br />
cinematográfica – visa, na verda<strong>de</strong>, interferir nesses estímulos visuais, <strong>de</strong>finir-lhes<br />
configurações particulares, com o objetivo <strong>de</strong> fazer com que as imagens que chegam ao<br />
público apresentem <strong>de</strong>terminadas características. A intervenção do produtor da imagem na<br />
formulação da imagem cinematográfica inci<strong>de</strong>, portanto, no nível da matéria, nos seus<br />
arranjos. É uma intervenção que visa dar direções precisas, portanto, no <strong>de</strong>vir da matéria,<br />
no seu movimento, com o intuito <strong>de</strong> traçar direções precisas para o processo <strong>de</strong> percepção<br />
consciente responsável pela aparição da imagem cinematográfica. São essas intervenções<br />
que irão traçar as diretrizes básicas para a futura representação que o público irá formular<br />
ao entrar em contato com essa matéria trabalhada pelo dispositivo cinematográfico. O<br />
público, por outro lado, participa <strong>de</strong> uma outra maneira do processo <strong>de</strong> percepção <strong>de</strong>ssas<br />
imagens, formulando representações. Analisaremos, a seguir, o seu modo <strong>de</strong> participação.<br />
Prossigamos, então, nos conceitos <strong>de</strong>senvolvidos por Bergson.<br />
49 “Todas essas imagens agem e reagem umas sobre as outras em todas as suas partes elementares segundo<br />
leis constantes, que chamo <strong>de</strong> leis da natureza, e, como a ciência perfeita <strong>de</strong>ssas leis permitiria certamente<br />
calcular e prever o que se passará em cada uma <strong>de</strong> tais imagens, o futuro das imagens <strong>de</strong>ve estar contido em<br />
seu presente e a elas nada acrescentar <strong>de</strong> novo.” (Bergson, 1990, p.10)<br />
99
Imagens da memória<br />
Afirmávamos então que as imagens da realida<strong>de</strong> material surgem dos movimentos<br />
que atravessam incessantemente o corpo vivo no presente; tempo real da matéria. Mas os<br />
vestígios dos movimentos não se transformam somente em imagens. No corpo vivo, algo<br />
se produz a partir <strong>de</strong>sses movimentos que não é imagem. Algo que não chega à percepção,<br />
que não atinge a consciência, mas que, <strong>de</strong> algum modo, passa a pertencer àquele corpo.<br />
São “estados afetivos”, como <strong>de</strong>fine Bergson. Eles não possuem materialida<strong>de</strong>, estão fora<br />
do tempo real, mas têm data e local <strong>de</strong> origem. Estão fora da consciência, fora da<br />
percepção, fora mesmo da realida<strong>de</strong> da matéria. É a sensação que o estímulo provocado<br />
por um movimento da matéria <strong>de</strong>ixou no corpo vivo. É a dor que não foi sentida – em<br />
outros termos, representada –, que não chegou à consciência, mas nem por isso <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong><br />
se constituir ali, naquele exato momento em que o corpo vibrou com o movimento que o<br />
atravessou. São estados afetivos gerados no corpo pelos movimentos da matéria que os<br />
atingiram em forma <strong>de</strong> estímulos nervosos. Eles surgem ali, ficam localizadas em alguma<br />
parte do corpo, fixam-se em um ponto in<strong>de</strong>finido, e passam a constituir, então, um<br />
universo à parte, imaterial e imóvel. Um universo virtual: a memória, o inconsciente. 50<br />
Aquilo que atravessou o corpo, <strong>de</strong>ixou marcas invisíveis, imateriais, e que o consciente não<br />
conhece. Mas a memória tem a chance <strong>de</strong> se transformar em imagens, <strong>de</strong> ganhar algum<br />
nível <strong>de</strong> materialida<strong>de</strong> e surgir perante a consciência: basta, para isso, que alguma nova<br />
imagem oriunda do presente associe-se a ela. Quando os estados afetivos oriundos da<br />
memória cruzam-se às imagens do presente, surge o que Bergson <strong>de</strong>fine como percepção<br />
consciente, ou representação.<br />
A percepção consciente, <strong>de</strong>sse modo, já não é, <strong>de</strong> fato, percepção pura, mas<br />
lembrança do passado estimulada por imagens do presente. É o afeto que se junta às<br />
imagens da matéria. O algo a mais que dá cor (afetiva) ao mundo físico. A hipótese <strong>de</strong> um<br />
processo <strong>de</strong> percepção <strong>de</strong>ssas imagens oriundas do mundo exterior sem a intervenção da<br />
memória equivaleria, portanto, a uma espécie <strong>de</strong> percepção pura do presente. A lembrança<br />
dos estados afetivos sem a intervenção das imagens do presente, por outro lado,<br />
equivaleriam a uma espécie <strong>de</strong> percepção pura da memória, do passado – aquilo que<br />
50 Essa memória, na verda<strong>de</strong>, é fruto da vivência do ser vivo. Faz parte <strong>de</strong> uma história pessoal que não é<br />
conhecida pela consciência, a não ser que se aproxime e se associe a outras imagens do presente na produção<br />
<strong>de</strong> representações, quando então ela adquire a chance <strong>de</strong> se manifestar. Mesmo assim, isto só se dá às custas<br />
<strong>de</strong> uma mistura entre a memória e o presente, pois a memória pura é tão inacessível à consciência quanto o<br />
presente puro da matéria.<br />
100
Bergson chama <strong>de</strong> “afecção”. Contudo, o que, <strong>de</strong> fato, a percepção consciente promove é o<br />
cruzamento entre a percepção pura da realida<strong>de</strong> material e percepção pura dos estados<br />
afetivos que ficaram imobilizados na memória <strong>de</strong>sse corpo vivo. É por isso que Bergson<br />
afirma que, na verda<strong>de</strong>, não há percepção sem afecção. Ou seja, não há, no corpo vivo, a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> percepção exterior sem que haja a interferência <strong>de</strong> estados afetivos que<br />
emergem da memória virtual do corpo vivo.<br />
“(...) é preciso levar em conta que perceber acaba não sendo mais do que uma<br />
ocasião <strong>de</strong> lembrar, que na prática medimos o grau <strong>de</strong> realida<strong>de</strong> com o grau<br />
<strong>de</strong> utilida<strong>de</strong>,que temos todo o interesse, enfim, em erigir em simples signos<br />
do real essas intuições imediatas que coinci<strong>de</strong>m no fundo com a própria<br />
realida<strong>de</strong>.” (Bergson, 1990, p. 49)<br />
Nesse sentido, no que diz respeito ao dispositivo cinematográfico, os estímulos<br />
luminosos que chegam ao público não po<strong>de</strong>m dar origem à imagem cinematográfica a não<br />
ser que se misturem aos estados afetivos, ou afecções, oriundos da memória <strong>de</strong> cada um.<br />
Para que a imagem cinematográfica surja enquanto uma representação, faz-se necessário,<br />
portanto, que se estabeleça esse encontro entre as imagens do presente, que emanam do<br />
dispositivo cinematográfico, e as afecções emergentes do inconsciente. Os estados afetivos<br />
que emergem em cada espectador são fundamentais para a aparição da imagem<br />
cinematográfica. Aquilo que todos os espectadores comungam são os estímulos visuais que<br />
foram articulados previamente pelos produtores da imagem antes <strong>de</strong> surgirem ali na sala<br />
escura: a materialida<strong>de</strong> da imagem. Eles fazem parte, na verda<strong>de</strong>, do universo da matéria.<br />
Pertencem ao presente. O passado que cada um irá agregar a essas impressões sensoriais,<br />
por outro lado, é diferente e único. Tal fato nos leva a concluir que a imagem<br />
cinematográfica que cada um vai produzir em cada consciência possui alguns traços que<br />
são comungados por todos, e outros que só pertencem àquela representação em particular.<br />
Nesse sentido, uma única película serve <strong>de</strong> base para a formulação <strong>de</strong> infinitas imagens<br />
cinematográficas que se assemelham, mas que não coinci<strong>de</strong>m completamente. Pois cada<br />
espectador participa <strong>de</strong> sua formulação com seu passado, com sua memória, <strong>de</strong> uma<br />
maneira única, singular.<br />
Po<strong>de</strong>-se fazer objeção ao que acabamos <strong>de</strong> afirmar, observando-se que essa<br />
imbricação entre os estímulos sensoriais oferecidos pela materialida<strong>de</strong> da imagem e os<br />
estados afetivos que cada um traz consigo, na verda<strong>de</strong>, é necessária para toda<br />
representação. De fato, seja no caso <strong>de</strong> um signo que possui uma materialida<strong>de</strong> externa ao<br />
corpo vivo – cuja forma significante está, portanto, inscrita em um suporte material<br />
101
qualquer – , seja no caso <strong>de</strong> uma representação mental formulada pelo ser consciente –<br />
como a percepção consciente, a lembrança <strong>de</strong> um fato passado, ou uma idéia abstrata, por<br />
exemplo – , sempre haverá essa combinação entre as imagens do presente e os estados<br />
afetivos inconscientes, mesmo que a intensida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma, ou <strong>de</strong> outra, varie. Não seria,<br />
portanto, um privilégio da imagem cinematográfica a promoção <strong>de</strong>sse encontro entre real e<br />
virtual.<br />
Contudo, o que estamos tentando salientar na imagem cinematográfica diz respeito<br />
a algo mais preciso. O que nos interessa tornar eloqüente é que no próprio modo <strong>de</strong><br />
constituição da imagem cinematográfica, em sua aparição como uma imagem mutável, há<br />
uma articulação entre o real e o virtual que se estabelece <strong>de</strong> uma maneira muito peculiar.<br />
Havíamos observado que, para que a imagem cinematográfica surja, é necessária a<br />
projeção luminosa <strong>de</strong> várias imagens fixas, uma a uma, as quais <strong>de</strong>saparecem logo após<br />
terem surgido, <strong>de</strong>ixando a tela vazia, abandonando o publico à escuridão da sala escura,<br />
enquanto não é projetada uma outra imagem fixa, a qual geralmente possui pequenas<br />
diferenças visuais em relação à anterior, sugerindo, assim, uma continuida<strong>de</strong> entre ambas.<br />
Essas imagens fixas não permanecem por muito tempo na tela. Na verda<strong>de</strong>, o tempo<br />
disponível para a percepção <strong>de</strong>sses estímulos luminosos por parte do público é tão tênue<br />
que não lhes permite serem contemplados do mesmo modo que o seria uma fotografia, ou<br />
uma pintura, por exemplo, cuja permanência diante do olhar ten<strong>de</strong> a ser bem maior. 51 O<br />
rápido <strong>de</strong>saparecimento dos instantâneos fotográficos que dão origem à imagem<br />
cinematográfica, permite, portanto, que eles logo <strong>de</strong>ixem <strong>de</strong> ser imagens do presente para<br />
se transformarem em imagens do passado, incorporando-se já à memória do público. 52 Por<br />
outro lado, a velocida<strong>de</strong> com que eles surgem e logo <strong>de</strong>saparecem não permite ao público<br />
percebê-los em todas as suas nuances, explorá-los com seu olhar, o que, por outro lado, o<br />
leva a estimular a memória como um mecanismo capaz <strong>de</strong> lhes fornecer imagens do<br />
passado que lhes sirvam como complemento. A participação da memória na constituição<br />
da imagem cinematográfica é ainda mais acentuada quando essas imagens são substituídas<br />
por intervalos que <strong>de</strong>ixam o público na escuridão, na ausência, portanto, <strong>de</strong> imagens do<br />
51 “Não somente a foto jamais é, em essência, uma lembrança (cuja expressão gramatical seria o perfeito, ao<br />
passo que o tempo da foto é antes o aoristo), mas também ela a bloqueia, torna-se rapidamente uma contralembrança.”<br />
(Barthes, 1984, p. 136)<br />
52 “Às vezes acontece <strong>de</strong> eu po<strong>de</strong>r conhecer melhor uma foto <strong>de</strong> que me lembro do que uma foto que vejo,<br />
como se a visão direta orientasse equivocadamente a linguagem, envolvendo-a em um esforço <strong>de</strong> <strong>de</strong>scrição<br />
que sempre <strong>de</strong>ixará <strong>de</strong> atingir o ponto <strong>de</strong> efeito, o punctum.” (Barthes, 1984, p. 83)<br />
102
presente, <strong>de</strong> estímulos visuais. Esses intervalos dos estímulos luminosos oferecem ao<br />
público alguns instantes <strong>de</strong> silêncio que, por ínfimos que sejam, possibilitam-lhe divagar<br />
pela memória, vivenciar estados afetivos que emergem do passado. 53 Essa alternância entre<br />
o visível e o invisível ten<strong>de</strong>, portanto, a dinamizar a memória do público. Po<strong>de</strong>-se dizer<br />
então que o cinema é uma arte da lembrança, uma arte do inconsciente.<br />
São imagens do passado que se aproximam e se unem aos estímulos sensoriais mais<br />
recentes. Mas elas não se restringem àquelas geradas pelos estímulos sensoriais<br />
trabalhados anteriormente. Não é apenas o passado recente juntando-se a um passado mais<br />
recente ainda, em torno <strong>de</strong> algo porvir a se tornar passado. Muito além disso, o que<br />
também vem ao encontro dos estímulos sensoriais do presente são imagens <strong>de</strong> um passado<br />
mais remoto. São afetos esquecidos, ou mesmo ainda não conhecidos, porque nunca<br />
atualizados em representações, que vem ao encontro do <strong>de</strong>vir da matéria, aproximam-se da<br />
duração e se atualizam nas representações. Eles se mesclam às impressões sensoriais. A<br />
imagem cinematográfica, como tal, não é apenas uma síntese <strong>de</strong> estímulos sensoriais<br />
<strong>de</strong>scontínuos que se operam no corpo vivo, mas uma junção entre esses estímulos<br />
sensoriais do presente, transformados já em passado recente, com afetos antigos que<br />
estavam guardados na memória do ser. De on<strong>de</strong> se <strong>de</strong>preen<strong>de</strong> que toda a imagem<br />
cinematográfica possui algum grau <strong>de</strong> investimento afetivo daquele que a configura, o<br />
público. É uma imagem ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, visto que origina da<br />
percepção exterior <strong>de</strong> estímulos visuais, mas só se configura como tal com a atualização<br />
parcial da memória, das afecções. Essa atualização dos afetos remotos po<strong>de</strong> ser negada, ou<br />
mesmo minimizada, mas não <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ocorrer. Ela é condição essencial para a aparição da<br />
imagem mutável.<br />
Eis que estamos, mais uma vez, diante da ambigüida<strong>de</strong> que tanto nos impressiona: a<br />
objetivida<strong>de</strong> dos instantâneos fotográficos, por um lado, e a emergência da memória na<br />
“situação cinematográfica”, por outro. E a objetivida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa imagem não diz respeito<br />
apenas à matéria que age como um estímulo sensorial perante o público – imagens do<br />
presente – , mas ao próprio referente <strong>de</strong>sse estímulo visual, que reconhecemos como algo<br />
que realmente existiu no momento <strong>de</strong> produção da matéria fotográfica. (Barthes, 1984,<br />
passim). Há, portanto, um vínculo entre a matéria fotográfica e uma outra matéria que<br />
53 “A subjetivida<strong>de</strong> absoluta só é atingida em um estado, um esforço <strong>de</strong> silêncio (fechar os olhos é fazer a<br />
imagem falar no silêncio) (...) nada a dizer, fechar os olhos, <strong>de</strong>ixar o <strong>de</strong>talhe remontar sozinho à consciência<br />
afetiva.” (Barthes, 1984, p. 84 et seq.)<br />
103
precisou estar diante do dispositivo para a inscrição da representação, o referente. Um<br />
vínculo que lhe confere uma “objetivida<strong>de</strong> essencial” (Bazin, 1983, passim) Por outro lado,<br />
esse modo particular <strong>de</strong> articulação entre o presente e o passado na “situação<br />
cinematográfica”, o qual prevê uma imbricação entre os estímulos luminosos produzidos<br />
pelo dispositivo e os estados afetivos que emergem no público, a própria imagem do<br />
presente transformando-se já em memória pela velocida<strong>de</strong> com que elas aparecem e<br />
<strong>de</strong>saparecem da tela, todo esse contexto <strong>de</strong> projeção favorece a emergência da memória em<br />
cada espectador, a dinamização do inconsciente, conferindo a essa imagem um alto grau <strong>de</strong><br />
subjetivida<strong>de</strong>.<br />
“[no caso do cinema] Será que no cinema acrescento à imagem? Acho que<br />
não; não tenho tempo: diante da tela, não estou livre para fechar os olhos;<br />
senão, ao reabri-los, não reencontraria a mesma imagem: estou submetido a<br />
uma voracida<strong>de</strong> contínua; Muitas outras qualida<strong>de</strong>s, mas não pensativida<strong>de</strong>,<br />
don<strong>de</strong> o interesse, para mim, do fotográfico” (Barthes, 1984, p. 85, 86)<br />
Na imagem cinematográfica, há “pensativida<strong>de</strong>”. Mas é uma “pensativida<strong>de</strong>” <strong>de</strong><br />
outra natureza. Ela está imbricada no inconsciente. Não nos permite o mesmo tipo <strong>de</strong><br />
reflexão que uma imagem mais permanente; uma reflexão mais consciente. Na “situação<br />
cinematográfica”, o inconsciente é dinamizado, mas <strong>de</strong> maneira tão rápida que os afetos<br />
ficam borbulhando por entre os estímulos luminosos sem que consigam todos chegar à<br />
consciência em forma <strong>de</strong> representação. Tudo é movimento. Tudo é passagem. Esta parece<br />
ser, na verda<strong>de</strong>, a gran<strong>de</strong> riqueza do cinema: sua precarieda<strong>de</strong>. Pois ela é uma<br />
representação que não se fixa, que não sai do movimento, que mantém seu fluxo. Talvez<br />
<strong>de</strong>vêssemos reconhecer, no inconsciente, qualida<strong>de</strong>s que lhes são próprias, distintas,<br />
portanto, das elaborações promovidas pela consciência.<br />
Contudo, essa ativação do inconsciente na “situação cinematográfica” po<strong>de</strong> ser<br />
minimizada por hábitos que <strong>de</strong>senvolvemos ao longo <strong>de</strong> sucessivas repetições nessas<br />
articulações entre o passado e as imagens do presente. A intensida<strong>de</strong> afetiva da imagem<br />
cinematográfica ten<strong>de</strong>, portanto, a se esvaziar em representações que se tornam cada vez<br />
mais conhecidas do público; significantes cujos significados são <strong>de</strong>finidos por hábitos que<br />
o público adquiriu em sucessivas repetições. A memória virtual que cada um traz consigo<br />
ten<strong>de</strong> a ser substituída, neste caso, pela atualização <strong>de</strong> um outro tipo <strong>de</strong> memória que se<br />
origina do hábito. Vejamos, então, o que as distingue, como elas funcionam, e que<br />
implicações elas trazem à imagem cinematográfica.<br />
104
Distinção entre memória e hábito<br />
Segundo Bergson, o passado sobrevive sob duas maneiras distintas: em<br />
mecanismos motores e em lembranças in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes. Nesse sentido, há dos tipos <strong>de</strong><br />
memória: uma memória que se converte em ações aprendidas e repetidas pelo corpo,<br />
hábitos do corpo adaptado para movimentos automáticos, e uma memória virtual do<br />
presente, não conhecida pela consciência e que só eventualmente se converte em<br />
lembrança.<br />
Bergson nos diz que a memória com a qual os psicólogos geralmente trabalham diz<br />
respeito a essa memória articulada pelo hábito, voltada, portanto, para a ação. Nas palavras<br />
do filósofo, “ela é agida, mais que representada”, ou seja, agida mais que pensada. É uma<br />
memória utilitária. Ela exige a aprendizagem do corpo, pela repetição <strong>de</strong> um mesmo<br />
movimento tantas vezes quantas forem necessárias para que ele se realize<br />
automaticamente. Uma memória que se converte em mecanismos motores. Bergson a<br />
<strong>de</strong>screve:<br />
“Como hábito, ela é adquirida pela repetição <strong>de</strong> um mesmo esforço. Como<br />
hábito, ela exigiu inicialmente a <strong>de</strong>composição, e <strong>de</strong>pois a recomposição da<br />
ação total. Como todo exercício habitual do corpo, enfim, ela armazenou-se<br />
num mecanismo que estimula por inteiro um impulso inicial, num sistema<br />
fechado <strong>de</strong> movimentos que se suce<strong>de</strong>m na mesma or<strong>de</strong>m e ocupam o<br />
mesmo tempo.” (Bergson, 1990, p. 61)<br />
Na verda<strong>de</strong>, a reação <strong>de</strong> um ser vivo a um estimulo qualquer po<strong>de</strong> ser imprevisível.<br />
Algo inusitado po<strong>de</strong> acontecer. E esse grau <strong>de</strong> in<strong>de</strong>terminação só é possível graças à<br />
interferência da memória no processo <strong>de</strong> percepção consciente e <strong>de</strong> produção <strong>de</strong><br />
representações. Para evitar essa imprevisibilida<strong>de</strong> entre estímulo e resposta, o ser se<br />
esforça por diminuir a interferência da memória através <strong>de</strong> mecanismos que se traduzem<br />
em um processo <strong>de</strong> aprendizagem baseado na repetição. O sucesso <strong>de</strong>sse processo <strong>de</strong><br />
aprendizagem <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> evitar a emergência <strong>de</strong> novos estados<br />
afetivos; tanto aqueles que são gerados no instante mesmo em que o movimento atinge o<br />
corpo, no instante presente do estímulo, quanto aqueles mais antigos, que po<strong>de</strong>riam vir à<br />
tona e se apresentarem à consciência por imbricações inusitadas com as representações.<br />
Como conseqüência, a <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> afetiva e o grau <strong>de</strong> in<strong>de</strong>terminação que a memória<br />
promove aos movimentos que nos atingem passam a ser minimizados em prol <strong>de</strong> uma<br />
reação que ten<strong>de</strong> a ser cada vez mais automática e impessoal, dando origem, assim, aos<br />
hábitos. A reação ten<strong>de</strong> a se tornar, nesse caso, cada vez mais previsível, na medida em que<br />
105
ela se torna cada vez mais parecida com a anterior, até quase aniquilar a diferença. Uma<br />
reação que passa a ter cada vez menos investimento da subjetivida<strong>de</strong>. Os hábitos são úteis<br />
para situações on<strong>de</strong> a reação rápida é requerida. Eles são responsáveis pela agilida<strong>de</strong> na<br />
ação. É Bergson mesmo que, em um momento do texto, nos diz que a memória<br />
<strong>de</strong>senvolvida pelo hábito “(...) que é ativa ou motora, <strong>de</strong>verá inibir constantemente a<br />
primeira, ou pelo menos aceitar <strong>de</strong>la apenas o que é capaz <strong>de</strong> esclarecer e completar<br />
utilmente a situação presente.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 65 et seq.)<br />
Essas reações tornadas automáticas pela repetição habitual <strong>de</strong> um movimento<br />
passam a exigir do ser menos atenção diante do presente que o atinge. Mas, como<br />
dissemos, elas só são possíveis após um esforço do corpo em <strong>de</strong>senvolver tais hábitos<br />
sensório-motores. Antes que o movimento se realize <strong>de</strong> maneira automática, é necessário<br />
que se aprenda a executá-lo. Po<strong>de</strong>mos observar em nosso cotidiano o quanto ações hoje<br />
tidas como fáceis foram, um dia, consi<strong>de</strong>radas difíceis, antes <strong>de</strong> serem apreendidas.<br />
Apren<strong>de</strong>r a andar, a coor<strong>de</strong>nar o corpo em movimentos precisos, a falar, ler, escrever,<br />
comportar-se <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada maneira diante <strong>de</strong> situações do presente, tudo isso implica em<br />
um esforço doloroso do ser em aprendizagem. Nesse sentido, antes que o hábito seja<br />
adquirido e o movimento <strong>de</strong> reação diante do presente se torne automático, exigindo assim,<br />
pouca atenção do ser diante não só da realida<strong>de</strong> que o atinge, quanto do próprio movimento<br />
que seu corpo elabora, a aprendizagem <strong>de</strong>sse mesmo hábito exige <strong>de</strong>le o investimento <strong>de</strong><br />
muita atenção e concentração a cada vez que ele tenta repetir a ação.<br />
É nesse sentido que Bergson contrasta o reconhecimento por distração do<br />
reconhecimento atento. No processo <strong>de</strong> conhecimento, ou aprendizagem, exige-se uma<br />
percepção atenta da consciência diante do movimento que atinge o corpo em forma <strong>de</strong><br />
estímulos sensoriais; uma busca por meios que viabilizem ao corpo reconhecer<br />
posteriormente esse mesmo movimento por simples indícios <strong>de</strong>le; do mesmo modo que a<br />
resposta a esse movimento percebido exige uma concentração maior da atenção sobre o<br />
movimento a ser executado. A maneira mais eficiente que o corpo encontra para apreen<strong>de</strong>r<br />
um movimento que se apresenta para ele é tentando repeti-lo em seu próprio corpo. Assim,<br />
no exemplo <strong>de</strong> aprendizagem <strong>de</strong> uma língua, o corpo tenta reproduzir com o próprio corpo<br />
aquele som que ele percebe do exterior. Essa repetição implica, pois, em uma fase inicial<br />
<strong>de</strong> análise do movimento em suas partes mínimas e, posteriormente, em uma síntese capaz<br />
<strong>de</strong> refazer sua unida<strong>de</strong>. A memória motora se forma justamente a partir <strong>de</strong>ssa<br />
106
aprendizagem do corpo pela repetição <strong>de</strong> um movimento percebido. Mas, para que ela se<br />
constitua, é necessária uma participação intensa do ser, não apenas em uma intensificação<br />
<strong>de</strong> sua atenção ao longo do processo <strong>de</strong> percepção, como também no acionamento da<br />
memória propriamente dita, visto que a análise do movimento requer, em certa medida,<br />
uma interpretação do mesmo, em busca <strong>de</strong> uma síntese capaz <strong>de</strong> acentuar-lhe os traços<br />
mais importantes. Esse esforço em interpretar o movimento que se percebe aciona a<br />
memória em todos os seus níveis, tanto aquele mais próximo da percepção, a memória<br />
motora, quanto a memória propriamente dita, os afetos ainda não atualizados no presente<br />
pela percepção. Ele dinamiza a memória. É um momento doloroso para o corpo, na medida<br />
em que gera nele novos estados afetivos, mas rico em oportunida<strong>de</strong>s que lhe permitam<br />
<strong>de</strong>ixar algo novo acontecer-lhe. Um novo que surge tanto do presente que se percebe com<br />
intensida<strong>de</strong>, quanto pelo passado que participa da percepção no processo <strong>de</strong> interpretação<br />
do movimento. Nesse esforço <strong>de</strong> aprendizagem, estão envolvidos o que Bergson chama <strong>de</strong><br />
“mecanismos imaginativos da atenção voluntária”. 54<br />
Bergson afirma ainda que os “movimentos interiores <strong>de</strong> repetição são como um<br />
prelúdio à atenção voluntária. Assinalam o limite entre a vonta<strong>de</strong> e o automatismo.” Os<br />
processos <strong>de</strong> análise e <strong>de</strong> síntese, nesse sentido, indicam já uma ativida<strong>de</strong> intelectual.<br />
Don<strong>de</strong> po<strong>de</strong>mos inferir que é o pensamento que liga as partes e restitui o movimento às<br />
imagens captadas e transformadas ora em ação, ora em representação. É ele o responsável<br />
pelo restabelecimento do movimento, implicado no processo <strong>de</strong> interpretação dos<br />
estímulos sensoriais. É ele também que, por um lado, distingue, as diferenças que<br />
caracterizam um movimento único, e, por outro lado, extrai <strong>de</strong>le os traços mais<br />
importantes, os quais passarão a ser reconhecidos em outros movimentos similares. O<br />
reconhecimento implica, pois, em uma capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> abstração do geral diante do singular,<br />
tanto entre as imagens oriundas da memória, quanto entre aquelas oriundas da percepção.<br />
“(...) prestar atenção, reconhecer com inteligência, interpretar, constituiriam<br />
uma única e mesma operação pela qual o espírito, tendo fixado seu nível,<br />
tendo escolhido em si mesmo, com relação às percepções brutas, o ponto<br />
54 “Uma coisa é compreen<strong>de</strong>r um movimento difícil, outra é po<strong>de</strong>r executá-lo. Para compreendê-lo, basta<br />
perceber o essencial, o suficiente para distingui-lo dos outros movimentos possíveis. Mas para saber executálos<br />
é preciso também que o corpo tenha compreendido. Ora a lógica do corpo não admite os subentendidos.<br />
Ela exige que todas as partes constitutivas do movimento pedido sejam mostradas uma a uma, e <strong>de</strong>pois<br />
recompostas juntamente. Uma análise completa torna-se aqui necessária, sem negligenciar nenhum <strong>de</strong>talhe,<br />
acompanhada <strong>de</strong> uma síntese atual em que não se abrevia nada. O esquema imaginativo, composto <strong>de</strong><br />
algumas sensações musculares nascentes, era apenas um esboço. As sensações musculares real e<br />
completamente experimentadas dão-lhe o colorido e a vida.” (Bergson, 1990, p. 90)<br />
107
simétrico <strong>de</strong> sua causa mais ou menos próxima, <strong>de</strong>ixaria escoar para essas<br />
percepções as lembranças que a irão recobrir.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 94)<br />
Essa capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> abstração equivaleria assim a uma espécie <strong>de</strong> atitu<strong>de</strong> mental que<br />
viria a se juntar à atitu<strong>de</strong> corporal. Estimulada por esta, o pensamento viria em apoio à<br />
percepção, colaborando ativamente no processo <strong>de</strong> interpretação do movimento. Mas ele<br />
só se ativaria diante <strong>de</strong> um estímulo que o prece<strong>de</strong>: os movimentos oriundos <strong>de</strong> fora do<br />
corpo. É o esforço do corpo por uma percepção mais atenta que ativa o pensamento. São<br />
esses estímulos sensoriais, portanto, que irão <strong>de</strong>finir a direção <strong>de</strong> suas evoluções. Uma vez<br />
mais nos encontramos diante da tese <strong>de</strong> Bergson <strong>de</strong> que a memória só é ativada quando é<br />
chamada para participar da percepção.<br />
É o que, <strong>de</strong> fato, acontece na “situação cinematográfica”. Quando o público é<br />
atingido por estímulos luminosos, ele se esforça por elaborar esse movimento que o afetou<br />
e se transformou em imagens da matéria. Ele interpreta, portanto, esses estados do<br />
movimento por meio da análise das partes, e restabelece a continuida<strong>de</strong> entre elas através<br />
<strong>de</strong> um processo <strong>de</strong> síntese capaz <strong>de</strong> lhe oferecer uma noção abstrata do conjunto, no qual,<br />
enfim, o movimento é restituído. Tais processos <strong>de</strong> análise e <strong>de</strong> síntese, envolvidos na<br />
produção da imagem cinematográfica, resultam, portanto, <strong>de</strong> um esforço intelectual do<br />
público, no qual o pensamento restabelece o movimento à representação por um esforço <strong>de</strong><br />
abstração. O movimento <strong>de</strong>ssa imagem resulta, portanto, <strong>de</strong> uma atitu<strong>de</strong> inteligente <strong>de</strong><br />
atenção, reconhecimento e interpretação promovidos pelo público. Ele resulta da<br />
intervenção do público no processo <strong>de</strong> elaboração da imagem. Requer, enfim, a ativida<strong>de</strong><br />
do pensamento.<br />
Contudo, à medida que as associações entre os estímulos e as respostas vão se<br />
repetindo em movimentos similares, ou seja, vão se tornando conhecidas pelo ser, elas<br />
passam a requerer menos atenção. O esforço criativo do ser em aprendizagem vai sendo<br />
substituído por hábitos, por respostas mais automáticas aos estímulos. Os “mecanismos<br />
imaginativos da atenção voluntária” vão sendo menos requisitados. Nesse sentido,<br />
representações que, em sua primeira construção, foram formuladas a partir <strong>de</strong> associações<br />
<strong>de</strong> imagens do presente com outras do passado, po<strong>de</strong>rão ser reativadas na consciência<br />
através <strong>de</strong> um esforço cada vez menor. Com o hábito, elas po<strong>de</strong>rão ser reformuladas quase<br />
que instantaneamente pelo pensamento consciente. É o caso, por exemplo, da<br />
aprendizagem <strong>de</strong> uma língua. Mas o passado requerido para tanto é agora <strong>de</strong> outra<br />
natureza. A memória <strong>de</strong>finida por Bergson transforma-se, nesse processo, em uma outra<br />
108
coisa; em um outro tipo <strong>de</strong> memória. Talvez por isso ele venha a chamá-la <strong>de</strong> memória<br />
motora. Uma memória que dá origem a um Saber por meio <strong>de</strong> um processo <strong>de</strong><br />
aprendizagem. Uma memória conhecida. Uma memória que já não “imagina" tanto, mas<br />
“repete” um movimento que já foi elaborado, aprendido. (ibi<strong>de</strong>m, p. 63) Ela vai, portanto,<br />
progressivamente, substituindo a memória propriamente dita, aquela que ainda não é<br />
conhecida pela consciência, a memória dos afetos, a única que permite ao ser “imaginar”,<br />
por construções abstratas já conhecidas que vão se repetindo nas associações com as<br />
imagens do presente.<br />
Após a fase <strong>de</strong> aprendizagem, o processo <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> representações vai<br />
progressivamente <strong>de</strong>ixando <strong>de</strong> ativar a memória da afecção para substituí-la pelo hábito. A<br />
tendência natural seria uma atuação cada vez menos variada da memória dos afetos nos<br />
eventos do presente que continuam a atingir o ser vivo. Bergson nos fala dos “caprichos”<br />
da memória ao se associar às imagens do presente e, com elas, atualizar-se à consciência<br />
em forma <strong>de</strong> representações; um “capricho” <strong>de</strong>corrente da sua imprevisibilida<strong>de</strong>, da sua<br />
capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fugir ao controle da consciência, <strong>de</strong> não se sujeitar à vonta<strong>de</strong> do ser. Parece-<br />
nos que essa aparente “loucura” dos afetos inconscientes ten<strong>de</strong> a ser progressivamente<br />
domesticada pelo hábito, na medida em que ele passa a <strong>de</strong>finir quais <strong>de</strong>las, e com que<br />
imagens do presente, vão se atualizar em representações. Esse parece ser o esforço do<br />
corpo em domar o que Bergson <strong>de</strong>fine como seu espírito.<br />
Essa espécie <strong>de</strong> domesticação da memória pelo hábito po<strong>de</strong> ser comparada ao que<br />
Bergson chama <strong>de</strong> “lembrança aprendida”, sobre a qual ele diz que “sairá do tempo<br />
[duração] à medida que a lição for melhor sabida; tornar-se-á cada vez mais impessoal,<br />
cada vez mais estranha à nossa vida passada.” (ibi<strong>de</strong>m, p. 64)<br />
No reconhecimento, a memória motora complementa a percepção, oferecendo ao<br />
corpo uma resposta quase automática à situação. Nesse sentido, po<strong>de</strong>mos inferir que a<br />
memória motora não só afasta a memória propriamente dita, ou seja o passado, como<br />
também diminui a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> imagens do presente a serem elaboradas pelo processo <strong>de</strong><br />
percepção consciente. Não é só o passado que vai progressivamente se afastando da<br />
consciência, mas inclusive o presente, na medida em que ele <strong>de</strong>dica cada vez menos<br />
atenção aos movimentos que o atingem. Basta captar alguns indícios <strong>de</strong>le para que o ser<br />
seja capaz <strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir sobre sua ação diante do universo que o cerca. Uma economia gerada<br />
pelo hábito que enriquece o ser vivo com a eficiência da resposta automática, às custas,<br />
109
contudo, <strong>de</strong> uma progressiva diminuição do seu contato tanto com o presente, o real,<br />
quanto com o passado, o virtual. É nesse sentido que as representações vão<br />
progressivamente se afastando da duração.<br />
Para que o passado, propriamente dito, encontre meios <strong>de</strong> subverter os hábitos<br />
adquiridos pelo processo <strong>de</strong> aprendizagem, ou seja, para que os estados afetivos ainda não<br />
conhecidos possam atualizar-se à consciência, é necessário, então, estabelecer mecanismos<br />
capazes <strong>de</strong> quebrar as reações automáticas. É preciso, portanto, subverter as representações<br />
que já estão consagradas pelo hábito. Subverter, pois a língua. Não só aquela que<br />
eventualmente é comungada pela comunida<strong>de</strong>, mas inclusive aquela que possivelmente o<br />
próprio ser construiu para si mesmo como meio <strong>de</strong> garantir uma soberania e estabilida<strong>de</strong><br />
maior da consciência perante o passado caprichoso e imprevisível.<br />
Quando os produtores da imagem cinematográfica manipulam os dispositivos<br />
técnicos em vistas <strong>de</strong> intervir na matéria significante, eles <strong>de</strong>senvolvem códigos visuais<br />
que, com a repetição continuada, ten<strong>de</strong>m a habituar o público em interpretações já<br />
conhecidas. Para que o hábito não diminua a intensida<strong>de</strong> da imagem, para que ele não<br />
afaste da imagem a carga afetiva gerada pelo acionamento do inconsciente, faz-se<br />
necessário, então, subverter os códigos já consagrados por um Saber que passou então a ser<br />
comungado pela comunida<strong>de</strong> envolvida. Nesse sentido, a subversão da linguagem em<br />
pesquisas que levem o produtor da imagem a <strong>de</strong>senvolver novos arranjos na matéria<br />
significante é fundamental para que o público continue a ser estimulado a participar<br />
afetivamente no esforço <strong>de</strong> interpretação imaginativa dos estímulos visuais que se<br />
apresentam para ele. A atitu<strong>de</strong> poética é essencial para a emergência da memória na<br />
produção <strong>de</strong> representações.<br />
É Bergson ainda quem observa que é o reconhecimento <strong>de</strong> uma situação similar a<br />
outras já elaboradas, e, portanto, já conhecidas, que permite ao ser aquela sensação <strong>de</strong><br />
familiarida<strong>de</strong> que tanto o apazigua. Diante do presente, a percepção consciente não só<br />
toma conhecimento da situação atual, como reconhece nela semelhanças com situações já<br />
vividas. O reconhecimento viabiliza então o acionamento <strong>de</strong> uma reação automática. É o<br />
que ocorre, por exemplo, quando já conhecemos um lugar e po<strong>de</strong>mos circular por ele com<br />
<strong>de</strong>senvoltura. Basta captar alguns indícios da situação presente para que possamos percebê-<br />
la em seu todo. A percepção se torna quase instantânea, inferindo-se o todo pela parte.<br />
110
Contudo, se as situações familiares nos apaziguam, só o estranhamento po<strong>de</strong> nos<br />
abrir para o <strong>de</strong>sconhecido, sobre o mundo e sobre nós mesmos. O reconhecimento <strong>de</strong><br />
situações presentes po<strong>de</strong> ser útil em algumas circunstâncias, mas essa utilida<strong>de</strong> só se dá às<br />
custas <strong>de</strong> uma perda progressiva <strong>de</strong> contanto tanto com o real, quanto com o virtual. O<br />
equilíbrio <strong>de</strong>ve ser encontrado em situações que requisitem <strong>de</strong> nós uma dose <strong>de</strong><br />
conhecimento adquirido, alternada com imagens que ainda não conhecemos, e que,<br />
portanto, nos induzam a um esforço maior <strong>de</strong> elaboração pela ativida<strong>de</strong> do pensamento.<br />
No caso da imagem cinematográfica, po<strong>de</strong>-se dizer, segundo a terminologia<br />
proposta por Barthes (1984), que esse equilíbrio <strong>de</strong>ve ser encontrado na co-existência entre<br />
o studium e o punctum. Pois é Barthes mesmo quem observa que se, por um lado, o<br />
studium se sustenta em um conhecimento adquirido, o punctum, por outro, viabiliza a<br />
abertura da representação para o <strong>de</strong>sconhecido, para o “inominável”. E diante do novo, nós<br />
nos silenciamos. Pois é preciso silêncio para a elaboração do pensamento, para a<br />
interpretação <strong>de</strong> um movimento que nos exige todo o ser, o corpo e o espírito, nossos<br />
afetos envolvidos. 55<br />
O estranho, contudo, não se confun<strong>de</strong> com o espetacular. Po<strong>de</strong> ser mesmo um<br />
“<strong>de</strong>talhe”, como diz Barthes (1984). Mas um <strong>de</strong>talhe capaz <strong>de</strong> nos “ferir”, <strong>de</strong> nos tocar, <strong>de</strong><br />
nos emocionar. 56 A subversão da linguagem não exige, portanto, elaborações sofisticadas<br />
ou excêntricas, mas investimento afetivo, emergência da memória na interpretação dos<br />
estímulos sensoriais, na produção das representações do mundo e <strong>de</strong> si mesmo, capazes <strong>de</strong><br />
estabelecer algum traço singular. 57 Nesse sentido, po<strong>de</strong>mos afirmar, enfim, que a atitu<strong>de</strong><br />
poética transforma o produtor da imagem em “amador” e leva o público para um estado<br />
mais “selvagem” 58 , na medida em que promove em ambos uma disponibilida<strong>de</strong> maior<br />
para o <strong>de</strong>sconhecido. 59<br />
55 “No fundo, a Fotografia é subversiva, não quando aterroriza, perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando<br />
é pensativa [grifo do autor]”. (Barthes, 1984, p. 80)<br />
56 “(...) nada a dizer, fechar os olhos, <strong>de</strong>ixar o <strong>de</strong>talhe remontar sozinho à consciência afetiva.” (Barthes,<br />
1984, p. 85)<br />
57 “O que posso nomear não po<strong>de</strong>, na realida<strong>de</strong>, me ferir. A impotência para nomear é um bom sintoma <strong>de</strong><br />
distúrbio.” (Barthes, 1984, p. 80)<br />
58 “Diante <strong>de</strong> certas fotos, eu me <strong>de</strong>sejava selvagem, sem cultura.” (Barthes, 1984, p. 18)<br />
59 “A Fotografia se torna „surpreen<strong>de</strong>nte a partir do momento em que não se sabe por que ela foi tirada. (...)<br />
Em um primeiro momento, a Fotografia, para surpreen<strong>de</strong>r, fotografa o notável; mas logo, por uma inversão<br />
111
Tempo real e experiência da duração da imagem móvel<br />
Resta-nos ainda uma questão: o que é o tempo? Partamos, pois, do princípio.<br />
Já em Matière et Mémoire, Bergson <strong>de</strong>fine a matéria como uma realida<strong>de</strong> em<br />
constante movimento; é a massa se escoando, tornando-se outra em seu <strong>de</strong>vir, vindo a ser.<br />
Ela é, portanto, dinâmica. É nela que encontramos o movimento. Anos mais tar<strong>de</strong>, em La<br />
Pensée et le Mouvant – última obra do filósofo, divulgada pela primeira vez em 1934 – ele<br />
afirma que “o tempo é mobilida<strong>de</strong>”, essa mobilida<strong>de</strong> da matéria. Ao longo <strong>de</strong> suas<br />
investigações filosóficas, Bergson nos conduz, portanto, a uma noção <strong>de</strong> tempo muito<br />
peculiar: o tempo real que remete ao dinamismo da matéria, ao seu movimento. Os<br />
cientistas, que se esmeram em <strong>de</strong>senvolver pesquisas sobre a matéria, também teceram<br />
uma noção clássica sobre o tempo. 60 Mas esta é bem diferente da noção que o filósofo<br />
propõe. Pois, segundo ele, os cientistas não levaram em conta a matéria viva. A questão do<br />
tempo, para Bergson, só po<strong>de</strong> ser bem compreendida quando se consi<strong>de</strong>ra aquilo que ele<br />
mesmo <strong>de</strong>fine como “vida interior”.<br />
“O tempo po<strong>de</strong>rá acelerar-se enormemente, e mesmo infinitamente: nada terá<br />
mudado para o matemático, para o físico, para o astrônomo. Entretanto, seria<br />
profunda a diferença para o olhar <strong>de</strong> uma consciência”. (Bergson, 1984, p.<br />
102)<br />
Para que seja possível agir sobre a matéria, a consciência se esforça por elaborar<br />
intelectualmente os movimentos que o atingem. A percepção consciente resulta, pois, <strong>de</strong>ssa<br />
ativida<strong>de</strong> do pensamento <strong>de</strong> transformar os estímulos sensoriais em representações. Uma<br />
ativida<strong>de</strong> do pensamento que, segundo Bergson, fundamenta-se em todo um esquema<br />
conhecida, ela <strong>de</strong>creta notável aquilo que ela fotografa. O “não importa o que‟ se torna então o ponto mais<br />
sofisticado do valor.” (Barthes, 1984, p. 57)<br />
60 Dentro <strong>de</strong> uma perspectiva histórica, po<strong>de</strong>-se observar que a concepção <strong>de</strong> tempo comungada pela<br />
socieda<strong>de</strong> varia <strong>de</strong> acordo com a época. Segundo Mircea Elia<strong>de</strong> (2000), com o <strong>de</strong>senvolvimento do<br />
Cristianismo, o tempo foi progressivamente <strong>de</strong>ixando <strong>de</strong> ser compreendido como cíclico e passando a ser<br />
percebido como irreversível e linear. O tempo mítico ia dando lugar ao tempo histórico. Como sugere o físico<br />
Géza Szamosi (1988), acontecimentos como “a criação do mundo” e a “salvação da humanida<strong>de</strong>” só<br />
po<strong>de</strong>riam ser compreendidos como únicos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> uma noção <strong>de</strong> tempo que o compreen<strong>de</strong> como histórico e<br />
linear. Segundo Szamozi (1988), a idéia <strong>de</strong> tempo cíclico era incompatível com o espírito da Bíblia. Com a<br />
Revolução Científica, promovida principalmente durante o século XVII, o tempo passa a ser compreendido<br />
também como absoluto e mensurável. Galileu, ao estudar o movimento dos corpos, distingue o tempo do<br />
movimento. Para ele, o movimento <strong>de</strong> um corpo qualquer não <strong>de</strong>veria ser confundido com o tempo <strong>de</strong>corrido<br />
durante seu <strong>de</strong>slocamento no espaço. Assim, ele <strong>de</strong>screveu matematicamente o movimento como um<br />
acontecimento que se dá no tempo e no espaço. Alguns anos mais tar<strong>de</strong>, Isaac Newton codificou esse novo<br />
conceito <strong>de</strong> tempo para a Física Clássica. Enfim, uma noção clássica <strong>de</strong> tempo, compreendido como um<br />
fluxo mensurável, constante, arbitrário e in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do ambiente.<br />
112
sensório-motor montado no corpo para captar esses movimentos, transformá-los em<br />
estímulos nervosos que serão encaminhados ao cérebro, on<strong>de</strong> finalmente darão origem a<br />
estados psíquicos que permitirão ao ser produzir representações. Mas, como vimos, essas<br />
representações surgem já embrenhadas <strong>de</strong> afetos que emergem da memória. Nesse sentido,<br />
cada ser vivo traz consigo a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> intervir nos movimentos da matéria e alterar<br />
os rumos dos acontecimentos <strong>de</strong> uma maneira inusitada e imprevisível, pois a interpretação<br />
que ele dará aos movimentos que o atingem resulta já <strong>de</strong> uma ativida<strong>de</strong> imaginativa e<br />
criadora promovida pelo ser através da ativação <strong>de</strong> afetos que são únicos e singulares. O<br />
ser vivo funciona assim como uma “zona <strong>de</strong> in<strong>de</strong>terminação do movimento”.<br />
A matéria é móvel. E o corpo vivo, sendo também matéria, participa <strong>de</strong>ssa<br />
dinâmica. Inserido na realida<strong>de</strong> material, ele é incessantemente atravessado pelo<br />
movimento. Mas ele vivencia esse movimento da matéria <strong>de</strong> uma maneira singular. Pois<br />
este gera no ser novos estados afetivos, além <strong>de</strong> ativar outros do passado. A vivência do<br />
tempo real pelo ser vivo é intensificada, portanto, pelos afetos. Ela é experimentada <strong>de</strong><br />
maneira singular e imprevisível. O acúmulo <strong>de</strong>ssa vivência, por outro lado, po<strong>de</strong> lhe<br />
proporcionar a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> “crescimento interior”, à medida que lhe permite realizar<br />
“modificações internas”. É essa vivência do tempo real pelo ser consciente que Bergson<br />
chama <strong>de</strong> duração.<br />
Quando os cientistas ignoram a “vida interior” do ser consciente, eles, na verda<strong>de</strong>,<br />
ignoram a duração. O “crescimento interior” que Bergson reconhece no ser vivo que<br />
vivencia o tempo real é negado pela visão clássica da ciência que consi<strong>de</strong>ra o tempo <strong>de</strong><br />
uma maneira in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte e abstrata. Ao invés do seu acúmulo em uma vivência única,<br />
que vai se ampliando, que vai evoluindo criativamente por “modificações internas” geradas<br />
pelo tempo como um todo, a visão clássica propõe uma justaposição <strong>de</strong> fases distintas que<br />
se suce<strong>de</strong>m como pontos a formar uma linha. A visão clássica do tempo real não abarca,<br />
portanto, a potência criativa e transformadora do tempo real para o ser. Toda a<br />
singularida<strong>de</strong> do ser ten<strong>de</strong> a ser suprimida em uma noção abstrata e matemática <strong>de</strong> tempo<br />
linear, constante e mensurável, que existiria em uma suposta realida<strong>de</strong> objetiva e<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do ser.<br />
É essa noção matemática <strong>de</strong> um tempo que se <strong>de</strong>compõe em instantes fixos que se<br />
suce<strong>de</strong>m uns aos outros que fundamenta o dispositivo técnico que dará origem aos<br />
fotogramas da película cinematográfica. Os instantes congelados em cada fotograma são,<br />
113
nesse sentido, a expressão visual <strong>de</strong>ssa noção clássica <strong>de</strong> tempo linear, mensurável e<br />
abstrato.<br />
No próprio modo <strong>de</strong> funcionamento da câmera, há a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> medir o tempo<br />
<strong>de</strong> exposição do material sensível; período no qual uma parte do dispositivo se abre para<br />
que a luz penetre na objetiva e atinja a superfície do material sensível, formando, assim, a<br />
imagem latente. A reação química do material sensível à luz precisa <strong>de</strong>sse controle do<br />
tempo. Nesse sentido, o funcionamento da câmera prevê um mecanismo para medir o<br />
tempo que é muito similar ao relógio mecânico. Nesse mecanismo, o tempo passa a ser<br />
dividido em unida<strong>de</strong>s constantes, matemáticas. Ele se transforma em algo “duro”, que não<br />
se esten<strong>de</strong> ou se disten<strong>de</strong> aleatoriamente, mas se mantém preso em unida<strong>de</strong>s abstratas. 61<br />
Por outro lado, há o referente fotográfico. E, com ele, o punctum da imagem<br />
<strong>de</strong>finido por Barthes (1984). Há um pedaço do real que ficou representado na imagem, que<br />
se inscreveu na matéria que lhe serve <strong>de</strong> suporte. A fotografia se sugere como um rastro<br />
<strong>de</strong>ixado pelo real pela ação da luz sobre a matéria foto-sensível. Ela é uma marca <strong>de</strong>ixada<br />
pelo real, na qual ele ficou congelado em um instante <strong>de</strong> seu <strong>de</strong>vir. Ela dá visibilida<strong>de</strong>,<br />
portanto, a um momento do real. O estado em que ele se encontrava no momento em que a<br />
61 Segundo o físico Géza Szamosi (1988), a noção <strong>de</strong> tempo compreendido como in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do ambiente<br />
ganha mais popularida<strong>de</strong> com a invenção dos relógios mecânicos. Antes <strong>de</strong>stes, havia os relógios biológicos,<br />
que indicavam as fases por que passavam as transformações da natureza. A passagem do dia para a noite, da<br />
noite para o dia, as fases da Lua, a passagem das estações do ano, são alguns exemplos <strong>de</strong> padrões <strong>de</strong> tempo<br />
fundamentados na experiência sensorial. Um tempo associado às transformações do ambiente. Os calendários<br />
tentam codificar esse tempo. Mas há um problema <strong>de</strong> difícil solução: as fases variam, um dia nunca é igual<br />
ao outro. Os anos não são exatos. De qualquer modo, como o próprio físico Géza Szamosi (1988) nos sugere,<br />
a construção dos calendários serviu para as socieda<strong>de</strong>s humanas estabelecerem um ritmo nos acontecimentos<br />
sociais mais in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte dos ritmos da natureza. No entanto, ainda assim havia uma sintonia entre ambos.<br />
Segundo ele, o <strong>de</strong>scolamento dos ritmos dos homens perante os ritmos da natureza só aconteceu mesmo com<br />
a invenção do tempo clássico. Antes disso, porém o surgimento dos primeiros relógios mecânicos já no<br />
século IX, na China, e no século XIV, na Europa começam a divulgar essa noção abstrata <strong>de</strong> tempo. Esses<br />
relógios começam a ser usados muito antes <strong>de</strong> Galileu propor a noção <strong>de</strong> tempo in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte do movimento,<br />
linear, constante e, portanto, mensurável. Além disso, o físico Szamosi (1988) nos sugere ainda que a noção<br />
<strong>de</strong> tempo clássica só po<strong>de</strong> surgir no meio científico após o <strong>de</strong>senvolvimento da música secular, que começa a<br />
surgir já no século XI, com os Cantos Gregorianos. Os músicos buscavam formas <strong>de</strong> representar suas<br />
composições musicais em escritas visuais: formas simbólicas que fossem capazes <strong>de</strong> representar e comparar a<br />
duração das notas, que pu<strong>de</strong>ssem regular as melodias por unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> tempo e estabelecer relações claras<br />
entre elas. Essa busca propõe uma manipulação simbólica das durações. E, a partir <strong>de</strong>la, o seu controle.<br />
Fundou-se então a cronometria musical. A Escola <strong>de</strong> Notre Dame <strong>de</strong>stacou-se nesse intento, com seus<br />
conhecidos “modos rítmicos”. E, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> então, a teoria musical não cessou <strong>de</strong> ser aperfeiçoada e até<br />
reavaliada. De qualquer modo, o que vale aqui observar é que, segundo o físico, a música secular esten<strong>de</strong>u o<br />
domínio dos homens para o fluxo temporal, manipulando as durações e engendrando novos ritmos; ritmos<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes do ambiente; ritmos abstratos. Ela familiarizou os homens cultos da época a essa nova noção<br />
<strong>de</strong> tempo e ritmo, manipuláveis e controláveis por unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> medida constantes.<br />
114
câmara foi acionada pelo <strong>de</strong>do do fotógrafo 62 fica congelado na imagem. Para que esse<br />
registro do real possa se viabilizar, é necessário um tempo <strong>de</strong> exposição do material<br />
sensível à luz. É,pois, a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sse tempo <strong>de</strong> exposição que nos leva a reconhecer<br />
uma espécie <strong>de</strong> inscrição do tempo real na imagem fotográfica. 63 Em última instância, a<br />
imagem remete a um <strong>de</strong>terminado momento do tempo que foi real. Esse momento<br />
fotográfico passa a ser entendido então como um instante do tempo real, que se suce<strong>de</strong> ao<br />
infinito. Um ponto do tempo que foi capturado pelo aparato fotográfico e que viabilizou a<br />
imagem fotográfica. Um instante do tempo real que ficou congelado na representação. A<br />
imagem passa então a ser compreendida como uma “emanação do referente” (Barthes,<br />
1984). Ela dá expressão visual ao tempo real com o noema isso foi <strong>de</strong>finido por Roland<br />
Barthes.<br />
Contudo, essa expressão do tempo real na fotografia é <strong>de</strong>stituída do movimento. A<br />
imagem remete ao tempo real, mas subtrai <strong>de</strong>le sua mobilida<strong>de</strong>. Ela aponta para o real:<br />
“isso foi” real. Mas ao mesmo tempo em que traz <strong>de</strong> volta um momento que foi real, não<br />
lhe possibilita mais a mudança, a transformação. Ela expressa, portanto, uma noção <strong>de</strong><br />
tempo real na qual a “duração” foi extraída. Nela, nada mais acontece. Nada <strong>de</strong> novo po<strong>de</strong><br />
ocorrer além do próprio acontecimento que ficou ali registrado em imagem. Ao registrar<br />
um momento do tempo real, a fotografia funciona, então, como uma “memória artificial” 64<br />
que não <strong>de</strong>ixa o ser consciente esquecer aquele momento. Ela oferece ao olhar a<br />
representação <strong>de</strong> um acontecimento real que não se <strong>de</strong>sdobra mais, que ficou ali congelado<br />
na imagem. Ela traz <strong>de</strong> volta uma imagem do presente que não se transforma, que não<br />
evolui, pois está fora da duração. Ela está fora não só do tempo real, como também da<br />
memória, dos afetos, pois ficou congelada em uma representação que insiste em se manter<br />
62 “Para mim o órgão do fotógrafo não é o olho (ele me terrifica), é o <strong>de</strong>do: o que está ligado ao disparador da<br />
objetiva, ao <strong>de</strong>slizar metálico das placas (quando as máquinas ainda as tem).” (Barthes, 1984, p. 30)<br />
63 “Em toda imagem fotográfica há necessariamente inscrição do tempo. Mesmo nas maiores velocida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
obturação que po<strong>de</strong>m hoje ser obtidas, o intervalo <strong>de</strong> exposição do filme à luz sempre resulta suficientemente<br />
longo para registrar uma duração, portanto, uma evolução do objeto no tempo. Se isso não é perceptível na<br />
prática cotidiana da fotografia é porque sempre se busca uma compatibilida<strong>de</strong> entre velocida<strong>de</strong> <strong>de</strong> obturação<br />
e velocida<strong>de</strong> do motivo fotografado, <strong>de</strong> modo a obter como resultado o intervalo exato para congelamento<br />
<strong>de</strong>sse último.” (Machado, 1997, p. 62)<br />
64 Emprego o termo “memória artificial” na acepção que lhe dá Pierre Lévy, em As tecnologias da<br />
inteligência (1993). Nesse sentido, sugiro que a fotografia se propõe como um tipo <strong>de</strong> memória que se<br />
sustenta em um suporte material distinto do corpo humano; uma memória que não se opera por “processos<br />
minemônicos”. Uma memória que não nos <strong>de</strong>ixa esquecer esse passado, uma memória imutável. E, além <strong>de</strong><br />
tudo, uma memória que, como salienta Philippe Dubois (1994), apresenta qualida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> índice e <strong>de</strong> ícone. Ou<br />
seja, uma memória que tem uma ligação existencial com o passado e que, além disso, guarda semelhanças<br />
visuais com aquilo que ela representa.<br />
115
a mesma diante do olhar do público, que não se submete a nenhuma transformação, a<br />
nenhum <strong>de</strong>sdobramento capaz <strong>de</strong> restituir-lhe o movimento. E, no entanto, insiste em se<br />
manter presente, ali, diante do olhar, enquanto uma imagem imóvel do móvel, uma<br />
representação fixa do real movente. Mais uma vez, eis que nos encontramos diante da idéia<br />
sugerida por Barthes (1984) <strong>de</strong> que a fotografia é uma “contra-lembrança”. É a “violência”<br />
que, segundo Barthes (1984), ela promove ao ser. 65 Na acepção <strong>de</strong> Bazin (1983), ela<br />
perpetua o “complexo da múmia” ao “exorcizar o tempo” na imagem fixa e, com isso,<br />
“salvar o ser pela aparência”. Ela “substitui o mundo exterior pelo seu duplo”. Mas esse<br />
duplo está fora da duração, está protegido “contra o tempo”. Essa “<strong>de</strong>fesa do ser conta o<br />
tempo” só se dá às custas da perda da possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> evoluir, <strong>de</strong> crescer internamente por<br />
modificações interiores. Pois é Bergson (1990) mesmo quem nos mostra que a “evolução<br />
criadora” só é possível na duração. Assim, quando Barthes afirma que o instantâneo<br />
fotográfico “não po<strong>de</strong> transformar-se, mas apenas repetir-se sob as espécies da insistência”<br />
66 , ele reconhece que a imobilida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sse momento que foi extraído do tempo real para a<br />
constituição <strong>de</strong> um duplo fora do tempo impe<strong>de</strong> à imagem <strong>de</strong>sdobrar-se perante o olhar,<br />
evoluir em movimentos internos. Na verda<strong>de</strong>, a expressão fotográfica do tempo real acaba<br />
por convertê-lo em uma imobilida<strong>de</strong> extremamente perturbadora. 67<br />
A imagem cinematográfica se sustenta justamente nesses instantes congelados do<br />
tempo real. A <strong>de</strong>composição do movimento em instantes fixos dá origem aos fotogramas<br />
que se suce<strong>de</strong>m na película. A representação fotográfica dá visibilida<strong>de</strong> ao movimento às<br />
custas <strong>de</strong> sua extração da duração. São vários instantes congelados do tempo que se<br />
suce<strong>de</strong>m, fotograma a fotograma. A mobilida<strong>de</strong> dá lugar à imobilida<strong>de</strong>. É uma<br />
representação imóvel do movimento. O tempo é representado segundo critérios espaciais. 68<br />
65 “A fotografia é violenta: não porque mostra violências, mas porque a cada vez enche <strong>de</strong> força a vista e<br />
porque nela nada po<strong>de</strong> se recusar, nem se transformar (que às vezes se possa dizer que é doce não contradiz<br />
sua violência; muitos dizem que o açúcar é doce; mas eu o acho, o açúcar, violento.)” (Barthes, 1984, p. 136,<br />
137)<br />
66 “Diz-se „<strong>de</strong>senvolver uma foto‟ [revelar uma foto], mas o que a ação química <strong>de</strong>senvolve [revela] é o<br />
in<strong>de</strong>senvolvível [irrevelável], uma essência (<strong>de</strong> ferida), o que não po<strong>de</strong> transformar-se [<strong>de</strong>sdobrar-se], mas<br />
apenas repetir-se sob as espécies da insistência (do olhar insistente)”. (Barthes, 1984, p. 78)<br />
67 A fotografia é normalmente encarada como um sistema significante <strong>de</strong> suspensão do tempo, <strong>de</strong><br />
congelamento da imagem num instante mínimo e único. Mas é justamente porque toda a tecnologia da<br />
fotografia se orienta no sentido <strong>de</strong> uma eliminação do tempo que a inscrição <strong>de</strong>ste último na fotografia tem<br />
um po<strong>de</strong>r superlativamente <strong>de</strong>sestabilizador e, e por, conseqüência, <strong>de</strong>formante.” (Machado, 1997, p. 61)<br />
68 Esse modo <strong>de</strong> representar o movimento em formas imóveis não é exclusivo ao cinema. Na verda<strong>de</strong>,<br />
segundo Bergson, ele é encontrado na própria filosofia: “Ao longo <strong>de</strong> toda a história da filosofia, tempo e<br />
116
Ao invés <strong>de</strong> manter sua intensida<strong>de</strong>, ele passa a ser representado em extensão. A orientação<br />
espacial passa a se sugerir na representação do tempo à medida que o movimento é<br />
<strong>de</strong>composto em partes imóveis que se suce<strong>de</strong>m e se justapõem.<br />
“O filme po<strong>de</strong>ria passar <strong>de</strong>z, cem, mil vezes mais <strong>de</strong>pressa sem que nada<br />
fosse modificado: se ele se <strong>de</strong>senrolasse a uma velocida<strong>de</strong> infinita, se o<br />
<strong>de</strong>senrolar (<strong>de</strong>sta vez fora do aparelho) se tornasse instantâneo, seriam ainda<br />
as mesmas imagens. A sucessão assim entendida não acrescenta nada; ao<br />
contrário, ela suprime alguma coisa; marca um déficit; traduz uma<br />
<strong>de</strong>ficiência <strong>de</strong> nossa percepção, con<strong>de</strong>nada a <strong>de</strong>talhar o filme, imagem por<br />
imagem, em vez <strong>de</strong> apreendê-lo globalmente. Em suma, o tempo assim<br />
consi<strong>de</strong>rado não é mais do que um espaço i<strong>de</strong>al on<strong>de</strong> supomos alinhados<br />
todos os acontecimentos passados, presentes e futuros, que estão, ainda mais,<br />
impedidos <strong>de</strong> aparecer em bloco: o fluir da duração seria esta própria<br />
imperfeição, a adição <strong>de</strong> uma quantida<strong>de</strong> negativa.” (Bergson, 1984, p. 105)<br />
Não há, portanto, duração no filme. Os fotogramas representam visualmente<br />
instantes imóveis do movimento. Na verda<strong>de</strong>, seguindo o pensamento <strong>de</strong> Bergson, o que a<br />
parte visível da imagem cinematográfica manifesta mesmo é uma noção particular <strong>de</strong><br />
espaço. Sobre a inscrição do tempo nessa imagem, Arlindo Machado nos traz algumas<br />
palavras:<br />
“O cinema po<strong>de</strong> fazer um homem andar mais rápido ou mais lentamente,<br />
po<strong>de</strong> fazê-lo também andar ao contrário ou até mesmo se mover por elipses,<br />
pulando porções do espaço; o que ele em geral não po<strong>de</strong> é fazer com que a<br />
própria representação <strong>de</strong>sse homem seja alterada em razão <strong>de</strong> tais<br />
manipulações do tempo. Isso quer dizer que a inscrição do tempo no cinema<br />
não afeta as imagens, não as transfigura, não gera, portanto, anamorfoses. A<br />
imagem cinematográfica que se „movimenta‟ numa tela conserva a mesma<br />
integrida<strong>de</strong> e a mesma consistência <strong>de</strong> uma imagem fotográfica obtida nas<br />
mesmas condições.” (id., 1993, 61)<br />
Certamente, os fotogramas que se enfileiram na película cinematográfica mantém<br />
as mesmas características do fotográfico. Há inscrição do tempo nas imagens, mas ele não<br />
lhes permite <strong>de</strong>sdobrar-se, transformar-se, visto que ficou congelado em estados imóveis.<br />
Extraídos da duração, esses fotogramas não po<strong>de</strong>m evoluir. Contudo, essas imagens fixas<br />
que se projetam na tela não são ainda a imagem cinematográfica. Se a imagem móvel só<br />
surge na “situação cinematográfica”, quando o dispositivo técnico encontra-se com o<br />
espaço são colocados juntos e tratados como coisas do mesmo gênero. Estuda-se então o espaço, <strong>de</strong>terminase<br />
sua natureza e função, <strong>de</strong>pois transporta-se para o tempo as conclusões obtidas. As teorias do espaço e as<br />
do tempo são, assim, paralelas. Para passar <strong>de</strong> uma a outra foi suficiente mudar uma palavra: substituiu-se<br />
„justaposição‟ por „extensão‟. (...) a duração se exprime sempre em extensão. Os termos que exprimem o<br />
tempo são tomados à linguagem do espaço. Quando evocamos o tempo, é o espaço que respon<strong>de</strong> ao<br />
chamado.” (Bergson, 1984, p. 105)<br />
117
público, cuja percepção consciente possibilita a aparição da representação móvel através<br />
dos intervalos do visível, então, a imagem cinematográfica não se confun<strong>de</strong> com esses<br />
instantâneos fotográficos que se enfileiram na película. Ela, na verda<strong>de</strong>, surge <strong>de</strong>sse<br />
encontro entre o visível e o invisível, entre o real e o virtual, no qual a duração é restituída<br />
à representação. Como resultado <strong>de</strong>sse encontro, a imagem <strong>de</strong>ixa, enfim, <strong>de</strong> ser imóvel<br />
para recuperar sua mobilida<strong>de</strong> transformadora, sua temporalida<strong>de</strong>, através da participação<br />
afetiva e imaginativa do público.<br />
A duração não está, portanto, nos fotogramas. Eles constituem a parte visível da<br />
imagem cinematográfica. Mas ela não se restringe a esses fotogramas. Se, como dissemos,<br />
ela resulta do encontro entre o visível e o invisível, são os intervalos entre cada fotograma<br />
visível que possibilitam a passagem da fotografia para a imagem cinematográfica. Pois é<br />
por meio <strong>de</strong>les que o público encontra a chance <strong>de</strong> restituir o movimento à imagem. A<br />
passagem <strong>de</strong> um estado a outro do visível – sua transformação visual – não se dá apenas<br />
por um efeito visual <strong>de</strong> síntese das várias partes imóveis, mas sobretudo pela intuição do<br />
todo que indica que essa imagem vai além daquilo que os olhos percebem. Não são mais<br />
várias partes imóveis do visível, mas apenas uma única imagem maior que dura, que se<br />
<strong>de</strong>sdobra, que se transforma no tempo. E essa transformação acontece graças aos intervalos<br />
do visível. A mudança acontece nos intervalos. São eles que viabilizam o encontro entre as<br />
imagens da matéria e as imagens da memória, possibilitando o surgimento <strong>de</strong>ssa imagem<br />
como um todo que se move no tempo, que se transforma. É no silencio que a “vida<br />
interior”, <strong>de</strong> que fala Bergson, emerge e viabiliza o movimento às imagens. É <strong>de</strong>la que<br />
surge a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> animação das imagens captadas pela percepção consciente. O<br />
acontecimento está nos intervalos, on<strong>de</strong> a ausência <strong>de</strong> imagem possibilita a emergência da<br />
memória. É <strong>de</strong> lá que se origina o movimento, quando o ser entra em atuação. Se o<br />
dispositivo atua na parte visível da imagem cinematográfica, o público atua nos intervalos.<br />
Eis a origem do movimento. Eis a fonte mágica <strong>de</strong>ssa imagem. Seu encanto. Seu valor. De<br />
lá, a minha surpresa ...<br />
118
Conclusão<br />
Após todo esse percurso <strong>de</strong> pesquisa e reflexão, chegamos ao ponto em que nos<br />
encontramos em condições <strong>de</strong> distinguir com mais clareza o fotográfico do<br />
cinematográfico. O “paradigma fotográfico”, <strong>de</strong>finido por Santaella (1998), indicava-nos<br />
já o caminho a ser percorrido. Ao levar em conta o modo <strong>de</strong> produção da imagem, no qual<br />
instrumentos e técnicas específicos são manipulados, a pesquisadora apontava já para o<br />
que há <strong>de</strong> especifico na fotografia: a utilização <strong>de</strong> uma “máquina <strong>de</strong> registro”, a qual se<br />
responsabilizaria pelo estabelecimento <strong>de</strong> uma espécie <strong>de</strong> “conexão” entre a imagem e o<br />
real que lhe <strong>de</strong>u origem. Bazin já havia comentado sobre a capacida<strong>de</strong> da imagem<br />
fotográfica em apresentar algo sobre o real que escapa à intervenção da subjetivida<strong>de</strong> do<br />
produtor, quando afirmava sobre sua “objetivida<strong>de</strong> essencial”, garantida pelo processo<br />
automático <strong>de</strong> produção da imagem. Mas é Barthes quem <strong>de</strong>monstra que essa<br />
“objetivida<strong>de</strong> essencial”, na verda<strong>de</strong>, diz respeito ao tempo. Ele nos mostra que há algo do<br />
real que se apresenta na fotografia e que não se confun<strong>de</strong> com sua parte codificada: algo<br />
que escapa ao seu processo <strong>de</strong> codificação: o punctum da imagem, o noema isso foi. A<br />
fotografia tem o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> apresentar o instante <strong>de</strong> uma cena que foi real. Mas por que o<br />
punctum “fere” o espectador? Através <strong>de</strong> um retorno ao pensamento do filósofo Henri<br />
Bergson, encontramos a oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> promover um <strong>de</strong>sdobramento da noção <strong>de</strong><br />
punctum associada à imagem fotográfica proposta por Barthes. Constatamos que, na<br />
verda<strong>de</strong>, ele remete tanto à realida<strong>de</strong> física que <strong>de</strong>u origem à imagem, quanto àquilo que o<br />
espectador traz consigo, sua memória. Para empregar termos <strong>de</strong> Bergson, o punctum<br />
resulta <strong>de</strong> uma espécie <strong>de</strong> cruzamento entre o “tempo real”, ao qual a imagem remete, e a<br />
“vida interior” do apreciador da imagem. Todavia, constatamos que esse cruzamento<br />
ocorre fora da imagem. A fotografia tem esse po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> trazer <strong>de</strong> volta para o apreciador da<br />
119
imagem o instante <strong>de</strong> uma cena real que, para ele, já é passado. Mas o passado só volta, na<br />
fotografia, em uma forma visual congelada, que insiste em se fazer presente e imutável<br />
diante do espectador. Este é atingido pela imagem quando o punctum provoca nele algum<br />
rebuliço interior. Mas ele não po<strong>de</strong> atingir a imagem, provocando, também nela, rebuliços<br />
e alterações internas. Nesse sentido, não há reciprocida<strong>de</strong> na fotografia. Ela não se<br />
transforma, não se altera com esse turbilhão interior que eventualmente ela provoca no<br />
espectador. Efeito perturbador próprio ao fotográfico. No cinema, por outro lado,<br />
observamos que algo novo acontece. A fotografia se anima. As formas adquirem<br />
movimento. Mas, segundo nossas especulações, não é essa animação das formas visíveis o<br />
aspecto <strong>de</strong> maior relevância. O que a imagem cinematográfica realmente apresenta <strong>de</strong><br />
diferente e inovador em relação à fotografia é justamente a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ser atingida<br />
pelo público que a aprecia, <strong>de</strong> sofrer alterações com sua intervenção psíquica. Não é<br />
apenas no nível do sentido que ela po<strong>de</strong> sofrer transformações, <strong>de</strong>sdobrar-se, mas em sua<br />
própria constituição enquanto imagem móvel. Pois, em uma perspectiva fenomenológica,<br />
ela só po<strong>de</strong> se tornar uma imagem mutável através do encontro entre os estímulos<br />
luminosos promovidos pelo dispositivo técnico – imagens do presente – e as imagens<br />
emergentes da memória <strong>de</strong> cada espectador – imagens do passado. A imagem<br />
cinematográfica não resulta apenas <strong>de</strong> uma aparição, <strong>de</strong> uma presença insistente, como<br />
ocorre com a fotografia. Ela é fruto <strong>de</strong> uma alternância entre aparição e <strong>de</strong>saparecimento,<br />
entre presença e ausência, na qual o espectador conquista o direito <strong>de</strong> se tornar um co-<br />
produtor. Para além do espectador da foto, ele participa do processo <strong>de</strong> elaboração da<br />
imagem mutável. O produtor continua a traçar diretrizes para a imagem, mas, na “situação<br />
cinematográfica” (Michotte), o público é convidado a participar <strong>de</strong> sua constituição por<br />
meio <strong>de</strong> uma interação maior com o dispositivo técnico que a viabiliza. Nesse sentido,<br />
constatamos que o papel do produtor da imagem é redimensionado na “situação<br />
cinematográfica”, quando o público e a máquina adquirem um novo status no processo <strong>de</strong><br />
constituição da imagem. A imagem cinematográfica, por outro lado, passa a apresentar<br />
uma formação híbrida na qual o real e o virtual se agregam para a formação da<br />
representação; ela é sustenta tanto por um suporte físico – a película que se articula no<br />
dispositivo técnico, o projetor – , quanto por uma intervenção do virtual – a memória do<br />
espectador. Ela resulta, portanto, do encontro entre o real e o virtual. Se na fotografia uma<br />
imagem do passado insiste em se fazer atual, mantendo-se perante nosso olhar, no cinema,<br />
as imagens atualizadas pelo dispositivo técnico logo <strong>de</strong>saparecem da tela, permitindo que o<br />
120
público se aproprie <strong>de</strong>las e as transforme em imagens do passado. Agregadas à memória,<br />
elas ainda <strong>de</strong>spertam novas imagens e sensações antes adormecidas. O cinema se sugere,<br />
portanto, como uma arte da memória. Na passagem da fotografia ao cinema, a imagem é<br />
restituída à duração. O “tempo real”, ao qual a imagem remete, fun<strong>de</strong>-se com a “vida<br />
interior” <strong>de</strong> cada espectador. O punctum fotográfico transforma-se, enfim, em outra coisa.<br />
No contexto da técnica empregada para a produção da imagem cinematográfica,<br />
constatamos que a tradução da realida<strong>de</strong> em representação visual se sustenta em um<br />
processo <strong>de</strong> codificação do espaço que pressupõe o agenciamento tanto do público, quanto<br />
da realida<strong>de</strong> para que se articulem em sistemas semióticos que lhes pré-<strong>de</strong>terminam on<strong>de</strong> e<br />
como irão interagir com ela. Dentre os vários aparatos técnicos que são utilizados em sua<br />
fabricação, priorizamos a câmera e o projetor. Em uma retrospectiva histórica, observamos<br />
que a primeira se origina da câmara obscura, utilizada pelos pintores <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o século XVI,<br />
como uma alternativa mais simples para produzir imagens em perspectiva. Por meio <strong>de</strong>la, a<br />
realida<strong>de</strong> visível é codificada em um arranjo formal que se sustenta em uma noção<br />
particular <strong>de</strong> sujeito i<strong>de</strong>al a olhar a cena. Nesse sentido, tanto a realida<strong>de</strong> material, quanto a<br />
realida<strong>de</strong> espiritual do indivíduo, são codificados na imagem através dos processos óticos<br />
que ocorrem no interior aparato. Nos termos <strong>de</strong> Oudart, esse “sistema clássico <strong>de</strong><br />
representação” prevê um modo peculiar <strong>de</strong> operacionalização do visível com o invisível no<br />
qual a parte visível da imagem – o “espetáculo” – fica interligada a essa noção abstrata <strong>de</strong><br />
sujeito a olhar a cena, gerando, assim uma espécie <strong>de</strong> “duplo palco”. Mas, se, em um<br />
primeiro momento, esse olhar que se associa ao “espetáculo” refere-se ao olhar <strong>de</strong> um<br />
sujeito i<strong>de</strong>al, pressuposto no modo como a imagem em perspectiva se organiza<br />
formalmente, em um segundo momento, ele passa a remeter ao olhar do próprio público,<br />
quando este se dispõe a apreciar a imagem: o público se i<strong>de</strong>ntifica com esse olhar i<strong>de</strong>al e se<br />
apropria <strong>de</strong>sse lugar invisível, previsto no funcionamento do código; o lugar do ausente.<br />
Esse mecanismo estruturado sob uma espécie <strong>de</strong> “duplo palco” é perpetuado no cinema. Os<br />
“jogos <strong>de</strong> olhares”, porém, adquirem uma complexida<strong>de</strong> ainda maior com a entrada em<br />
cena dos olhares dos personagens, articulados por recursos <strong>de</strong> montagem, levando, então,<br />
Oudart a distinguir um novo sistema semiótico para o cinema: “o sistema <strong>de</strong> sutura”. De<br />
qualquer modo, em ambos os sistemas, o princípio é o mesmo. Eles se estruturam a partir<br />
do modo como a configuração do espaço em perspectiva articula o visível e o invisível, a<br />
realida<strong>de</strong> material e a realida<strong>de</strong> espiritual. Ambos – realida<strong>de</strong> física e sujeito – encontram-<br />
se codificados na imagem.<br />
121
Mas Barthes nos mostra que o surgimento do processo químico <strong>de</strong> fixação da<br />
imagem – o qual possibilita o nascimento da imagem fotográfica – torna-lhe possível a<br />
expressão <strong>de</strong> um traço do real que escapa ao processo <strong>de</strong> codificação. Algo do real se<br />
inscreve automaticamente na fotografia, sem a intervenção do código. Mesmo após vários<br />
autores terem <strong>de</strong>nunciado a “artificialida<strong>de</strong>” da fotografia (Panofsky, Machado, Couchot,<br />
<strong>de</strong>ntre outros), quando concentravam suas análises no processo ótico que se opera no<br />
aparato técnico e, por meio <strong>de</strong>la, argumentavam sobre a codificação arbitrária e i<strong>de</strong>ológica<br />
da imagem, Barthes reafirma a tese <strong>de</strong> Bazin sobre a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssa imagem em nos<br />
transmitir algo sobre o real que escapa à intervenção do seu produtor. Como já observara<br />
Bazin, a particularida<strong>de</strong> da fotografia está em sua “gênese automática”, ou seja, no<br />
processo ótico-químico <strong>de</strong> produção da imagem latente: o material foto-sensível é exposto<br />
à luz, quando esta penetra no interior do aparato técnico e lhe transmite informações sobre<br />
a realida<strong>de</strong> material. A mesma luz que atinge o mo<strong>de</strong>lo também toca o suporte foto-<br />
sensível que servirá <strong>de</strong> base para sua representação. É ela quem garante o vínculo entre real<br />
e representação e permite a esta expressar algo sobre aquele sem que seja submetido ao<br />
código visual. Afinal, o que o código visual traduz em imagem é a parte visível do real: a<br />
matéria que reflete luz. Mas a dimensão temporal do real é invisível. Como representá-la<br />
em imagem? O tempo distinto da matéria seria como a luz movendo-se sem que houvesse<br />
corpo físico algum para absorver-lhe, nem refleti-la. Seria como um movimento que<br />
seguiria ao infinito sem que nunca chegasse a se manifestar em ponto algum. Para que ela<br />
exista enquanto tal, é necessário que interaja com a matéria. Do mesmo modo, o tempo só<br />
existe embrenhado na matéria. O movimento só é movimento quando se transforma em<br />
uma qualida<strong>de</strong> da matéria. É essa dimensão do real que conquista a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
expressão na imagem fotográfica. Como Barthes nos indicou, a fotografia tem esse po<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong> nos apontar para um instante da matéria em movimento; um instante do tempo real. O<br />
noema isso foi. Contudo, ela está fora do tempo. É uma imagem congelada <strong>de</strong>le. A<br />
dimensão temporal do real, para qual a fotografia aponta, não se confun<strong>de</strong>, portanto, com a<br />
parte visível que ficou codificada no espaço da representação. Na fotografia, há uma<br />
espécie <strong>de</strong> tensão constante entre o tempo (que foi) real ao qual ela remete e o espaço<br />
(visual) que, <strong>de</strong> fato, ela consegue disponibilizar para o público como um “espetáculo”<br />
(codificado) para o olhar; mas essas instâncias não se misturam, não se fun<strong>de</strong>m. É a<br />
“ferida” da fotografia. Ela tem esse po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> “apontar” para essa parte não visível do real –<br />
e que, portanto, não se subordina ao código visual, mas permanece absolutamente objetiva<br />
122
– sem, no entanto, trazer essa dimensão do real para o interior da imagem. Instaura-se,<br />
então, uma espécie <strong>de</strong> pressão que ten<strong>de</strong> a romper com a unida<strong>de</strong> da imagem e forçar-lhe<br />
uma abertura, na qual se manifestaria a emergência <strong>de</strong> uma outra dimensão do sujeito, a<br />
qual também já não se encontraria mais subordinado ao código. Todavia, o gran<strong>de</strong><br />
incômodo que ela gera é sua impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> superar essa tensão e possibilitar o<br />
encontro entre o visível e o invisível, uma co-existência entre ambas na própria<br />
representação.<br />
O cinema traz essa herança da fotografia. Também ele tem esse po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> apontar<br />
para um momento do real movente. Mas, como se sabe, ele não paralisa o real em uma<br />
representação fixa. Ele tem o po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> restituir o movimento à imagem. E não é um mero<br />
efeito <strong>de</strong> trucagem promovido pelo aparato técnico. Pois, como foi <strong>de</strong>monstrado ao longo<br />
do presente trabalho, o movimento só é, <strong>de</strong> fato, restituído à imagem com a intervenção<br />
efetiva do público em sua própria constituição, quando ele se apropria das imagens<br />
expostas na tela e as restitui à duração pela ativida<strong>de</strong> da memória. É <strong>de</strong> lá que vem o<br />
movimento. De lá também surge toda a carga afetiva e singular <strong>de</strong>ssa imagem, que passará<br />
a ser única para cada um que se dispuser a participar da “situação cinematográfica”. Eis aí<br />
especificida<strong>de</strong> da imagem cinematográfica. A expressão do tempo só se torna possível à<br />
imagem porque ela resulta <strong>de</strong>sse encontro entre o visível – sustentado no “duplo palco”<br />
(Oudart), previsto no funcionamento do código, e para o qual tanto o real, quanto o sujeito,<br />
são submetidos – e o invisível – que passa a remeter, enfim, a uma outra dimensão <strong>de</strong>les,<br />
do real e do sujeito, que não se sujeita à tradução, que não se subjuga ao código. Essa é a<br />
abertura da imagem que lhe possibilita <strong>de</strong>sdobrar-se, transformar-se com a atuação da<br />
“vida interior” <strong>de</strong> cada espectador.<br />
Do ponto <strong>de</strong> vista da técnica, o aparato que instaura a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sse encontro<br />
entre o visível e o invisível é o projetor. É por meio <strong>de</strong>le que são criadas condições técnicas<br />
que viabilizam a “situação cinematográfica”. Na verda<strong>de</strong>, como vimos, ele remete à<br />
tradição da lanterna mágica, apreciada pelo público oci<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o século XVII.<br />
Quando, em fins do século XIX, surge o cinematógrafo <strong>de</strong> Lumière, ocorre essa espécie <strong>de</strong><br />
fusão entre a câmara obscura, a lanterna mágica, e as técnicas <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> imagens<br />
mutáveis, as quais haviam sido <strong>de</strong>senvolvidas ao longo do século XIX e foram associadas<br />
à lanterna mágica na produção <strong>de</strong> imagem luminosas e mutáveis antes mesmo do<br />
surgimento da imagem cinematográfica. O surgimento <strong>de</strong> cinematógrafo marca, enfim,<br />
123
esse momento ecumênico, no qual a versão “projetor” do aparelho reversível instaura a<br />
“situação cinematográfica”, quando máquina e público trabalharão juntos para a aparição<br />
das fotografias animadas. Animadas pela memória, pelo afeto.<br />
O reconhecimento <strong>de</strong>ssa co-existência entre o real e o virtual no interior da própria<br />
imagem móvel leva-nos, enfim, a <strong>de</strong>tectar na ambigüida<strong>de</strong> o seu traço mais marcante. Uma<br />
ambigüida<strong>de</strong> que brota justamente <strong>de</strong>ssa convivência entre a objetivida<strong>de</strong> fotográfica e a<br />
emergência da memória, no instante mesmo em que a imagem fixa é restituída à duração.<br />
São instâncias da imagem que estão além da parte que se submete ao seu processo <strong>de</strong><br />
codificação. Remetem, pois, ao invisível. O esforço <strong>de</strong> vários autores em <strong>de</strong>nunciar a<br />
artificialida<strong>de</strong> do código que sustenta tal representação, sobretudo nos anos sessenta e<br />
setenta, não nos permite, nos dias <strong>de</strong> hoje, tratar essa imagem <strong>de</strong> uma maneira ingênua,<br />
negligenciando todas as implicações que a manipulação e a camuflagem <strong>de</strong>sse código<br />
envolvem. Contudo, o reconhecimento <strong>de</strong>sse po<strong>de</strong>r que a representação possui <strong>de</strong> nos<br />
seduzir e nos enganar pelas aparências, <strong>de</strong> conquistar nosso imaginário e, por meio <strong>de</strong>le,<br />
construir um mundo <strong>de</strong> ilusões, atenuando no público seu po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> discernimento entre<br />
realida<strong>de</strong> e fantasia, ele não po<strong>de</strong> nos levar à negação <strong>de</strong> que, ainda assim, há algo nela que<br />
se mantém intacta, e que nos permite ter contato com alguma verda<strong>de</strong>. Em meio ao jogo <strong>de</strong><br />
ilusões e aparências construídas, po<strong>de</strong>mos encontrar lacunas nas quais o real emerge e<br />
disponibiliza-se a entrar em contato com nossa “vida interior”. Nas palavras <strong>de</strong> Barthes,<br />
através <strong>de</strong> um pequeno “<strong>de</strong>talhe”, po<strong>de</strong>mos ser tocados pelo punctum da imagem. É nesse<br />
pequeno toque, nesse pequeno júbilo, que a ambigüida<strong>de</strong> se manifesta em toda sua<br />
plenitu<strong>de</strong>. Não se po<strong>de</strong> compreen<strong>de</strong>r a ambigüida<strong>de</strong> da imagem cinematográfica, sem que<br />
superemos a dicotomia objetivida<strong>de</strong>/subjetivida<strong>de</strong>, pois ela se instaura justamente no<br />
instante em que real e virtual se confun<strong>de</strong>m, em um lugar que não se restringe mais à parte<br />
codificada da imagem, e no qual o público po<strong>de</strong> encontrar um outro lugar para o <strong>de</strong>vaneio,<br />
sem que seu imaginário fique preso às armadilhas promovidas pelo duplo palco que<br />
sustenta o funcionamento do código. A partir <strong>de</strong>ste outro lugar, a abertura semântica é<br />
restituída ao símbolo, permitindo-lhe explorar os limites entre o dizível e o indizível, entre<br />
a fala e o silêncio; e resgatando, para o sujeito, o direito <strong>de</strong> sonhar um outro sonho, mais<br />
real, mais verda<strong>de</strong>iro. Um sonho que passa a ser seu. Talvez essa seja, na verda<strong>de</strong>, a<br />
afirmação que tentávamos elaborar, sem sabê-lo, ao longo <strong>de</strong> todo o trabalho: o resgate da<br />
credibilida<strong>de</strong> à imagem, o direito do Ser em sonhar e encantar-se com os jogos <strong>de</strong> luz, o<br />
reconhecimento da importância da imaginação no processo <strong>de</strong> pensamento e, portanto, <strong>de</strong><br />
124
conhecimento, <strong>de</strong> si mesmo, e do mundo que o envolve. Não mais um encantamento<br />
ingênuo. Mas um encantamento esclarecido sobre a materialida<strong>de</strong> da imagem e seu<br />
comprometimento inevitável com o contexto histórico que a viabiliza. A consciência,<br />
enfim, da distinção entre a imagem e o real sem que se perca por ela a alegria do primeiro<br />
olhar.<br />
125
Bibliografia<br />
AUMONT, Jacques. A Imagem. [tradução Estela dos Santos Abreu e Cláudio Cesar<br />
Santoro]. Campinas, SP: Papirus, 1993.<br />
______________ . A estética do filme. [tradução Marina Appezeller]. Campinas, SP:<br />
Papirus, 1995.<br />
______________ . O ponto <strong>de</strong> vista. [tradução Marina Appezeller]. In: GEADA, Eduardo<br />
(Org.). Estéticas do cinema. Lisboa: Dom Quixote, 1985.<br />
AGOSTINHO, Santo. Confissões. [tradução J. Oliveira Santos, S.J. e A. Ambrósio <strong>de</strong><br />
Paiva, S.]. In Os Pensadores. São Paulo, SP: Abril Cultural, 1973.<br />
BAUDRY, Jean-Louis. “Cinema: Efeitos i<strong>de</strong>ológicos produzidos pelo aparelho <strong>de</strong> base”.<br />
[tradução Vinícius Dantas] In: XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do cinema. Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro: Graal, 1983. pp. 382-340. (“Cinéma: Effects idéologiques produits par<br />
l‟appareil <strong>de</strong> base”, Cinéthique 7/8, 1970)<br />
BARTHES, Roland, GUATARI, Félix, KRISTEVA, Júlia, METZ, Christian. Psicanálise e<br />
cinema. [tradução Pierre André Ruprecht] São Paulo: Global, 1980. (Psycanalyse et<br />
cinéma. Paris: Communications n o 23 Editions du Seuil, 1975.)<br />
______________ . A Câmara clara: nota sobre a fotografia. [tradução Júlio Castañon<br />
Guimarães] Rio <strong>de</strong> Janeiro: Nova Fronteira, 1984. (La chambre claire. Paris:<br />
Cahiers/Gallimard/ Seil, 1980.)<br />
BAZIN, André. “Ontologia da imagem fotográfica”. [tradução Hugo Sérgio Franco] In:<br />
XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do cinema”. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Graal, 1983. pp.<br />
121-128. (“Ontologie <strong>de</strong> l‟image photogrphique”. In: Qu’est-ce que le cinéma? . Paris:<br />
Cerf, vol. I, 1958.)<br />
______________ . O cinema da cruelda<strong>de</strong>. [tradução Antônio <strong>de</strong> Pádua Danesi] São<br />
Paulo: Martins Fontes. 1989.<br />
______________ . “Montagem proibida”. In O cinema: ensaios. [tradução Heloisa <strong>de</strong><br />
Araújo Ribeiro] São Paulo, SP: Brasilense, 1991. pp. 54-65.<br />
BELLOUR, Raymond. Entre-imagens. [tradução Luciana A. Penna] Campinas, SP:<br />
Papirus. 1997.<br />
126
BERGSON, Henri. Matéria e Memória – Ensaio sobre a relação do corpo com o espírito.<br />
[tradução Paulo Neves da Silva]. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1990. (Matière et<br />
mémoire. Presses Universitaires <strong>de</strong> France, 1939.)<br />
______________ . A Evolução Criadora. Capítulo II. In: Cartas, Conferências e outros<br />
escritos. [seleção <strong>de</strong> textos <strong>de</strong> Franklin Leopoldo e Silva; traduções <strong>de</strong> Franklin<br />
Leopoldo e Silva, Nathanael Caxeiro] – 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984.<br />
COUCHOT, Edmond. “Da representação à simulação: Evolução das técnicas e das artes da<br />
figuração”. In: PARENTE, André (Org.). Imagem Máquina. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Ed. 34,<br />
1993.<br />
COUTINHO JORGE, Marco Antônio. Fundamentos da psicanálise <strong>de</strong> Freud a Lacan.<br />
Vol. 1: As Bases Conceituais. Rio <strong>de</strong> Janeiro, RJ: Jorge Zahar Ed., 2000<br />
DAYAN, Daniel. “O código matriz do cinema clássico”. In: GEADA, Eduardo (Org.).<br />
Estéticas do cinema. Lisboa: Dom Quixote, 1985. pp. 97-115<br />
DELEUZE, Gilles. Cinema 1 – A imagem-movimento. São Paulo: Brasiliense, 1983.<br />
______________ . Cinema 2 – A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 1990.<br />
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. [tradução Marina Appenzeller] Campinas, SP:<br />
Papirus, 1994. (L’acte photographique. Paris: Nathan Université, 1990.)<br />
______________ . “A fotografia panorâmica ou quando a imagem fixa faz sua encenação”.<br />
In: SAMAIN, Etienne. O fotográfico. São Paulo: Hucitec, 1998. pp. 209-230.<br />
______________ . “A linha geral (as máquinas <strong>de</strong> imagens)”. In: Ca<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong><br />
Antropologia e Imagem/Universida<strong>de</strong> do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro, Núcleo <strong>de</strong><br />
Antropologia e Imagem. Rio <strong>de</strong> Janeiro: UERJ, NAI, v. 9, n. 2, p. 65-85, 1999.2.<br />
ELIADE, Mircea. Mito e realida<strong>de</strong>. [tradução Póla Civelli] São Paulo, SP: Perspectiva,<br />
2000. (Myth and reality. New York, N.Y.: Harper & Row Publishers, Inc, 1963.)<br />
FRANCASTEL, Pierre. A realida<strong>de</strong> figurativa. [tradução Mary Amazonas Leite <strong>de</strong> Barros]<br />
São Paulo, SP: Perspectiva. 1993. (La realité figurative. GONTHIER, Paris, 1965.)<br />
GERNSHEIM, Helmut. História gráfica <strong>de</strong> la fotografia. (tradução Emma Gire)<br />
Barcelona: Omega, 1966.<br />
GORKI, Máximo. “No país dos espectros”. In: PRIEUR, Jerôme (Org.). O espectador<br />
noturno. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Nova Fronteira, 1995. pp. 28-31.<br />
HUSSERL. Lês Méditations Cartésiennes. Vrin, Paris, 1953.<br />
KOYRÉ, Alexandre. Étu<strong>de</strong>s d’histoire <strong>de</strong> la Pensée Philosophique. Paris: Gallimard,<br />
1971. (Estudos <strong>de</strong> História do Pensamento Filosófico. [tradução Maria <strong>de</strong> Lour<strong>de</strong>s<br />
Menezes]. Rio <strong>de</strong> Janeiro, RJ: Forense, 1991.)<br />
LACAN, Jacques. Os complexos familiares na formação do indivíduo . [tradução Marco<br />
Antônio Coutinho Jorge e Potiguara Men<strong>de</strong>s da Silveira Júnior]. Rio <strong>de</strong> Janeiro, RJ:<br />
Jorge Zahar Ed., 1985.<br />
______________ . Seminário 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. [texto<br />
estabelecido por Jacques Alain-Miller; tradução M. D. Magno] – 2.ed. – Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.<br />
127
LAPLANCHE, Jean, PONTALIS, I. Vocabulário <strong>de</strong> psicanálise. [tradução Pedro Tamen].<br />
– 3 a ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1998.<br />
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: O futuro do pensamento na era da<br />
informática. [ tradução Carlos Irineu da Costa] rio <strong>de</strong> janeiro, RJ: Ed. 34, 1993.<br />
MACHADO, Arlindo. A ilusão especular – Introdução à fotografia. São Paulo:<br />
Brasiliense, 1984.<br />
______________ . Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 1997.<br />
______________ . Anamorfoses cronotópicas ou a quarta dimensão da imagem. In:<br />
PARENTE, André (Org.). Imagem-máquina. Rio <strong>de</strong> Janeiro: 34, 1993. pp. 100-116.<br />
MANNONI, Laurent. “A conquista do movimento contínuo – Nascimento e<br />
comercialização da cronofotografia”. In: BERTETTO, Paolo, CAMPAGNONI,<br />
Donata Pesenti (Org.). A magia da imagem – A arqueologia do cinema através das<br />
coleções do Museu Nacional <strong>de</strong> Cinema <strong>de</strong> Turim. Lisboa: Centro Cultural <strong>de</strong> Belém,<br />
1996. pp. 143-165.<br />
MICHOTTE, André. „Le caractère <strong>de</strong> „réalité‟ <strong>de</strong>s projetions cinematografiques”. In:<br />
Revue internationale <strong>de</strong> filmologie, no 3-4, 1948, pp. 249-261.<br />
MITRY, Jean. Esthétique et psychologie du cinéma. PUF, Paris, 1965.<br />
MORIN, Edgar. Le cinéma ou l’homme imaginaire. Paris: Minuit. 1956.<br />
NEWHALL, Baumont. The history of photography. New York: The Museum of Mo<strong>de</strong>rn<br />
Art, 1982.<br />
OUDART, Jean-Pierre. La Suture, I e II, in Cahiers du Cinéma, n o 211 e n o 212 (Abril e<br />
Maio <strong>de</strong> 1969), Travail, Lecture, Jouissance, in Cahiers du Cinema, n o 222 (com S.<br />
Daney – julho <strong>de</strong> 1970), Um Discours em Defaut, in Cahiers du Cinéma, n o 232<br />
(Outubro <strong>de</strong> 1971)<br />
PANOFSKY, Erwin. La perspective comme formme symbolique. Paris: Minuit, 1975.<br />
PEIRCE, Charles San<strong>de</strong>r. Écrits sur le signe. Paris: Seuil, 1978.<br />
PEIXOTO, Nelson Brissac. “A pintura, a fotografia, o cinema e a luz”. In: XAVIER,<br />
Ismail (Org.). O cinema no século. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Imago, 1996. pp. 291-305.<br />
PRIEUR, Jerôme (Org.). O espectador noturno. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Nova Fronteira, 1995. pp.<br />
28-31.<br />
RAMOS, Fernão. “Indicialida<strong>de</strong> e narrativida<strong>de</strong> na constituição da imagem-câmera”.<br />
Imagens. Campinas, SP: Unicamp, n. 1, abril. 1994. pp. 62-65.<br />
______________ . “Alguns aspectos estruturais da imagem-câmera e sua particular<br />
intensida<strong>de</strong>”. In: XAVIER, Ismail (Org.). O cinema no século. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Imago,<br />
1996. pp. 141-160.<br />
ROBINSON, David. “Acerca <strong>de</strong> uma classe particular <strong>de</strong> ilusão óptica – A Evolução do<br />
Movimento Cinematográfico”. In: BERTETTO, Paolo, CAMPAGNONI, Donata<br />
Pesenti (Org.). A magia da imagem – A arqueologia do cinema através das coleções<br />
do Museu Nacional do Cinema <strong>de</strong> Turim. Lisboa: Centro Cultural <strong>de</strong> Belém, 1996. p.<br />
123-141.<br />
128
ROUDINESCO, Elisabeth, PLON, Michel. Dicionário <strong>de</strong> psicanálise. [tradução Vera<br />
Ribeiro e Lucy Magalhães].<br />
SANTAELLA, Lucia. “Os três paradigmas da imagem” in SAMAIN, Etienne. O<br />
Fotográfico. São Paulo: Hucitec, 1998.<br />
______________ . “A imagem pré-fotográfica-pós” in Imagens, n. o 3. Campinas: Ed. Da<br />
Unicamp, 1994.<br />
SARTRE, Jean-Paul. A Imaginação. [tradução Luiz Roberto Salinas Fortes]. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro, RJ: Bertrand, 1989.<br />
______________ . O Imaginário. [tradução Duda Machado]. São Paulo, SP: Ática. 1996.<br />
SCHAEFFER, Jean-Marie. L’image précaire. Seuil, 1987.<br />
SCHEFER, Jean-Louis. Scenographie d’un tableau. Paris: Seuil, 1969<br />
______________ . O Imaginário. [tradução Duda Machado]. São Paulo, SP: Ática, 1996.<br />
(L’ Imaginaire. Gallimard (Idées), 1940.)<br />
SZAMOSI, Géza. Tempo e espaço – As dimensões gêmeas. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Jorge Zahar<br />
Editor, 1988.<br />
VIRILIO, Paul. La maquina <strong>de</strong> vision. [traducción Mariano Antolín Rato] Madrid:<br />
Cátedra, 1989. (La machine <strong>de</strong> vision. Paris Galilée, 1988.)<br />
XAVIER. Ismail. O discurso cinematográfico: a opacida<strong>de</strong> e a transparência. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: Paz e Terra, 1984.<br />
129