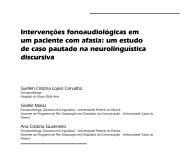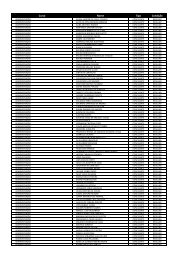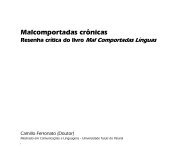“POR TRÁS DOS PORTÕES” – A DISCIPLINA NO COLÉGIO ...
“POR TRÁS DOS PORTÕES” – A DISCIPLINA NO COLÉGIO ...
“POR TRÁS DOS PORTÕES” – A DISCIPLINA NO COLÉGIO ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>“POR</strong> <strong>TRÁS</strong> <strong>DOS</strong> <strong>PORTÕES”</strong> <strong>–</strong> A <strong>DISCIPLINA</strong> <strong>NO</strong><br />
<strong>COLÉGIO</strong> MILITAR DE CURITIBA (1959-164)<br />
INTRODUÇÃO<br />
A história do país foi marcada pela constante presença dos militares<br />
no cenário político brasileiro. Em momentos de crise institucional, as<br />
Forças Armadas apareceram como atores políticos atuantes, como por<br />
exemplo, em 1889, com a Proclamação da República, em 1930 com<br />
a derrubada da República oligárquica e, em 1945, com a deposição<br />
de Getúlio Vargas. Os militares ainda participaram do processo que<br />
estabeleceu um regime democrático que vigorou de 1945 a 1964, além<br />
de garantir a posse de Juscelino Kubitschek em 1955. 1<br />
Dessa forma, até 1964, os militares mostraram-se na condição de<br />
arbitral-tutelar; saindo dos quartéis para intervir e restabelecer a ordem<br />
política para em seguida, transferir o poder aos civis. Em conseqüência<br />
dessas constantes intervenções, foi criada uma cultura militar no Brasil,<br />
na qual as Forças Armadas emergiram com o poder de arbitrar as crises<br />
políticas em nome da ordem interna, afinal ao soldado competia a missão<br />
providencial de salvar a pátria.2<br />
A representação criada como “salvadores da pátria” justificou a<br />
tomada do poder em 1964, justificativa esta ideológica e embasada na<br />
Doutrina de Segurança Nacional (DSN) 3 . E para tanto, seria preciso<br />
criar um ideário entre a população que legitimasse a idéia de segurança<br />
Autor: Fabiana Maria Leal<br />
Orientador: Viviane Maria Zeni<br />
nacional. Nesse sentido, a escola aparece como uma forte instituição<br />
formadora de indivíduos que poderiam reproduzir tais idéias.<br />
A escola, além de ter como objetivo a transmissão de conhecimentos,<br />
mostra-se como modeladora de condutas. A preocupação na formação<br />
intelectual do aluno vem acompanhada de um interesse em formar um<br />
determinado indivíduo para uma determinada sociedade. Desta forma, a<br />
escola aparece com a função de preparar o aluno para o mundo, seguindo<br />
os valores ensinados que são transmitidos pela instituição. Percebendo<br />
este importante papel da escola, o Exército utilizou a educação como<br />
uma ponte entre setores militares e civis. Assim sendo, o Colégio Militar<br />
despontou como uma forma de aproximação entre ambos, fazendo com<br />
que os ideais defendidos pelo Exército fossem disseminados.<br />
O primeiro Colégio Militar no Brasil foi criado em 1888, na cidade<br />
do Rio de Janeiro. Este tinha como finalidade garantir a educação dos<br />
órfãos de militares que haviam morrido ou que se tornaram inaptos na<br />
Guerra do Paraguai. O Colégio tinha como grande diferencial a instrução<br />
e educação militar, induzindo os alunos a seguirem carreira nas Forças<br />
Armadas. A instituição criou um grande renome pela sua qualidade de<br />
ensino e este renome fez com que o próprio Exército fosse vislumbrado<br />
com outro olhar pelos civis. Percebendo o grande destaque do Colégio<br />
Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), o Exército criou, no decorrer do século<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 1<br />
| História | 2009
XX, outros Colégios pelo Brasil nos mesmos moldes do CMRJ. O Paraná<br />
não fugiu a esta regra e, em 1959, foi criado na capital o Colégio Militar<br />
de Curitiba (CMC).<br />
A opção do Colégio Militar de Curitiba como objeto de estudo,<br />
foi motivada por conversas entre familiares e amigos que passaram<br />
por instituições militares, e neste caso específico, o Colégio Militar<br />
de Curitiba. O amor pela instituição, descrito por esses, conduziu a<br />
reflexões e instigaram alguns questionamentos, tais como: Como era<br />
a educação militar direcionada às crianças? Qual era o cotidiano dos<br />
alunos no Colégio? De que maneira a disciplina militar era ensinada?<br />
Que tipo de aluno pretendia formar o Exército?<br />
A escolha do representante paranaense dos Colégios Militares fez<br />
com que o olhar fosse conduzido à temporalidade que compreende o ano<br />
de 1959, o qual foi inaugurado o CMC, até 1964, ano em que ocorreu<br />
no país o Golpe civil-militar.<br />
Para compreender o dia-a-dia dos alunos e o programa de ensino<br />
do CMC , as fontes utilizadas foram: o Boletim Interno (BI) da<br />
instituição (1959-1964) e o Registro Histórico, localizados no arquivo<br />
do CMC, além de entrevistas concedidas por ex-alunos. O primeiro<br />
é corpo de documentos, isto é, registro detalhado do dia-a-dia de<br />
todos aqueles que trabalharam e estudaram no Colégio. Nestes<br />
documentos, foram registrados os discursos das cerimônias, as ordens<br />
do dia, as punições dos alunos, o programa de ensino, além da própria<br />
administração escolar. Estes eram organizados por trimestres e para<br />
a realização da pesquisa foram consultados 24 Boletins Interno o que<br />
exigiu um trabalho intenso de leitura e seleção no arquivo do CMC.<br />
Já, o Registro Histórico é um documento mais resumido do Boletim<br />
e aborda a parte referente à organização geral do Colégio entre os<br />
anos de 1959 e 1988, o processo de sua criação e os discursos feitos<br />
na sua inauguração.<br />
As entrevistas tiveram papel fundamental no desenvolvimento do<br />
trabalho, pois proporcionaram uma proximidade maior com a realidade<br />
escolar e as experiências vividas pelos alunos que estudaram no período.<br />
E para tanto, foi utilizada a metodologia da História Oral com o intuito de<br />
suprir lacunas encontradas na leitura de outras fontes.<br />
Importa aqui considerar que, o trabalho com a memória requer<br />
cuidados especiais, pois como indica Michael Pollak, a memória é<br />
composta por diferentes elementos, como também por fenômenos de<br />
projeção e transferência que podem ocorrer tanto dentro da organização<br />
da memória individual quanto na ordenação da memória coletiva. Com<br />
bases nestas indicações, pode-se perceber que a memória é seletiva,<br />
uma vez que nem tudo fica gravado e registrado. Portanto, a memória<br />
é um fenômeno construído, além de ser fundamental na construção do<br />
sentimento de identidade. 4<br />
Nesse sentido, a metodologia da História Oral constituiu-se em um<br />
recurso caracterizando-se como uma fonte construída, pois se levou em<br />
conta que as pessoas entrevistadas, trouxeram à tona o passado, porém<br />
com o referencial do presente, que comandou o depoimento. Dessa<br />
forma, nesta pesquisa buscou-se estabelecer uma relação dialética entre<br />
testemunho oral e documentação escrita. 5<br />
Para ter um entendimento melhor do papel do ensino escolar, levou-<br />
se em consideração o fato de que a escola não é um espaço neutro e<br />
transitório onde os alunos apenas adquirem conhecimento intelectual,<br />
mas o de que ela [a escola] é, sim, observada como um lugar marcado<br />
por relações de poder, pois visam modelar não apenas o intelecto, mas<br />
também os corpos, os discursos dos indivíduos. Tal consideração exigiu,<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 2<br />
| História | 2009
portanto, uma discussão sobre o controle e a disciplina, questões que<br />
estão imbricadas ao cotidiano das instituições escolares. Por este motivo,<br />
o presente trabalho usou as indicações teóricas de Michel Foucault, para a<br />
análise do modelo disciplinar implantado no Colégio Militar de Curitiba.<br />
Além das análises teóricas de Foucault, outros trabalhos foram de<br />
extrema importância para a realização desta pesquisa. A dissertação<br />
intitulada “O sabre e o livro” trajetórias históricas do Colégio Militar<br />
de Curitiba (1959-1988), de Gilberto de Souza Vianna, foi fundamental<br />
para esclarecer as inúmeras dúvidas que surgiram durante a leitura das<br />
fontes. Por ser a primeira pesquisa a abordar a realidade no interior<br />
de um colégio militar, no caso o CMC, a leitura do trabalho realizado<br />
pelo historiador Vianna torna-se obrigatória àqueles que pretendem<br />
compreender a educação nesses colégios. As dificuldades encontradas<br />
na leitura das fontes devido ao jargão militar, foram por diversas vezes<br />
esclarecidas na leitura de sua pesquisa.<br />
Somada a essas referências, fez-se necessário a leitura do livro<br />
“O ensino por unidades didáticas”, de Irene Mello Carvalho. Nesta, a<br />
autora explica a pedagogia do educador estadunidense Henry Morrison,<br />
que utiliza as unidades didáticas para a formação dos alunos de ensino<br />
secundário. A compreensão foi necessária por se tratar da pedagogia<br />
utilizada no Colégio Militar de Curitiba.<br />
Com base nesses referenciais e no conjunto documental acima citado,<br />
o presente trabalho foi dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo<br />
apresenta o processo de criação do Colégio Militar do Rio de Janeiro,<br />
modelo para os outros colégios, e sua relação com o contexto pelo qual<br />
passava o país, bem como as dificuldades encontradas na sua fundação.<br />
Além disso, mostra a criação e o fechamento de outros colégios militares<br />
durante o século XX, motivados por críticas realizadas sobre a validade<br />
das instituições de ensino militares. Na seqüência, a contribuição do<br />
General Henrique Teixeira Lott foi contemplada, uma vez que em meados<br />
da década de 1950 o General motivou o governo a apoiar e criar novos<br />
Colégios Militares, dentre eles o Colégio Militar de Curitiba.<br />
O programa de ensino do CMC e o cotidiano dos alunos foram<br />
abordados no segundo capítulo. Neste, o controle do tempo e do espaço<br />
escolar foram os pilares para a análise da disciplina militar ensinada.<br />
Todos estavam submetidos a rígidos regulamentos que seriam usados<br />
como fio condutor para modelar condutas desejadas pelo Exército.<br />
Nesse sentido, aqueles alunos que não respeitassem as regras eram<br />
penalizados dentro do sistema disciplinar vigente no CMC.<br />
Nas reflexões realizadas durante o trabalho, buscou-se compreender<br />
de que maneira o ensino militar era transmitido aos alunos com o intuito<br />
de formar um cidadão ideal para a sociedade civil. No entanto, importa<br />
aqui esclarecer que as lacunas deixadas pela pesquisa apresentam-<br />
se como incentivo a novos trabalhos dentro de um tema tão pouco<br />
abordado.<br />
Finalmente,convido o leitor a entrar pelos portões do Colégio Militar<br />
de Curitiba e vivenciar o ensino militar.<br />
1. BRASIL: A CRIAÇÃO <strong>DOS</strong> <strong>COLÉGIO</strong>S<br />
MILITARES<br />
1.1. Origens dos colégios militares no Brasil<br />
A Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870)<br />
foi um dos mais destrutivos conflitos que assolaram a América do Sul<br />
no século XIX. O Paraguai, diferentemente de outros Estados latino-<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 3<br />
| História | 2009
americanos, após a independência implantou um conjunto de medidas<br />
que fez surgir uma indústria autônoma e competitiva melhorando as<br />
condições de vida da população. Porém, a falta de uma saída marítima<br />
para escoar a produção industrial dificultava o crescimento econômico<br />
do país. Era preciso atravessar a Bacia do Prata, cuja as possessões<br />
territoriais pertenciam ao Brasil, Uruguai e Argentina o que ocasionava,<br />
muitas vezes, conflitos diplomáticos. Para resolver o problema da<br />
produção paraguaia, Francisco Solano Lopez organizou um projeto de<br />
expansão territorial que garantisse uma saída marítima ao Oceano<br />
Atlântico. Ameaçados, Brasil, Uruguai e Argentina uniram-se, em<br />
1865, através do acordo conhecido como Tríplice Aliança. Esta união<br />
teve o apoio da Inglaterra que não via com bons olhos a independência<br />
econômica e a grande “potência” que o Paraguai havia se transformado,<br />
além do “mau” exemplo que poderia dar a outros países da região.<br />
Através de empréstimos e apoio militar concedidos pelos ingleses, após<br />
5 anos, em 1870, a Paraguai foi derrotado.<br />
O Brasil, por sua vez, para participar do conflito, organizou as Forças<br />
Armadas por intermédio do recrutamento de novos contingentes. Porém,<br />
havia grandes dificuldades, pois tanto o Exército quanto a Marinha<br />
utilizavam punições e aliciamento forçado o que não tornava atraente a<br />
vida militar. Devido à urgência do momento, o governo Imperial tentou<br />
rever estas práticas numa tentativa de garantir um número maior de<br />
soldados, mas as mudanças não surtiram efeitos o que fez com que a<br />
Guarda Nacional6 fosse convocada. Esta atitude pôs fim ao corpo de<br />
elite em que se transformou a Guarda Nacional, permitindo aos praças<br />
do Exército que se apresentassem em condições iguais às dos guardas<br />
tendo direito as mesmas vantagens. Em 1867, quando a escassez de<br />
efetivos se agravou, o decreto n.3.972 estendeu a convocação a todos<br />
os cidadãos do Império prometendo como incentivo uma gratificação antes<br />
do embarque. A Guarda Nacional e os praças ganharam reforços de todas<br />
procedências: brancos e mulatos empobrecidos, escravos7 e libertos, filhos<br />
de políticos latifundiários, todos cumpridores do papel de “voluntários”.<br />
Estes resistiam à convocação e eram muito comuns estratégias para<br />
fugir ao voluntarismo, o que obrigou o governo a elaborar estratégias de<br />
recrutamento que, em alguns casos, implicava a punição.<br />
Mesmo tendo enfrentado problemas com o recrutamento e voltado<br />
vitorioso da Guerra, o Exército Brasileiro sofreu muitas baixas entre<br />
seus soldados e os que voltaram precisavam de assistência. Ainda no<br />
início dos conflitos, muitos brasileiros comovidos pelos horrores da<br />
guerra, que apresentava inúmeros soldados mutilados e diversos órfãos,<br />
mobilizaram-se, visando a amparar os “voluntários da pátria” e suas<br />
famílias. Isso deu origem à idéia da criação de um Asilo que abrigasse<br />
todos os inválidos da guerra e àqueles soldados que não possuíam meios<br />
de subsistência. O principal ideólogo foi o Visconde de Tocantins, José<br />
Joaquim de Lima e Silva Sobrinho, irmão de Luís Alves de Lima e Silva,<br />
o Duque de Caxias. Esse, militar e senador apresentou uma proposta<br />
para a criação da “Sociedade do Asilo dos Inválidos da Pátria” em 1865.<br />
A instituição, sob proteção do Imperador e com a sede na capital do<br />
Império, tinha como objetivo auxiliar o governo a fundar e custear o<br />
então asilo. Os Estatutos da Sociedade foram aprovados pelo Decreto<br />
Imperial n.3904, de 3 de julho de 1867. No entanto, não havia verba<br />
suficiente para a fundação, os empréstimos feitos pelo Imperador para<br />
financiar a guerra, fizeram com que a dívida externa aumentasse, não<br />
permitindo assim, que o governo contribuísse muito. Alguns setores da<br />
população do Rio de Janeiro, juntamente com a Associação Comercial 8 ,<br />
por intermédio de festas beneficentes arrecadou fundos para o Asilo,<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 4<br />
| História | 2009
que foi inaugurado em 29 de julho de 1868, com sede no Rio de Janeiro,<br />
com a finalidade de:<br />
1° - auxiliar o Governo na fundação e custeio de um Asilo, ao qual<br />
fossem recolhidos os servidores da Pátria, inválidos em serviço;<br />
2° - proteger a educação dos órfãos, filhos dos militares mortos em<br />
campanha, ou mesmo quando destacados no serviço das armas;<br />
3° - socorrer as mães viúvas e filhos dos militares mortos, ou<br />
impossibilitados do serviço em combate. 9<br />
Além de amparar os soldados e familiares, o Visconde de Tocantins<br />
também ansiava criar um Colégio Militar com sede própria e pertencente<br />
ao patrimônio do Asilo10. O Colégio também beneficiaria os filhos dos<br />
militares mortos em combate, por esse motivo o ensino deveria ser de<br />
boa qualidade, pois essa seria talvez, a única chance de estudo que<br />
os órfãos teriam. Porém, a criação do educandário não foi possível no<br />
momento pelos mesmos motivos que dificultaram a fundação do Asilo:<br />
falta de verbas do governo.<br />
Importa ressaltar que, o ambiente social brasileiro nesse momento<br />
era bastante turbulento, e após a Guerra do Paraguai a situação piorou. O<br />
Imperador havia gastado cerca de onze vezes o orçamento da União, o que<br />
aumentou a dívida externa e conseqüentemente o corte de gastos em vários<br />
setores, entre eles, as Forças Armadas. Segundo Celso Castro, a situação<br />
financeira do Exército no período de 1870-1889 pode confirmar essa<br />
afirmação. De acordo com o autor, as despesas que o governo imperial tinha<br />
com os militares caíram cerca de 15% do total nacional nos anos seguintes<br />
ao final da Guerra do Paraguai para cerca de 10% durante toda a década<br />
de 1880. A diminuição dos gastos contou também com a transferência de<br />
estabelecimentos sob a responsabilidade do Ministério da Guerra para<br />
Ministérios Civis, o que acabou afetando o número efetivo de oficiais 11 .<br />
Esta diminuição dos gastos com as Forças Armadas também foi<br />
impulsionada pelo caráter marginal que este ocupava para D. Pedro<br />
II, que por sua vez, temia que o Exército fosse vislumbrado como o<br />
herói e libertador do Império. A supremacia do poder civil foi uma das<br />
características mais notáveis da política imperial. Para José Murilo de<br />
Carvalho, conforme Celso Castro, o controle civil da política durante o<br />
Império foi em grande parte possível graças à homogeneidade da elite<br />
portuguesa e, posteriormente, brasileira. A educação superior, com<br />
predomínio absoluto dos cursos de direito, foi importante elemento de<br />
unificação ideológica da elite política imperial. 12 Com isso, os conflitos<br />
entre esta elite e os militares, que tinham em seus estudos superiores<br />
ênfase nas ciências, eram claras. Além do governo imperial, era preciso<br />
lutar também contra o baixo prestígio social da profissão militar. As<br />
funções e cargos públicos eram ocupados pelos bacharéis em Direito<br />
e dificilmente militares assumiam essas posições. Duque de Caxias e<br />
Manuel Luís Osório quando assumiram importantes posições políticas,<br />
só as conseguiram na condição de representantes de partidos e não por<br />
serem militares.<br />
O Exército, portanto, passava por dificuldades financeiras e não podia<br />
contar com o apoio do Império, conseqüentemente não podia ajudar o Asilo<br />
dos Inválidos da Pátria, que também não passava por bons momentos. As<br />
doações públicas em 1885 eram escassas e, aproveitando essa pecha,<br />
os homens do comércio, que eram os maiores doadores da instituição<br />
reivindicaram a união da Associação Comercial ao Asilo. Esses alegaram<br />
que “se no Asilo não entrava mais sócio, desde a fundação, mais dia menos<br />
dia, acabariam seus bens revertendo ao Estado, por morte da Sociedade<br />
e falta de administrador.” 13 Depois de várias disputas e descontentamento<br />
por parte dos militares, a instituição foi entregue à Associação Comercial.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 5<br />
| História | 2009
Em 1888, quando Thomas Coelho de Almeida assumiu o Ministério<br />
da Guerra, o Asilo ainda não havia sido entregue aos homens de comércio<br />
devido a grande pressão feita pelos militares. O ministro também ansiava<br />
a criação de um Colégio Militar e por este motivo, tentou um acordo com<br />
a associação: o governo imperial homologaria a fusão, assumindo as<br />
pendências em relação ao patrimônio do Asilo, que seria incorporado à<br />
Associação Comercial. Com isso, esta entraria com recursos necessários à<br />
aquisição de um imóvel destinado à instalação de um Colégio Militar. Assim<br />
sendo, em 25 de abril de 1888, foi homologada, pela Resolução Imperial,<br />
a fusão entre as duas entidades e a Associação obteve todos os direitos<br />
e obrigações da Sociedade do Asilo dos Inválidos da Pátria. Ou seja, os<br />
homens de comércio ficariam obrigados a manter o Asilo e o Colégio. Dessa<br />
forma, o Decreto Imperial 10.202 foi assinado em 9 de março de 1889,<br />
oficializando assim, o nascimento do Imperial Colégio Militar da Corte.<br />
Escusado citar que, o Imperial Colégio foi criado em um momento de<br />
grandes agitações políticas e sociais no país. O descontentamento com<br />
o Império crescia e o movimento republicano se fortalecia cada vez mais,<br />
sobretudo entre os militares da Corte, estabelecidos na Academia da<br />
Praia Vermelha. O grupo que iniciou a conspiração republicana no interior<br />
do Exército foi de jovens oficiais com estudos superiores ou “científicos”<br />
influenciados pelas idéias positivistas de Auguste Comte apresentadas<br />
por Benjamin Constant, que:<br />
[...] colocando-se sempre à luz das suas obrigações de professor de<br />
Geometria Analítica, [...] na verdade o que fazia era apresentar e<br />
exaltar o Positivismo, nos seus aspectos de filosofia das ciências.<br />
Nele eram colocados desde o agnosticismo, a relatividade histórica<br />
dos acontecimentos, a exaltação da ciência, até a conceituação<br />
da dinâmica social e política, até, naturalmente, a condenação dos<br />
regimes monárquicos. 14<br />
Esta afirmação pode ser articulada as análises de José Murilo de<br />
Carvalho, ao indicar que mesmo as teses positivistas apontando um<br />
governo militar como obstáculo ao progresso, teoricamente tais idéias<br />
foram adaptadas pelos militares brasileiros. Isto se deu porque no Brasil,<br />
os militares tinham uma formação técnica, em oposição à formação<br />
literária da elite civil, e sentiam-se fortemente atraídos pela ênfase dada<br />
pelo positivismo à ciência. 15<br />
Com a criação do Colégio Militar, o Ministro Thomas Coelho buscou<br />
acalmar os ânimos dos militares republicanos com uma demonstração<br />
de boa vontade do Império para com os filhos desamparados dos<br />
militares. 16 No entanto, a tentativa de conquistar os oficiais para o<br />
Império não surtiu efeito e o clima turbulento permaneceu. Além de<br />
militares, outros setores não estavam satisfeitos com as atitudes<br />
tomadas pelo imperador. Os grandes fazendeiros, por exemplo,<br />
reivindicavam indenizações ao governo devido ao prejuízo gerado pelas<br />
medidas abolicionistas adotadas para a extinção da escravidão. Com a<br />
Lei Áurea (1888), a situação dos grandes proprietários de terras piorou<br />
aumentando a insatisfação com o Império. Outro grupo a mostrar<br />
seu descontentamento foi o clero, que submetido ao Estado, devia<br />
obediência a D. Pedro II. Como este era adepto da maçonaria, mandou<br />
que os bispos de Olinda (PE) e Belém (PA) parassem com as punições<br />
a maçons na região. Este episódio fez com que a Igreja não visse com<br />
bons olhos as ações do governo.<br />
Com tantas manifestações contra o governo Imperial, em 15 de<br />
novembro de 1889 a República foi proclamada. Porém, mesmo que a<br />
proclamação tenha sido realizada por um ato militar, em parte desvinculado<br />
do movimento republicano civil, as suas raízes devem ser buscadas mais<br />
longe e mais fundo, escapando ao propósito desta pesquisa. No entanto,<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 6<br />
| História | 2009
neste momento importa aqui considerar que o valor simbólico de sua<br />
instauração é inegável, pois como indica José Murilo de Carvalho:<br />
[...] Não por outra razão que tanto se lutou por sua definição<br />
histórica. Deodoro, Benjamim Constante, Quintinho Bocaiúva,<br />
Floriano Peixoto: Não há inocência na briga pela delimitação do papel<br />
de cada uma dessas personagens. Por trás da luta, há disputa de<br />
poder e há visões distintas sobre a natureza da República. 17<br />
E no meio da disputa pelo poder entre as distintas visões, o Imperial<br />
Colégio Militar continuou a exercer suas atividades, motivando anos mais<br />
tarde, a criação de outros colégios com as mesmas características.<br />
1.2. Colégio Militar do Rio de Janeiro: um<br />
modelo a ser seguido<br />
Além de inspiração política com o Positivismo, a França também foi<br />
exemplo para a educação no Imperial Colégio Militar da Corte (Colégio<br />
Militar do Rio de Janeiro). A idéia veio da existência do Prytanée de<br />
La Fleche criado por Napoleão Bonaparte a 28 de março de 1808 na<br />
França 18 . Este colégio era administrado pelo Exército, especificamente<br />
pelo Ministério da Guerra, cujo cargo principal cabia a um coronel e<br />
contava com a participação de professores civis que lecionavam em<br />
universidades. A concepção e aplicação do ensino eram iguais aos de<br />
outros estabelecimentos secundários do país. No entanto, o colégio<br />
destinava-se, principalmente, aos filhos dos militares. Com demais<br />
atributos resultantes do movimento francês, o Prytanée também exerceu<br />
grande influência sobre os militares brasileiros. Esta afirmação pode ser<br />
constatada devido ao primeiro nome dado ao colégio: Pritaneu Militar,<br />
nome este vetado por D. Pedro II que optou por denominá-lo Imperial<br />
Colégio Militar.<br />
Após a criação do Colégio no Brasil foi aprovado o seu primeiro<br />
regulamento, o qual estabelecia as regras de funcionamento do<br />
educandário. Em linhas gerais, o estabelecimento tinha como objetivo<br />
a instrução e educação militar. Quem possuía prioridade absoluta eram<br />
os filhos e netos dos que morreram em combate, ou que em serviço<br />
militar ficaram inutilizados, fosse em campo de batalha ou no serviço em<br />
campanha. Esses tinham o curso inteiro gratuito. Para que a matrícula<br />
pudesse ser realizada, o candidato deveria ter entre 8 e 12 anos, ser<br />
vacinado e diante de uma banca de professores mostrar que sabia ler e<br />
escrever. O tempo de estudo no colégio era de cinco anos e não contava<br />
como efetivo serviço militar. No entanto, ocorriam exceções aos alunos<br />
condecorados com medalhas. A estes, os dois últimos anos de curso<br />
eram contados como serviço militar. Assim, os filhos e netos de militares<br />
que tinham o curso gratuito ao terminarem, deveriam seguir a carreira<br />
militar. A exigência de seguirem carreira nas Forças Armadas ou de<br />
indenizarem o Colégio das despesas, se porventura não prestassem tal<br />
serviço, indicava a finalidade pré-vocacional do educandário: orientar os<br />
alunos a carreira militar. 19<br />
Para administrar o Imperial Colégio, era formado um corpo com<br />
regime disciplinar vigente dos da tropa do Exército. O corpo docente era<br />
constituído de 6 professores, 4 adjuntos, 1 capelão, 1 médico, 1 mestre<br />
de esgrima, 1 mestre de natação e ginástica, 1 professor de música e<br />
4 comandantes de companhia (instrução prática) e todos estavam<br />
subordinados ao comandante que devia prestar contas para o Ministério<br />
da Guerra. Entre o comandante do Colégio e o Ministro não havia<br />
intermediários, por esse motivo o comandante deveria obrigatoriamente<br />
residir no estabelecimento de ensino para que qualquer problema fosse<br />
comunicado e resolvido imediatamente. 20<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 7<br />
| História | 2009
A estrutura escolar era muito avançada para o período, pois contava<br />
com uma biblioteca com mais de 5.000 volumes, um Museu Militar, a<br />
sala de armas, o campo de exercícios, a linha de tiro, gabinete de Física,<br />
laboratório de Química, museu de História Natural, um salão de cinema<br />
com 300 lugares, o primeiro com finalidades pedagógicas no Brasil.<br />
Devido a essas novidades e a grande qualidade de ensino o renome<br />
do Colégio Militar, a partir de 1905, espalhou-se pelo Brasil. Um exemplo<br />
disso devia-se à entrada de alunos que, ao concluírem os estudos no<br />
Colégio Imperial, eram dispensados das provas de habilitação da Escola<br />
Politécnica do Largo de São Francisco. O prestígio do colégio pode ser<br />
comprovado nas palavras de Dulcídio A. Pereira na década de 1950. No<br />
seu discurso na festa dos ex-alunos, de1953, disse o professor:<br />
Naquela época em que terminei o curso nesta casa, a única faculdade<br />
civil que exigia exame era a antiga Escola Politécnica. E esse exame<br />
era difícil, entregue a homens de envergadura de um Francisco Cabrito<br />
e de um Otto de Alencar. Pois bem. Os candidatos que terminavam o<br />
curso do Colégio Militar eram dispensados dessa prova de habilitação,<br />
porque seus conhecimentos eram, pela congregação da Politécnica,<br />
considerados de nível bem acima dos daqueles que vinham de outros<br />
colégios, alguns também de grande valor. .21<br />
Com base nestas palavras, pode-se perceber que o prestígio adquirido<br />
pelo Colégio foi um dos fatores que motivaram o Exército a defender a idéia<br />
de espalhar uma rede de colégios militares pelo Brasil “para selecionar<br />
homens valorosos, tanto para o Exército, quanto para as carreiras civis” 22 .<br />
Acreditavam os militares que o Colégio representava para a nação, o<br />
caminho ideal para o civismo, a renovação de valores e ampliação da<br />
cultura, além de “contribuir para dar amparo social aos militares, como<br />
ajudar o Brasil a debelar o cancro do analfabetismo”. 23 Sendo assim, o<br />
exemplo do Colégio do Rio de Janeiro foi seguido, e outros “seminários<br />
de civismo” criados, no ano de 1912, em Porto Alegre e Barbacena; 1919,<br />
em Fortaleza.<br />
No entanto, mesmo com o bem conceituado Colégio Militar do Rio<br />
de Janeiro nem sempre a criação desses estabelecimentos era bem<br />
vista, pois como indicava o Tenente Coronel Antonio Joaquim Figueiredo,<br />
os argumentos usados por aqueles que não concordavam com a idéia<br />
educacional eram sempre os mesmos. Alegavam estas pessoas, que<br />
o colégio era fonte de despesas e que criava privilégios para os filhos<br />
de militares. Além disso, afirmavam que os resultados práticos não<br />
correspondiam às despesas feitas, pois as finalidades não eram atingidas,<br />
uma vez que a maioria dos alunos não seguia a carreira militar. 24<br />
Esta pressão contribuiu para o fechamento do Colégio Militar<br />
de Barbacena em 1925. A justificativa foi o alto custo para mantê-lo<br />
funcionando o que promoveu divergências entre os militares. Na década de<br />
1930, no governo de Getúlio Vargas, ocorreu “um período de centralização<br />
e nacionalização que tentava controlar a influência das forças regionais.” 25<br />
Essa centralização atingiu também ao Exército e seus colégios. A volta das<br />
críticas aos educandários, de acordo com o Coronel Figueiredo, somou-<br />
se a outra: a suposta incapacidade dos professores. 26 A situação foi<br />
paulatinamente agravando-se para os militares até que no ano de 1938 o<br />
Colégio de Fortaleza deixou de ser administrado pelo Ministério da Guerra<br />
e, com o nome de Colégio Floriano, passou ao Ministério da Educação e<br />
Saúde. Mesmo com esta mudança, o estabelecimento deveria continuar<br />
a ministrar a instrução militar e conceder matrículas gratuitas. Já, os<br />
professores militares foram transferidos para outros colégios do Exército.<br />
Por fim, em 1939, o educandário de Porto Alegre foi transformado em<br />
Escola Preparatória e apenas o Colégio Militar do Rio de Janeiro funcionou<br />
normalmente, como ainda funciona.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 8<br />
| História | 2009
Importa salientar que a construção de colégios militares não era<br />
unanimidade entre os militares. Para alguns, o Exército deveria apenas<br />
dedicar-se ao ensino bélico e a defesa nacional, principalmente devido<br />
à redução dos orçamentos militares em diversos momentos do século<br />
XX 27 . Podemos observar isso pelas palavras do General Negrão:<br />
A verdade é que, de há muito, tem-se a impressão de que o próprio<br />
Exército abriga dúvidas sobre se deve ou não ter tais Colégios.<br />
Fomos, ao final do ano de 1938, vítimas de uma dessas manifestações<br />
de indecisão. Sem maiores explicações ou justificativas, o Colégio<br />
Militar do Ceará deixou de existir [...] a partir de determinada época,<br />
as grandes modificações por que passou nosso país começaram<br />
a tornar cada vez mais agudo o questionamento sobre a validade<br />
do engajamento do Exército em inúmeras atividades ligadas ao<br />
desenvolvimento, cujos ônus foram se tornando cada vez mais<br />
pesados nos declinantes orçamentos militares [...]. 28<br />
As dúvidas nas construções de colégios juntamente com o período<br />
turbulento que passavam as Forças Armadas e o país durante e após<br />
Segunda Guerra Mundial, podem justificar o desinteresse em criar<br />
educandários durante esse período. Mesmo no governo do General<br />
Eurico Gaspar Dutra (1946-1950), o Exército parece não desenvolver<br />
mais idéias a respeito de colégios militares. Ainda durante os anos 40,<br />
segundo alguns militares, era preciso reorganizar o Exército e para isso foi<br />
necessário implantar uma nova prática disciplinar. “Era preciso substituir<br />
as punições físicas e os castigos por um tipo de treinamento formado<br />
em “disciplinas” a serem ensinadas: a educação moral, cívica, religiosa<br />
e sanitarista.” 29 Isso acabou inspirando as práticas fora do ambiente dos<br />
quartéis, chegando até aos Colégios Militares criados a partir de 1955.<br />
Cabe ressaltar que, durante a década de 40, mais precisamente em<br />
abril de 1943, foi publicado no Boletim do Exército o decreto n. 12.277<br />
que determinava as atividades que compreenderiam o ensino ginasial e o<br />
curso científico, seguindo os mesmos critérios estipulados pelo Ministério<br />
de Educação e Cultura 30 , como será abordado mais detalhadamente no<br />
decorrer deste trabalho.<br />
Com o fim do governo Dutra, Getúlio Vargas voltou à presidência em<br />
1951, apoiado por um grupo de militares. Neste governo, o presidente<br />
buscava firmar a sua posição dentro do Exército, o que por muitas vezes<br />
era crítica.<br />
No programa de governo de Vargas, as propostas principais<br />
baseavam-se na expansão industrial e no aumento da intervenção do<br />
Estado na economia com o objetivo de modernizar o Brasil, dotando-o<br />
de estruturas compatíveis às condições do desenvolvimento capitalista<br />
do pós-guerra.<br />
Com relação ao Exército, durante o segundo governo Vargas,<br />
foi promulgado em 1952, a Lei n. 1.632 que reestruturou o quadro de<br />
oficiais-generais, complementou o de oficiais das Armas e Serviços,<br />
além de rearticular os diferentes órgãos do ministério e atualizar a Lei<br />
de Organização dos Quadros e Efetivos. 31 No entanto, no que concebe<br />
aos projetos para criação dos colégios militares neste período, não<br />
encontramos informações que fornecessem os subsídios necessários<br />
para análise uma mais criteriosa. Estas informações somente foram<br />
encontradas durante o governo de Juscelino Kubitschek, como será<br />
abordado a seguir.<br />
1.3. Governo JK e a influência do general Lott<br />
na criação dos colégios militares<br />
A chegada de Juscelino Kubitschek à presidência foi precedida por<br />
uma crise política. Seus opositores desencadearam uma forte campanha,<br />
que visava impedir sua posse, pois, segundo esses, Juscelino não havia<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 9<br />
| História | 2009
sido eleito pela maioria absoluta de votos. Por meio de um “golpe<br />
preventivo”, apoiado pelo Exército, JK assumiu o poder e preocupado<br />
em garantir a estabilidade política, além de já ter o apoio das Forças<br />
Armadas, procurou fazer aliança com o PSD/PTB. Atendendo as<br />
aspirações do PSD e do PTB, respectivamente manutenção do regime de<br />
propriedade agrícola e ampliação do mercado de trabalho, o presidente<br />
conseguiu o apoio da maioria parlamentar, responsável pela aprovação<br />
de todos os projetos que interessavam ao Executivo. A preocupação em<br />
atender aos interesses dos dois partidos manifestou-se na composição<br />
dos ministérios, constantemente renovados entre 1956-1961, com<br />
exceção do Ministério de Guerra, nas mãos do general Henrique Teixeira<br />
Lott, até 1960, quando este se candidata a Presidência da República.<br />
Lott foi o principal responsável pelo apoio que JK recebeu das Forças<br />
Armadas. Por esse motivo, houve uma concessão de verbas substanciais<br />
ao Ministério da Guerra, da Aeronáutica, da Marinha e a entrega do<br />
controle das áreas estratégicas aos militares, com a justificativa de<br />
“segurança e desenvolvimento” do país. 32<br />
Sob o slogan cinqüenta anos em cinco, no qual baseou sua campanha,<br />
Juscelino estabeleceu o seu programa de governo, o Plano de Metas<br />
que tinha como objetivo principal incentivar a industrialização acelerada,<br />
como meio de gerar novas oportunidades de emprego e elevar o nível de<br />
vida da população. Para aprofundar o processo de industrialização, JK<br />
incentivava investimentos privados de capital nacional e estrangeiro para<br />
ampliar o parque industrial.<br />
A partir da idéia nacionalista e desenvolvimentista do governo, os<br />
militares encontraram um grande apoio para disseminar seus ideais para<br />
a população. Nesse momento, um grupo favorável à criação de colégios<br />
militares estava no poder. Além do Ministro da Guerra, Teixeira Lott, ex-<br />
aluno do Colégio Militar de Barbacena e comandante da Escola Militar<br />
de Realengo, o Ministro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado, ex-<br />
aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, também desejava a criação. 33<br />
Ambos contavam com o apoio de grande parte das Forças Armadas.<br />
Teixeira Lott, aproveitando a sua forte influência e os recursos<br />
advindos do Plano de Metas, determinou ao Estado Maior do Exército,<br />
em 1956, que estudasse a possibilidade de criar colégios e ginásios<br />
militares pelo Brasil. Sendo assim, em 22 de maio de 1956, segundo a<br />
Nota Ministerial 195, o Estado Maior, atendendo ao pedido do ministro<br />
da Guerra, elaborou um plano no qual previa a criação de colégios<br />
pelo Brasil, em especial para três cidades onde não existia nenhum<br />
estabelecimento militar:<br />
[...]. Com despacho de 12 de maio de 1956, aprovei o plano do<br />
Estado Maior do Exército no sentido de criar Colégios Militares e<br />
Ginásios Militares no Brasil, nas capitais onde não existem escolas<br />
Preparatórias.O plano, todavia, mereceu uma alteração: 1ª urgência<br />
- Recife; 2ª urgência - Curitiba; 3ª urgência - Goiás. No mais, tudo<br />
ficou de acordo com o oficio 85/c, de 17 de jan.de 56, urgente, a<br />
saber: Cinco Colégios Militares: Rio. Belo Horizonte, Recife, Curitiba<br />
e Goiás. Três Escolas Preparatórias: Porto Alegre, São Paulo e<br />
Fortaleza. Doze Ginásios Militares: Florianópolis, Vitória, Salvador,<br />
Aracajú, Maceió, João Pessoa, Natal, São Luiz, Belém, Manaus e<br />
Cuiabá.[...] 34<br />
A urgência demonstrada referente à construção dos colégios, das<br />
escolas preparatórias e ginásios pode ser entendida como uma forma<br />
de difundir os ideais militares para a população. Ao tentar transpor<br />
valores institucionais para a sociedade, o Exército, sugere Gilberto<br />
Vianna, “teria ainda como meta fundamental a construção de barreiras<br />
eficazes à propagação de doutrinas consideradas perigosas à defesa<br />
da nacionalidade” 35 . Esta afirmação justifica que, para garantir o<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 10<br />
| História | 2009
“desenvolvimento e a segurança nacional” o controle das áreas estratégicas<br />
pelo Exército não era suficiente, seria necessário ainda controlar as idéias<br />
que eram disseminadas à população e os colégios militares atenderiam a<br />
estas novas exigências, como foi o caso do de Curitiba.<br />
1.4. Implantação do Colégio Militar de Curitiba<br />
A construção de um colégio em Curitiba, como mostra a Nota<br />
Ministerial, evidencia um interesse por parte dos militares nessa região.<br />
O Paraná, na década de 1950, tornava-se, devido a prosperidade<br />
econômica, o quarto Estado mais populoso do país, projetando-se<br />
no plano nacional. Em 1953, o Governo Estadual voltou-se para a<br />
realização de obras contidas no Plano Agache 36 , o então governador<br />
Bento Munhoz da Rocha Neto definiu Curitiba como palco privilegiado<br />
para a instalação dos símbolos de progresso, da modernidade e da<br />
identidade da sociedade paranaense, por isso Curitiba deveria ser<br />
o pólo cultural do Estado. Várias obras foram realizadas para atingir<br />
o objetivo como reformas em praças, abertura de novas avenidas,<br />
pavimentação e iluminação de ruas, construções de prédios particulares<br />
e públicos entre outras, marcando as novas feições da capital 37 . Essa<br />
notoriedade fez com que o Exército percebesse que Curitiba seria um<br />
local ideal para a implantação de um colégio e que seus ideais seriam<br />
melhor disseminados em uma região com essa visibilidade nacional.<br />
A capital do Paraná, além de simbolizar progresso e modernidade,<br />
também era conhecida como “cidade dos estudantes”. Um grande<br />
número de pessoas que vinham do interior e do outros Estados para<br />
trabalhar ou simplesmente mudar de vida eram de jovens em busca<br />
de estudo, congregando-se em torno da Universidade, federalizada em<br />
1950, e de vários centros artísticos e culturais: 38<br />
[...] Em Curitiba notamos todos os elementos característicos de<br />
uma cidade de estudantes. Participam ativamente em todos os<br />
setores de sua vida <strong>–</strong>animam as diversões, o comércio depende<br />
deles em grande parte, as reuniões sociais que eles promovem,<br />
enfim, se os estudantes deixassem Curitiba, a cidade perderia<br />
seu colorido, sua vivacidade e sua fama de uma das capitais mais<br />
cultas do país, ou melhor, de ser a única cidade universitária do<br />
Brasil. 39<br />
O governador do Paraná, Moysés Lupion, ainda em seu primeiro<br />
mandato (1947-1951), para garantir um padrão moral de vida aos<br />
paranaenses fez grandes investimentos, entre outros setores,<br />
em educação e cultura. Construiu aproximadamente 500 escolas<br />
primárias e investiu também na preparação de professores, no<br />
interior do Estado, com o objetivo de formar o mestre de cada região<br />
em sua própria região. Em 1956, quando volta ao governo, Lupion<br />
parece demonstrar novamente um grande interesse na educação ou<br />
na educação proposta pelo Exército. O governador sabendo do Plano<br />
de ensino do Exército que pretendia criar uma rede de ginásios e<br />
colégios militares e na urgência da criação de um educandário na<br />
cidade de Curitiba, dirigiu-se ao Ministro da Guerra, por sugestão do<br />
tenente coronel Alípio Ayres de Carvalho, para informar do grande<br />
interesse do Estado em implantar o estabelecimento na capital.<br />
Logo que o comandante da 5ªRM e do 5°DI do Estado Maior do<br />
Exército recebeu uma cópia da nota ministerial sobre o plano de ensino,<br />
foram enviados ao governador algumas solicitações que deveriam ser<br />
respondidas para que o colégio pudesse ser criado, exigindo:<br />
1.Estimativa do número de jovens do sexo masculino que<br />
anualmente, ocorrem aos cursos ginasial e colegial desta cidade,<br />
considerados inclusive os contingentes oriundos de outros<br />
estados;<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 11<br />
| História | 2009
2.número de estabelecimentos nesta capital e em que funcionam<br />
ambos os ciclos de ensino médio com indicação da respectiva<br />
classificação, segundo o critério estabelecido pela Lei Orgânica<br />
do Ensino Secundário, e de sua capacidade global em relação às<br />
necessidades anuais de matrícula de jovens do sexo masculino;<br />
3.em que medida o governo do Estado se mostra interessado<br />
na criação do Colégio Militar de Curitiba, e se dispõe a prestar<br />
o auxílio material à iniciativa, seja mediante contribuição<br />
pecuniária, seja através da cessão de imóveis. 40<br />
Após responder o questionário exigido pelo Exército, Moysés<br />
Lupion anunciou que cooperaria doando um terreno apropriado,<br />
dinheiro e materiais destinados a permitir a bom funcionamento<br />
do colégio. Lupion designou para as negociações Alípio Aires de<br />
Carvalho, o qual deveria escolher os terrenos a serem oferecidos.<br />
Oito áreas foram colocadas à disposição do Exército e devido a isso,<br />
o Ministro da Guerra nomeou uma comissão presidida pelo próprio<br />
Ayres de Carvalho para promover os estudos necessários para<br />
escolher o melhor terreno para a instalação.<br />
A comissão deveria seguir alguns requisitos básicos, como<br />
por exemplo: a distância do centro (Praça Tiradentes) até o local<br />
do ensino que deveria ser, no máximo, de 15 quilômetros e uma<br />
área mínima de 750.000m2. Além disso, a umidade e a forma do<br />
terreno eram tidas como eliminatórias na escolha do mesmo, além<br />
da expansão da cidade e infra-estrutura como água e telefone. A<br />
escolha de um local com muito espaço era necessária para favorecer<br />
a prática esportiva e exercícios físicos. A comissão tinha planos<br />
que o Colégio iniciaria as aulas com 300 alunos e, que em quatro<br />
anos, contariam com cerca de 1.961 estudantes. Assim, o espaço<br />
era fundamental para novas construções. Era preciso uma área para<br />
instrução militar e formaturas e uma companhia de serviço, com<br />
soldados responsáveis pela guarda do Colégio e pequenos serviços<br />
administrativos 41 .<br />
Após três anos de estudos e reuniões, o local escolhido foi a área<br />
no bairro do Tarumã, onde já funcionavam alguns pavilhões, para o<br />
atendimento às crianças carentes. Como o Estado detinha vários<br />
estabelecimentos especializados neste tipo de atenção ao menor,<br />
e como a área mostrou-se em boas condições para a construção<br />
de um Colégio Militar, a questão ficou resolvida e o orfanato foi<br />
transferido.<br />
Com a aprovação da Assembléia Legislativa do Estado, o governo<br />
cedeu à União uma área no bairro Tarumã através da Lei 3888/59,<br />
com a condição de que os terrenos e benfeitorias fossem destinados<br />
exclusivamente à construção das instalações do Colégio Militar de<br />
Curitiba e revertessem ao patrimônio do Estado na hipótese de ser<br />
dado outro destino diverso do previsto na presente lei. Além do<br />
terreno e da ajuda financeira do governo do Estado, o Ministro da<br />
Educação Clóvis Salgado, entusiasmado com a criação de mais um<br />
Colégio Militar ofereceu também um auxílio de $ 1.000.000,00 para<br />
compra de equipamentos. 42<br />
Houve, portanto, a participação estadual tanto na doação de um<br />
terreno como nos financiamentos, porém, coube ao Exército entrar<br />
com professores, oficiais e praças. Cabe ressaltar que, o primeiro<br />
ano de vida do estabelecimento não contou apenas com militares<br />
como professores. A falta de contingente fez com que o governo do<br />
Estado cedesse alguns professores civis para lecionarem enquanto<br />
os professores militares eram transferidos de outras regiões. No<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 12<br />
| História | 2009
entanto, os nomes desses professores civis não foram registrados<br />
no Boletim Interno do Colégio Militar de Curitiba no ano de 1959,<br />
apenas os militares foram lembrados.<br />
Em 15 de dezembro de 1958 foi publicado o decreto n. 45.052<br />
da criação do CMC e no dia 17 do mesmo mês autorizado o<br />
seu funcionamento. O primeiro dia letivo foi marcado por uma<br />
data tradicional para o Exército brasileiro: 21 de abril, “dia de<br />
Tiradentes”.<br />
A vontade de criar colégios militares pelo Brasil na década de 50<br />
e a urgência nas construções ficou clara, principalmente no Paraná.<br />
No entanto, que tipo de alunos os militares queriam formar em suas<br />
escolas? De que maneiras introduziram um treinamento baseado em<br />
“disciplinas” nos mesmos moldes daqueles ensinados nos quartéis?<br />
Como isso aconteceu no Colégio Militar de Curitiba? Essas questões<br />
serão contempladas no próximo capítulo.<br />
2. A vida no Colégio Militar de Curitiba<br />
2.1. Inauguração e programa<br />
de ensino do CMC<br />
O dia 21 de abril de 1959, às 08h00min, foi inaugurado o Colégio<br />
Militar de Curitiba (CMC). A solenidade contou com a presença de<br />
autoridades civis e militares, ex-alunos e representantes de outros<br />
colégios do Exército, além dos novos alunos e seus familiares. Como<br />
de praxe a um estabelecimento militar, a cerimônia iniciou com o<br />
hasteamento da Bandeira Nacional, o canto do Hino e a leitura do<br />
Boletim Diário. 43<br />
Desfile de inauguração do CMC <strong>–</strong> 1959<br />
Acervo: Arquivo Colégio Militar de Curitiba<br />
Várias autoridades fizeram pronunciamentos apontando as<br />
dificuldades enfrentadas na criação do colégio e salientaram a<br />
contribuição do Estado para que um educandário militar fosse instalado<br />
em Curitiba. Moysés Lupion, o então governador do Estado do Paraná,<br />
aproveitou o momento para ressaltar “a importância do CMC para o<br />
desenvolvimento cultural da juventude paranaense.” 44<br />
O desenvolvimento cultural salientado pelo governador devia ter<br />
como exemplo a vida de uma personagem bastante conhecida por<br />
todos: o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, como logo<br />
após enfatizou o general Nilo Horácio Sucupira. Este no cargo de diretor<br />
geral de ensino do Exército em seu discurso apontou uma das principais<br />
características a serem seguidas pelos jovens alunos do colégio,<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 13<br />
| História | 2009
epresentada pelas “virtudes cívicas e patrióticas” de Tiradentes. O<br />
dia escolhido, portanto, não foi por acaso. A inauguração mostrava o<br />
interesse em marcar o dia da morte do “mártir” ao nascimento de mais<br />
um educandário militar no país, como podemos observar nas palavras<br />
do general:<br />
[...] Inicia hoje as atividades escolares, sob o signo do chefe do<br />
movimento romântico-revolucionário da Inconfidência Mineira, o<br />
Alferes Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha <strong>–</strong> o Tiradentes.<br />
Fica, por esta forma, ligada a vida deste Estabelecimento à morte<br />
gloriosa do proto-mártir da Inconfidência que, na madrugada de 21<br />
de abril de 1792, enfrentou sereno o patíbulo para ser enforcado<br />
e depois esquartejado, e para que os sonhos da liberdade se<br />
implantassem na nossa querida Pátria. Aos moços daquela época,<br />
como a juventude de hoje, o seu sacrifício não foi em vão, porque o<br />
seu exemplo de altivez e de sentimentos cristãos, naquele instante,<br />
supremo de sua vida, servirão de motivação perene no sentido de<br />
que se exaltem, constantemente, perante o corpo discente deste<br />
colégio, as suas excelsas virtudes cívicas e patrióticas, paladinas das<br />
grandes causas da liberdade e da democracia no Brasil [...]. 45<br />
Pode-se perceber nas palavras do general, o poder de atração do<br />
mito do herói e sua longa tradição em nossa história, como o arquétipo<br />
de valores ou das aspirações coletivas. Para José Murilo de Carvalho, em<br />
seu estudo sobre imaginário da República no Brasil, o uso de símbolos,<br />
imagens, alegorias e mitos na construção de um conjunto de valores<br />
sociais é essencial. Nesse sentido, a imagem de altivez e de sentimentos<br />
cristãos do soldado, patriota, personagem cívico que há anos atrás no<br />
mesmo dia (21 de abril) enfrentou sereno o patíbulo, fez de Tiradentes<br />
um herói reconhecido por todos, como nos indica em seu discurso o<br />
general Nilo Sucupira. Ainda, seguindo as orientações de José Murilo<br />
de Carvalho, os heróis são “símbolos poderosos, encarnações de idéias<br />
e aspirações, pontes de referência, fulcros de identificação coletiva. São<br />
instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos”. 46<br />
A imagem de Tiradentes, para os organizadores do CMC, simbolizaria<br />
aquilo que os alunos deveriam se tornar: homens com personalidade<br />
cívica e patriótica que defendessem o seu país contra todos aqueles<br />
contrários às idéias de liberdade. Caberia então, combater através do<br />
ensino, tais opositores, ou nas palavras do general Sucupira:<br />
[...] com a ajuda de Deus, de lutar contra os inimigos da Pátria<br />
que, sob a falsa capa do nacionalismo, conspiram contra as nossas<br />
instituições, a nossa bandeira, a nossa liberdade e a integridade do<br />
território nacional.[...] O Ministro da Guerra compreendendo a alta<br />
significação e a estreita correlação que existe entre a Educação e<br />
a Segurança Nacional tem procurado atender estes anceios [sic],<br />
através da criação dos Colégios Militares em vários Estados,<br />
porque segue o rumo de que o progresso educacional produz<br />
inquestionavelmente mais segurança E a vós mestres, cabe a função<br />
importante, tendes hoje sob vossas responsabilidades: incutir no<br />
espírito dos alunos a consciência do dever e da responsabilidade;<br />
formar-lhe o caráter; criar e desenvolver o espírito da brasilidade;<br />
despertar-lhe a consciência dos deveres de cidadãos; não é, pelo<br />
seu alcance, tarefa de um ou de vários mestres, mas de todo corpo<br />
de professores, unidos por ideal comum e empenhados por profundo<br />
sentimento cívico, em preparar o cidadão capaz de amar a sua terra<br />
e revelar, com a prova maior, desse amor, o espírito de sacrifício, o<br />
desprendimento pessoal, a disciplina e o hábito do trabalho, em uma<br />
palavra <strong>–</strong> o cumprimento do dever. 47<br />
Diante deste pronunciamento, fica explícita a mensagem de que a criação<br />
do CMC estava estritamente vinculada com a proposta maior do Exército<br />
em formar indivíduos que reproduzissem a doutrina de segurança nacional. A<br />
educação oferecida pela instituição deveria garantir, portanto, a ordem interna<br />
e o controle das idéias, fundamentais para ser atingido o seu objetivo, e para<br />
isso caberia aos professores, apoiados no exemplo do inconfidente mineiro,<br />
incutir no espírito dos alunos esta consciência nacionalista.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 14<br />
| História | 2009
As autoridades militares e civis não foram as únicas a se manifestarem<br />
através de discursos, os familiares dos novos alunos também deram a sua<br />
contribuição. A alegria e o entusiasmo, em verem seus filhos ingressando<br />
na carreira militar e serem preparados para o cumprimento do dever,<br />
podem ser observados nas palavras da representante da Comissão de<br />
Senhoras Mães de Alunos :<br />
[...] Possuídas de grande e justa emoção Diva de Almeida Carvalho,<br />
Maria de Lourdes Amorim Cravo e Diomar da Silva Ramos [...] não<br />
poderiam deixar de manifestar de público, a sua gratidão a Deus<br />
pela inspiração que tiveram, trazendo seus filhos à esta terra, a<br />
fim de concorrerem ao exame de admissão ao novo Colégio Militar<br />
de Curitiba. Os meninos corresponderam plenamente aos desejos<br />
maternos e, assim, aqui estão eles, no dia de hoje, envergando o<br />
sedutor e desejável uniforme do Colégio Militar, primeiro degrau<br />
nessa longa carreira de patriotismo, abnegação e devotamento à<br />
causa pública que é a carreira militar. [...] qualquer militar é sempre<br />
um exemplo de coragem, disciplina, cultura e entusiasmo[...] um<br />
homem invulgar, um homem selecionado. 48 [grifo nosso].<br />
Concluído o pronunciamento da representante, alguns agradecimentos<br />
ao tenente coronel Alípio Ayres de Carvalho também foram realizados. Este<br />
tomou a palavra e proferiu a aula inaugural, apontando a finalidade do colégio<br />
e como o ensino seria organizado, como podemos observar a seguir:<br />
Cabe-me, nesta oportunidade ímpar, o privilégio de [...] proferir a<br />
1ª aula deste novel estabelecimento de ensino do Exército [...] que<br />
em boa hora vem se instalar nesta cidade já consagrada ao ensino,<br />
com o título que conquistou neste Brasil afora de “A Cidade do<br />
Estudante” [...]. Em linhas gerais, cabe aqui traçar o quadro em que<br />
se desenvolverão as atividades do Colégio Militar de Curitiba.<br />
O Colégio Militar [...] Tem por finalidade precípua [...] o<br />
desenvolvimento de robusta consciência patriótica e humanística.<br />
Salienta-se, então, a importância da criação ou fortalecimento de<br />
hábitos, atividades e ideais que formam a personalidade do cidadão.<br />
Organização geral do ensino:<br />
As atividades pedagógicas empreenderão, no presente ano escolar:<br />
o ensino secundário para a 1ª série ginasial. A instrução prática,<br />
abrangendo instrução pré-militar e educação física. A educação<br />
moral e cívica.<br />
As atividades extraclasse: porque desempenham papel de alta<br />
relevância na personalidade dos alunos, pretende-se desenvolver ao<br />
máximo as atividades como o grêmio literário, o jornal do colégio, o<br />
clube de ciências, os esportos [...].<br />
Métodos e progressos do ensino geral:<br />
[...] Será adotado o método de Ensino por unidades didáticas,<br />
decorrente do “sistema de Morrison”. [...] O sistema de Morrison<br />
representa um estágio atual da evolução dos tempos na luta pela<br />
obtenção do melhor rendimento escolar. Como se sabe, essa luta<br />
tem sido um lugar comum, particularmente no seio dos povos mais<br />
desenvolvidos, pelos objetivos de um melhor ensino e com melhores<br />
resultados. 49<br />
Mesmo com estas peculiaridades, o currículo e o programa de ensino<br />
secundário seriam os mesmos estabelecidos pelo Ministério de Educação<br />
e Cultura, ou seja, as mesmas disciplinas ministradas por outros colégios.<br />
Segundo Gilberto de Souza Vianna, em seu trabalho sobre a trajetória<br />
histórica do CMC, a organização do colégio estava embasada no<br />
decreto-lei n.12.277, de abril de 1943, publicado no boletim do exército.<br />
Neste havia as regulamentações desde as instalações físicas, o tempo<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 15<br />
| História | 2009
e o horário das atividades, até mesmo o número de avaliações a serem<br />
aplicadas no dia. Ainda segundo decreto:<br />
o corpo discente deveria ser dividido em companhias, cinco no total,<br />
de modo que constituísse grupos homogêneos, ou seja, por série no<br />
1° ciclo, ou por arma de afinidade (cavalaria, infantaria, artilharia)<br />
no 2° ciclo.[...] Eram, também, as companhias responsáveis pela<br />
verificação de presença, pelo elogio ou punição dos alunos. Estando,<br />
cada companhia, na responsabilidade de um capitão e tendo<br />
sargentos como monitores de alunos. 50<br />
Cabe aqui ressaltar, a importância do<br />
sistema escolhido para a instituição que<br />
foi criada por Henry C. Morrison, educador<br />
estadunidense, que utiliza o método de<br />
Unidades Didáticas, para desenvolver sua<br />
pedagogia. Para Morrison, a idéia de unidade<br />
seria uma organização do ensino em torno<br />
daquilo que seria mais importante, o essencial,<br />
negando a idéia de que ensino-aprendizagem<br />
possa ter como centro uma pluralidade de<br />
elementos. Para que existisse uma unidade,<br />
seria necessário que a experiência a ser vivida<br />
e os assuntos a serem estudados fossem<br />
suficientemente amplos e ricos, pois assim se<br />
tornariam importantes na vida do aluno. Além<br />
disso, defendia o educador, que os temas<br />
estudados deveriam ser bastante homogêneos<br />
para constituírem uma totalidade coerente. 51<br />
Para Irene Mello Carvalho, que discute o<br />
método de Unidades Didáticas proposto por<br />
Tenente-coronel Alipio Ayres de Carvalho<br />
inaugurando o CMC - 1959<br />
Acervo: Arquivo Colégio Militar de Curitiba<br />
Morrison, a vantagem deste método estaria na idéia de estudar o todo<br />
inicialmente antes de desenvolver o estudo minucioso de cada uma das<br />
partes ou subunidades. Isso foi melhor explicado, segundo a autora, no<br />
livro The Pratice of teaching in the Secondary School, no qual Morrison<br />
procurou caracterizar a escola secundária e analisar os seus objetivos na<br />
aprendizagem da criança. Com base nestas idéias, o educador apontou<br />
três técnicas educacionais, consideradas por ele como básicas: a técnica<br />
de controle, relacionada com o problema da disciplina dos alunos,<br />
principalmente na sala de aula, a técnica<br />
operativa, que estuda o método propriamente<br />
dito e a técnica administrativa, que considera<br />
os problemas da administração escolar<br />
prejudiciais à aprendizagem do aluno. 52<br />
Mesmo levando em conta esses três<br />
fatores, Morrison dá mais destaque à<br />
compreensão da Técnica Operativa, já que<br />
esta expressa o método aplicado. Os principais<br />
objetivos que a educação secundária deveria<br />
alcançar eram: as atitudes que se estruturam<br />
na escola e as habilidades e destrezas que<br />
ela procura desenvolver. Essas atitudes<br />
seriam de compreensão e apreciação. Para<br />
estruturar a primeira seria necessário que a<br />
aquisição de informações e a assimilação de<br />
conhecimentos já tivesse ocorrido, tomando o<br />
cuidado de que isso não fosse transformado<br />
em pura memorização. 53 Para a apreciação, os<br />
elementos afetivos estariam presentes, uma vez<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 16<br />
| História | 2009
que os interesses e preferências do aluno seriam respeitados. As habilidades e<br />
destrezas não parecem ser muito claras a respeito do ensino. 53<br />
Henry Morrison critica a escola secundária devido à confusão que os<br />
educadores fazem entre erudição e educação, consideram que o aluno<br />
cursou bem o curso secundário por saber muito e não necessariamente<br />
por ter aprendido. Outro ponto seria a transmissão de valores culturais<br />
da sociedade à qual a escola pertence, não abrindo espaço para um<br />
pensamento crítico. Esses seriam erros que prejudicariam a formação<br />
do jovem.<br />
A partir dos objetivos propostos e as críticas realizadas, o método<br />
geral de ensino sugerido por ele compreendia cinco fases: exploração,<br />
apresentação, assimilação, organização e recitação.<br />
Na exploração, a cada início de unidade, cabia ao professor realizar<br />
uma sondagem prévia para avaliar se os alunos sabiam ou não o suficiente<br />
para passar de uma unidade a outra, uma espécie de pré-teste. A<br />
justificativa seria uma economia de tempo e esforço do professor. Após<br />
ter essa certeza, iniciava a fase de Apresentação. Nesta, a unidade era<br />
exposta de uma forma geral, não devendo ser minuciosa, pois podia<br />
dificultar a compreensão por parte dos alunos. Os objetivos aqui seriam<br />
mostrar as contribuições dessa unidade para o conhecimento e sua<br />
aplicação de ordem prática. As condições disciplinares nesse momento<br />
seriam fundamentais, pois comprometeriam o entendimento da classe. O<br />
empenho do professor tornava-se fundamental para que se mantivesse<br />
uma atitude vigilante, mas se ainda assim a indisciplina permanecesse,<br />
as técnicas de controle deveriam ser aprimoradas.<br />
No que concebia a Assimilação, o aluno se tornaria um estudante,<br />
como diz Morrison, capaz de elaborar seus próprios conceitos e<br />
aprofundar a sua capacidade crítica. Até então a unidade era expositiva,<br />
nesta fase cabia ao estudante aprender sozinho. No entanto, o estudo<br />
seria dirigido e caberia ao professor indicar as bibliografias utilizadas. O<br />
tempo para essa fase seria de 60% a 80% de todo o período destinado<br />
à unidade.<br />
A seguinte fase: “Organização seria dedicada para recursos de<br />
fixação do conhecimento adquirido”, tinha como propósito distinguir o<br />
que era realmente essencial, as idéias principais. Essa fase não seria<br />
finalizada com uma prova, mas sim com um quadro sinótico. Por fim,<br />
chegava-se a Recitação: fase a qual depois de organizada a unidade por<br />
parte dos alunos, estes deveriam apresentar oralmente, frente à turma,<br />
os seus pontos de vista pessoais.<br />
Após esta apresentação das idéias de Henry C. Morrison para o<br />
ensino secundário, alguns pontos devem ser observados. Na fase de<br />
Assimilação, a qual o aluno deveria estudar sozinho e aprofundar sua<br />
capacidade crítica, observamos que não há na realidade uma autonomia<br />
do aluno, uma vez que seu estudo é dirigido e a bibliografia escolhida<br />
pelo professor. Ou seja, é nesse momento que a ideologia que a escola<br />
pretende passar será mais explorada. A idéia patriótica, os ideais militares<br />
em geral, pretendidos pelo Colégio Militar de Curitiba eram transmitidos<br />
através de livros e textos que induziam os alunos a pensarem de forma<br />
parcial, uma vez que “[...] a classe entra em trabalho, sob a forma de<br />
estudo dirigido, em que o aluno executa aquilo que seu professor achar<br />
mais fundamental, tendo-o a seu lado para orientá-lo, quando necessitar<br />
de ajuda [...].” 55<br />
Além disso, devemos destacar uma das críticas feitas por Henry<br />
C. Morrison, em relação a essa transmissão de valores culturais da<br />
sociedade a qual a escola pertence, ou seja, valores que só dizem<br />
respeito a um certo grupo de pessoas sem dar espaço para reflexões<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 17<br />
| História | 2009
e críticas a respeito. Combater isso parece ser muito difícil, afinal,<br />
qualquer instituição, no caso aqui uma escola, passa de alguma forma a<br />
sua ideologia. No CMC isso não seria diferente, até mesmo por se tratar<br />
de uma instituição militar a sua proposta seguia a ideologia defendida<br />
pelos militares.<br />
Esse método proposto, que dizia ser inovador e representar um<br />
estágio atual da evolução dos tempos na luta pela obtenção do melhor<br />
rendimento escolar 56 , segundo o Exército, seria uma inovação ao<br />
ensino brasileiro como já citado. No entanto, até que ponto o método<br />
era realmente inovador? Para entendermos melhor esta problemática,<br />
transcrevemos a seguir as palavras do professor Anísio S. Teixeira: 57<br />
Nas condições gerais em que se acha o ensino secundário no país, um<br />
ensaio de aplicação do plano de ensino por ‘unidades’, sugerido desde<br />
1926, por Morrison, um conservador no debate educacional dos últimos<br />
cinqüenta anos, representa não só uma novidade, mas uma audácia<br />
[...]. Nas alturas de 1954, não deixa de ser provocante acompanhar<br />
as torturas de Morrison para apresentar seu pensamento conservador<br />
como algo melhor [...]. Se para Dewey, a criança, por exemplo, é um ser<br />
dinâmico ‘ansioso por aprender’, a verdadeira teoria do ensino é a de<br />
que a escola deve se limitar a ‘guiar a experiência do aluno’; se pra um<br />
Morrison nós ‘odiamos aprender’, a verdadeira teoria é a de ‘prescrever<br />
e dirigir os estudos do aluno’. A realidade é que esses dois aspectos da<br />
criança existem e conforme dermos relevo a um ou a outro, teremos<br />
ensino, programas, métodos e resultados diferentes. Morrison é um<br />
descrente da curiosidade do aluno como motivo adequado para orientar<br />
o seu crescimento educativo. E na sociedade em que vive, tenha talvez,<br />
motivos para crer que, sem certa dose de coerção, não formará o homem<br />
que deseja. Daí, as premissas determinantes do seu método. Podemos<br />
discordar dessas premissas, mas adotadas que elas sejam, segue seu<br />
método. O aspecto positivo deste método está em tornar menos precários<br />
os resultados da escola tradicional [...]. Admitido o ensino por ‘matéria’<br />
e o programa antecipadamente prescrito, a sua tentativa de motivação<br />
e de integração conseqüente é um passo sobre o ensino desligado,<br />
fragmentário e decorado que caracteriza a escola tradicional. 58<br />
Mesmo pretendendo ser um ensino inovador, a escolha do método<br />
pelo Exército não diferiu muito dos métodos mais tradicionais de ensino.<br />
De acordo com as indicações de Anísio Teixeira, podemos inferir que<br />
Henry Morrison era um conservador no debate educacional que defendia<br />
o seu pensamento como algo melhor. Além disso, Morrison defendia que<br />
as crianças não gostavam de aprender, justificando assim a necessidade<br />
do estudo ser dirigido pelo professor. A coerção para ele era fundamental,<br />
pois sem isto não se formaria o homem, o cidadão desejado. Além disso,<br />
podemos perceber através da crítica a Morrison, que ocorreu por parte<br />
deste educador, a idéia de legitimação de um controle muito grande, se<br />
não total, por parte dos professores ou até mesmo da escola em orientar o<br />
aluno naquilo que a instituição considerasse melhor e quando necessário,<br />
a utilização de meios mais rigorosos para formar o aluno desejado. Anísio<br />
Teixeira finaliza dizendo que o aspecto positivo do método concentrava-<br />
se na mudança dos resultados até então obtidos pela escola tradicional<br />
como a memorização e “a sua tentativa de motivação e de integração”<br />
por parte do aluno. 59<br />
No entanto, os militares representados por Alípio Ayres de Carvalho,<br />
na inauguração do CMC, não atentaram para o conservadorismo de<br />
Morrison e procuraram mostrar o quanto avançado era o método escolhido<br />
para o colégio ao afirmar que o sistema representava “um estágio atual<br />
da evolução dos tempos.” 60 A escolha desse “sistema” mostra a intenção<br />
“inovadora” que o Exército pretendia aplicar no ensino. Cabe ressaltar<br />
ainda, o desejo de transformar a educação militar em um exemplo para<br />
outros colégios do Brasil. Além disso, o CMC era igualado aos colégios<br />
dos “povos mais desenvolvidos”, pois também estava envolvido na “luta”<br />
pelo melhor ensino, o que demonstra que a superioridade pretendida<br />
pelos militares no campo educacional deveria ser incontestável.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 18<br />
| História | 2009
Depois de escolhida uma pedagogia que, segundo o Exército, parecia<br />
ser a mais apropriada, as técnicas empregadas no dia-a-dia seriam as<br />
responsáveis pela formação do aluno ideal. A disciplina e o hábito do<br />
trabalho, como disse general Sucupira, seriam fundamentais para que<br />
tal objetivo fosse alcançado.<br />
E para que a disciplina proposta pelo CMC atingisse o resultado<br />
esperado, o cotidiano escolar dos alunos deveria ser exemplar, e por este<br />
motivo, abordaremos a seguir as normas, hábitos e valores transmitidos<br />
e desenvolvidos aos alunos durante a permanência no Colégio Militar<br />
de Curitiba.<br />
2.2. Cotidiano dos alunos: tempo<br />
e espaço escolar<br />
Curitiba, 1960: O jovem Waldir sai de sua casa às 05h30min<br />
horas para tomar o ônibus que o conduziria aos portões do seu novo<br />
estabelecimento de ensino: o Colégio Militar de Curitiba. 61 Era o início<br />
de um novo ano letivo e Waldir lembrando os comentários de seu irmão<br />
mais velho, aluno da 1ª turma do então Colégio, ansiava em participar da<br />
cerimônia inicial, preparada para recepcionar os novos alunos. 62<br />
No início do ano letivo no CMC, os novos alunos participavam de<br />
uma cerimônia de incorporação à nova instituição escolar, que seguia<br />
alguns rituais como comentou o Coronel Waldir Roberto Gomes de<br />
Mattos ao recordar sobre o seu ingresso no colégio:<br />
[...] eu era o aluno mais novo que estava entrando. O aluno mais novo<br />
recebe a chave do aluno mais graduado que já tá lá no primeiro ano.<br />
Existe uma cerimônia no portão de entrada onde os alunos novos ficam<br />
lá fora sem uniforme. Daí o mais novo vai ali e recebe uma chave, um<br />
cumprimento simbólico e entra. Então eu lembro bem dessa solenidade.<br />
Depois, a minha função como mais novo era conduzir o mascote do<br />
colégio nos desfiles, que era um carneiro, e eu conduzi durante um ano. A<br />
chave simbolizava a entrada de nós 100 que estávamos entrando.[...]. 63<br />
Após atravessar os portões do Colégio Militar de Curitiba e participar<br />
da cerimônia, os estudantes entravam em um ambiente em que o tempo<br />
e o espaço estavam condicionados a uma rígida organização disciplinar.<br />
Tudo era organizado de forma que não houvesse desperdício de tempo,<br />
o detalhamento e fracionamento dos horários previstos pretendiam<br />
atingir, portanto, a máxima rapidez e eficiência de ensino. A instituição<br />
trabalhava com alunos externos e internos, o que exigia uma divisão<br />
maior do tempo sendo que o dia iniciava às 06h30min e terminava às<br />
22h00min, como mostra o primeiro quadro de horários do colégio:<br />
TABELA 1 <strong>–</strong> Quadro de horários<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 19<br />
| História | 2009<br />
Nº de<br />
ordem<br />
Discriminação 2as, 3as ,5as e<br />
6as feiras<br />
4as feiras e<br />
sábados<br />
domingos e<br />
feriados<br />
1 Alvorada 06:30 06:30 07:00<br />
2 Rancho (1º Refeição) 07:00 07:00 07:30<br />
3 Parada 07:30 07:30 08:30<br />
4 Serviços Gerais (Avançar) 07:30 07:30 ********<br />
5 Serviços Gerais (Debandar) 11:15 12:00 ********<br />
6 Rancho (2 ª Refeição) 11:30 13:30 12:00<br />
7 Serviços Gerais (Avançar) 12:30 ******** ********<br />
8 Visita Médica 12:30 07:30 ********<br />
9 Aulas (Início) 13:00 08:00 ********<br />
10 Aulas (Término) 17:00 12:00 ********<br />
11 Serviços Gerais (Debandar) 17:15 ********* ********<br />
12 Leitura Do Boletim 17:15 12:15 ********<br />
13 Ordem 17:30 12:30 ********<br />
14 Rancho (3 ª refeição) 17:45 17:30 17:30<br />
15 Revista do recolher 21:00 21:00 21:00<br />
16 Silêncio 22:00 22:00 22:00<br />
FONTE: BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar<br />
de Curitiba. Boletim interno - CMC 1959. Curitiba. Trimestral. p. irreg.
Para os alunos internos, a jornada diária era minimamente organizada<br />
desde o despertar (alvorada) até o recolher (silêncio), momento em que<br />
todos os alunos deveriam estar prontos para dormir. Apenas nos domingos<br />
e feriados era permitido um descanso maior. A parada, n.º de ordem 3, era<br />
o momento da formatura no qual todos se organizavam em filas, internos e<br />
externos, para seguir marchando em direção à sala de aula.<br />
Formatura CMC - 1959<br />
Acervo: Arquivo Colégio Militar de Curitiba<br />
As disciplinas ministradas no CMC eram as mesmas de outros<br />
colégios como, por exemplo, Desenho, Educação Física, Latim,<br />
Geografia, Matemática, Português, Francês e História. Contudo, estas<br />
quatro últimas também utilizavam o estudo dirigido, conforme abordado<br />
no tópico anterior. Havia também a disciplina de conhecimentos militares,<br />
na qual as instruções militares eram apresentadas para os alunos.<br />
Segundo Ronaldo Schlichting 64 esses conhecimentos eram os mesmo<br />
aplicados nos quartéis:<br />
Você fazia todos aqueles movimentos e exercícios que faz dentro<br />
do quartel. União de grupo, disciplina, marchar alinhado, é uma<br />
doutrinação. Conviver em grupo, respeitar a hierarquia era passado<br />
também na conversa do dia-a-dia, professor-aluno, aluno-aluno, na<br />
forma de passar a matéria. 65<br />
Pode-se perceber, por intermédio desse relato que, mesmo tendo<br />
horário específico para as instruções militares, a doutrinação era<br />
transmitida diariamente ao aluno inclusive de maneira informal.<br />
Esta constatação nos remete as indicações de Michel Foucault<br />
sobre as relações entre poder e saber, nas quais o poder, entendido<br />
como práticas ou relações de poder, encontra-se diluído no tecido social,<br />
trabalhando como uma rede de dispositivos que envolve todos os seres<br />
humanos e suas instituições.<br />
Neste sentido, ao investir sobre o corpo humano, o poder pretende<br />
aperfeiçoar a sua capacidade, ampliando por um lado a eficiência do<br />
trabalho e por outro lado, reduzindo qualquer possibilidade de resistência.<br />
E no que concebe as instituições, neste caso específico à escola, o poder<br />
se projeta como um “poder disciplinador” organizando o espaço e o<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 20<br />
| História | 2009<br />
tempo.<br />
Para Michel Foucault, o controle do tempo, característica do poder<br />
disciplinador, ou melhor, a sujeição dos indivíduos a um ritmo exato,<br />
aplicado e regular, procura garantir sua boa qualidade tornando-o<br />
integralmente útil. Por este motivo, o desperdício deveria ser combatido<br />
por uma vigilância constante. Isto pode ser aplicado ao CMC que (como<br />
indica o quadro de horários) ao esmiuçar o tempo escolar procurou
organizar o cotidiano dos alunos de uma forma que o estudo fosse<br />
intensificado da mesma maneira que o próprio tempo fosse maximizado.<br />
Um tempo que sincroniza o jogo dos movimentos aos objetos<br />
manipulados, além se tornar um tempo coletivo formando um laço<br />
coercitivo com o Colégio integrado por intermédio das práticas<br />
pedagógicas, requer um olhar vigilante e controlador tanto dos<br />
professores quanto dos sargentos responsáveis pelas turmas. Qualquer<br />
distração e perturbação que pudessem vir a prejudicar os estudos dos<br />
alunos deveriam ser evitadas. O tempo bem aproveitado, além de impor<br />
um ritmo coletivo e obrigatório, realizaria a elaboração dos próprios<br />
atos dos alunos do CMC controlando o desenrolar das suas atividades,<br />
pois “o tempo penetra o corpo e com ele todos os controles minuciosos<br />
do poder.” 66 A garantia do tempo é dada pela aplicação do corpo ao<br />
exercício e a exatidão, que com a regularidade seriam as virtudes do<br />
tempo disciplinar. Portanto, para que o tempo fosse bem utilizado pelo<br />
aluno, este deveria ser disciplinado, pois “o corpo disciplinado é a base<br />
de um gesto eficiente” 67 .<br />
Para que ocorresse uma disciplina, o corpo deveria ser moldado,<br />
treinado e, enfim, transformado e aperfeiçoado. Sendo assim,<br />
os regulamentos do Colégio moldavam o aluno para que seus<br />
comportamentos fossem os desejados pela instituição. Dessa forma,<br />
retornando as indicações de Michel Foucault os métodos “[...] que<br />
permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam<br />
a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de<br />
docilidade-utilidade, são o que podemos chamar disciplinas” 68 , ou<br />
em outras palavras, as táticas gerais de dominação. Estas táticas de<br />
disciplinarização podem ser observadas na organização das punições<br />
estabelecidas no regulamento do CMC:Art. 149<br />
1º As faltas disciplinares se agrupam em quatro categorias:<br />
- faltas leves;<br />
- faltas médias;<br />
- faltas graves;<br />
- faltas eliminatórias.<br />
2º As punições de caráter educativo se aplicam aos alunos que<br />
hajam cometido faltas leves e médias; as de caráter repressivo se<br />
aplicam aos que incidam em faltas graves e eliminatórias.<br />
Art. 150 As punições de caráter educativo são as seguintes:<br />
a) repreensão em particular;<br />
b) repreensão em reunião (aula, instrução, formatura);<br />
c) repreensão em Boletim Colegial;<br />
d) privação de recreio;<br />
e) detenção em dia de licenciamento;<br />
f) prisão em comum;<br />
g) prisão em separado.<br />
Art. 151. As punições de caráter repressivo acarretam a eliminação<br />
temporária ou definitiva do aluno. 69<br />
A disciplina dos alunos não era apenas exigida dentro do colégio. O<br />
modelo de aluno que simbolizaria o CMC e até mesmo o próprio Exército<br />
para a sociedade civil, deveria ser notado e identificado. Por este motivo<br />
atitudes que pudessem vir a denegrir a imagem do educandário eram<br />
punidas, como podemos observar a seguir:<br />
Detenção:<br />
O aluno n.°34 Wojciech André Szymanski, por ter-se portado de<br />
modo altamente inconveniente na rua, arremessando uma pedra<br />
contra um ônibus da linha Tarumã, a qual atingiu o seu motorista,<br />
fica detido por 4 dias.<br />
Os alunos n.°14 Hermann Schmall e o n.°46 Luiz Amorim Cravo, por<br />
se portarem de modo inconveniente na principal rua desta capital,<br />
em presença de um oficial do CMC, ficam detidos por 2 dias 70 .<br />
Os alunos acima mencionados, após cometerem atos reprováveis<br />
eram detidos e permaneciam estudando em salas próprias para esse<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 21<br />
| História | 2009
fim sendo monitorados pelos sargentos. Dependendo da gravidade do<br />
ato, a detenção poderia ser durante à tarde, quando não estivessem em<br />
atividades, ou mesmo nos fins de semana. Além de mau comportamento,<br />
o uniforme também era motivo de punição, como conta Coronel Mattos:<br />
Você tinha que andar com o uniforme impecável na cidade, a gente<br />
usava um quepe, uma túnica. Não podia andar com a gola aberta,<br />
não podia andar com o quepe na mão. Tinha oficial que anotava seu<br />
nome e quando chegava no colégio no dia seguinte você já estava<br />
grampeado. 71<br />
A postura do aluno era, portanto, a própria imagem do colégio fora<br />
da instituição. Seria através das suas atitudes que o Colégio seria bem<br />
visto ou não pela sociedade civil. O aluno do CMC seria o exemplo a ser<br />
seguido de cidadão, defendido pelo Exército. Porém, para alcançar este<br />
objetivo era preciso que esse tivesse conhecimento do que podia ou não<br />
fazer e para isso existia o regulamento do colégio.<br />
Com relação a essa questão, não havia um momento específico para a<br />
apresentação das regras. Em todas as ocasiões as normas eram passadas<br />
e repassadas, seja durante as aulas, na formatura diária e, sobretudo, no<br />
início do ano letivo como conta Julio César Guimarães: 72<br />
Lembro que o sargento pegava a sua turma e fazia um tour pelo<br />
Colégio explicando o que era cada repartição, o que era feito lá e<br />
como devia ser seguido o “canal competente” para resolver quase<br />
todos os problemas; durante o trajeto eram informadas as regras de<br />
procedimento para a maioria dos assuntos. 73<br />
Estes regulamentos que controlam os gestos e os comportamentos<br />
dos alunos fazem com que o corpo entre em uma maquinaria de poder<br />
que o desarticula e o recompõe. O regulamento a ser seguido pelos<br />
estudantes vem, portanto, instaurar a “mecânica do poder” que define<br />
como o corpo deve operar e quais as técnicas a serem seguidas, por esse<br />
motivo “a disciplina é uma anatomia política do detalhe”. 74<br />
Para que um sistema disciplinador obtenha sucesso, torna-se<br />
necessário a utilização de alguns instrumentos como a vigilância que,<br />
por sua vez, requer um olhar ou nas palavras de Foucault, a possibilidade<br />
de um olhar permanente que mesmo não presente, faz com que o vigiado<br />
interiorize o olhar daquele que vigia. E neste caso específico, o CMC<br />
não fugiu a esta regra, pois os alunos estavam submetidos ao olhar<br />
dos professores, sargentos e xerifes 75 das turmas. A disciplina ainda<br />
exige o fechamento e a delimitação de um espaço para que exista uma<br />
visibilidade geral do local. A partir disso, a arquitetura se mostra como<br />
um instrumento do poder disciplinador, uma vez que busca garantir o<br />
controle interno e detalhado tornando visíveis àqueles que nele se<br />
encontram. A escola, para Foucault, apresenta-se como um operador de<br />
adestramento, um aparelho de vigilância dos seus alunos e por isso o seu<br />
espaço deve ser organizado, como podemos perceber no caso do CMC.<br />
O Colégio Militar de Curitiba possuía (como ainda possui) um espaço<br />
bastante grande e aberto o que favorecia a distribuição dos pavilhões e a<br />
visibilidade dos que estavam em seu interior. Muitos desses pavilhões foram<br />
reaproveitados de uma feira que comemorou a emancipação do Paraná,<br />
realizada alguns anos antes e de um orfanato que, como já citado, foi transferido<br />
de local quando escolhido o terreno para a criação do colégio. Por ser uma<br />
instituição militar a segurança era garantida por soldados que, durante o dia<br />
e a noite, vigiavam toda a movimentação. Logo no portão de entrada havia o<br />
corpo da guarda que controlava a entrada e a saída dos alunos.<br />
Além do portão, alguns pontos estratégicos eram vigiados também<br />
por sargentos para não permitir a fuga dos alunos, conforme relatou<br />
Silmar Van der Broocke: 76<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 22<br />
| História | 2009
No fundo do colégio tinha uma guarita, ali era ponto de fuga.<br />
Algumas vezes você queria escapar, respondia a chamada e<br />
tirava o time, alguma dessas você encontrava um sargento lá<br />
esperando você. Então isso dava detenção, você passava um<br />
final de semana lá. E já me pegaram bastante vezes. Eu lembro<br />
de no mínimo umas dez vezes e não tinha negociação com o<br />
sargento, era “Ih! Me ferrei!.” 77<br />
A vigilância era exercida a todo o momento e para toda atividade<br />
desenvolvida, foram criados dispositivos que permitissem a vigilância<br />
incessante e total dos alunos desde o momento do despertar,<br />
passando pelos horários<br />
das refeições até a hora do<br />
silêncio para os internos ou a<br />
saída para os externos. Toda a<br />
movimentação das turmas de<br />
alunos era acompanhada pelo<br />
sargento correspondente.<br />
Segundo Gilberto de<br />
Souza Vianna, os edifícios<br />
sólidos que se encontravam<br />
separados do exterior por uma<br />
zona relativamente ampla entre<br />
o campo escolar e o muro são<br />
característicos da arquitetura<br />
militar brasileira. Diz ainda o<br />
autor que, o prédio principal do<br />
CMC foi construído entre os<br />
anos 1964-1967, com grande<br />
opulência para se tornar<br />
Primeira instalação do CMC <strong>–</strong> sem data<br />
Acervo: Arquivo do Colégio Militar de Curitiba<br />
visível uma vez que se tratava de uma construção criada para que a<br />
“fachada imponente ostentasse o nome do Colégio e seu brasão.” 78<br />
No prédio onde ficavam as salas de aula, a vista de fora era de<br />
uma grande área de pinheiros, que tinha como objetivo conter a<br />
dispersão dos alunos ocasionada por acontecimentos externos. Tudo<br />
foi organizado para que o tempo de estudo fosse bem aproveitado<br />
e sem distrações.<br />
O local escolhido para a construção do prédio facilitou a vigilância<br />
e o controle da movimentação<br />
dos alunos já que está<br />
localizado no centro do terreno.<br />
Aqueles que tentassem sair<br />
eram facilmente vistos. As ruas<br />
em volta garantiriam ainda o<br />
acesso livre ao redor do edifício<br />
e as áreas mais afastadas 79 . A<br />
arquitetura propiciou, então,<br />
um controle minucioso e<br />
articulado dos alunos, uma<br />
ação sobre eles, um domínio<br />
de seu comportamento e sua<br />
própria transformação. A<br />
repartição, a classificação, a<br />
divisão dos estudantes fez com<br />
que instituições disciplinares,<br />
como o CMC, desenvolvessem<br />
um aparelho de observação,<br />
registro e treinamento.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 23<br />
| História | 2009
Quarto do internato <strong>–</strong> sem data<br />
Acervo: Arquivo do Colégio Militar de Curitiba<br />
Galpão das salas de aula <strong>–</strong> década de 1960<br />
Acervo: Arquivo do Colégio Militar de Curitiba<br />
Outro ponto observado que merece ser ressaltado, que concebe a<br />
sincronia do jogo de movimentos dos objetos manipulados, característica<br />
do poder disciplinador, refere-se às atividades extracurriculares. Estas<br />
eram dadas pela parte da tarde duas vezes por semana. O programa<br />
oferecia grêmio literário, jornal do colégio, clube de ciências, esportes,<br />
música, coral, aeromodelismo, fotografia entre outras atividades e os<br />
alunos poderiam escolher a de sua maior preferência. Porém, nem todas<br />
as atividades eram bem vistas pelos alunos, pois como disse o Coronel<br />
Mattos:<br />
[O] coral que ninguém queria, a gente achava coisa de boiola. A gente<br />
tinha que fazer um teste pra esse coral, daí o professor mandava a<br />
gente falar “lá” e a gente fazia umas coisas bem tortas justamente<br />
pra não ir pro coral. Tinha banda também, a aula de arte tinha uma<br />
professora super bonita, era a única mulher professora lá, a gente<br />
fazia arte por causa dela. Aquela gurizada boba toda babando por<br />
ela. A gente aprendia a fazer cinzeiro de barro e levava de presente<br />
pra mãe, aquelas coisas horríveis. 80<br />
O coral não parece ter sido a única atividade que não despertava muito<br />
interesse entre os alunos. A instrução militar, também extracurricular, não<br />
parecia animar também os seus participantes. Silmar Van der Broocke<br />
recordou que:<br />
[...] Nas atividades extracurriculares, tinha época que você tinha que<br />
fazer instrução militar.Ficar marchando sob um sol escaldante com o<br />
mosquetão e etc, eu nunca gostei disso. Eu fazia coral, um dos motivos<br />
de entrar no coral e meus amigos também, vários. Ficar marchando 3<br />
horas, pelo amor de Deus! Tinha coisa melhor pra fazer.[...] 81<br />
A preferência entre uma atividade ou outra não nos pareceu<br />
despertar o interesse dos alunos e sim uma forma de burlar determinadas<br />
doutrinas, representadas neste momento pela marcha de 3 horas sob<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 24<br />
| História | 2009
um sol escaldante. Também a opção revela formas de resistência a uma<br />
atividade que os alunos achavam ser coisa de boiola e o despertar da<br />
sexualidade, representado pela opção as aulas de artes, ministradas<br />
por uma professora super bonita. Opções e resistências a parte, para o<br />
tenente-coronel Alípio Ayres de Carvalho, as atividades extracurriculares<br />
desempenhariam um “papel de alta relevância na personalidade dos<br />
alunos”, 82 pois eram vislumbradas como um complemento a mais na<br />
educação dos estudantes.<br />
Aula de artes no CMC <strong>–</strong> sem data<br />
Acervo: Arquivo do Colégio Militar de Curitiba<br />
A regularidade do tempo e a organização do espaço escolar no Colégio<br />
Militar de Curitiba procuravam não apenas o máximo aproveitamento<br />
nos estudos por parte dos alunos, mas, sobretudo, a internalização de<br />
hábitos disciplinares que seriam os pilares para a educação pretendida<br />
pelo Exército.<br />
Aula de Educação física do CMC <strong>–</strong> sem data<br />
Acervo: Arquivo do Colégio Militar de Curitiba<br />
Porém, as “heresias”, ou mais prudente seria dizer, as faltas<br />
cometidas, eram muito comuns entre os alunos o que gerou uma série de<br />
punições para os eventuais desviantes. Mas, de que maneira os alunos<br />
seriam punidos? Que tipos de comportamentos eram considerados<br />
“perigosos” para a conduta dos estudantes do CMC? Estas questões<br />
implicam uma análise mais detalhada, conforme será abordada no<br />
decorrer deste trabalho. No entanto, cabe aqui enfatizar que a disciplina<br />
proposta e imposta no CMC, caracterizou-se por privilegiar determinadas<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 25<br />
| História | 2009
práticas pedagógicas. A relação entre poder e saber foi paulatinamente<br />
construída e disciplinou os alunos com o objetivo de “produzir” indivíduos<br />
capazes de defender Deus, a Pátria e a família.<br />
2.3. Para toda a regra há exceções: os desvios<br />
de conduta<br />
O Colégio Militar de Curitiba, assim como os demais estabelecimentos<br />
de ensino, ao receber alunos no despertar de sua juventude, deparava-se<br />
com a efervescência juvenil, suas contestações, irreverências, sonhos e<br />
esperanças. Logo, “[...] para canalizar toda essa energia sem desperdício,<br />
para orientar todo esse arroubo da juventude, sem descrenças, para<br />
plasmar essa massa informe, sem preconceito” 83 , o CMC contava com<br />
o seu corpo hierárquico composto pelos comandantes, professores e<br />
equipe administrativa. 84<br />
Com base nestas indicações, podemos constatar que a disciplina<br />
deveria ser seguida à risca, afinal cabia a instituição e seu corpo<br />
hierárquico “[...] a missão de educar estes jovens para construir [...] o<br />
arcabouço maior da eternidade da pátria!.” 85<br />
E, para entender melhor essa problemática, novamente recorremos<br />
às observações de Michel Foucault sobre o poder disciplinador. Para<br />
o filósofo, as disciplinas possuem um pequeno sistema penal no qual<br />
qualificam e reprimem um conjunto de comportamentos que não condizem<br />
com as regras. Tudo que está inadequado e distante do regulamento são<br />
entendidos como desvios. Nesse sentido, Foucault indica que a título de<br />
punição as instituições utilizavam uma série de processos sutis que iam<br />
de leves castigos físicos a pequenas privações.<br />
No caso do CMC, podemos perceber que ocorriam diversos<br />
desvios por parte dos alunos e estes eram registrados e descritos no<br />
Boletim Interno no dia em que a falta foi cometida seguidos da punição<br />
correspondente:<br />
Retirada do Colégio:<br />
1.Os alunos n.° 22 Marco Antonio Vieira Marques e n.° 53<br />
Humberto Lucíolo de Campos, por terem se utilizado de meios<br />
ilícitos na resolução de uma prova de História do Brasil (falta<br />
grave), são, nesta data, retirados do colégio por 1 dia.<br />
2. O aluno n.° 14 Herman Schmall, por ter travado luta corporal<br />
com um seu companheiro, atingindo, com esta, um número de faltas<br />
elevado, o que evidencia uma conduta condenável (falta grave) e<br />
nesta data retirado do Colégio por 1 dia.<br />
Detenção:<br />
1.O aluno n.° 34 Wojciech André Szymanski, por ter indevidamente<br />
aberto o armário de um seu colega, retirando revistas sem que,<br />
para isso, estivesse autorizado (falta grave), fica detido por 4 dias.<br />
2.O aluno n.° 52 Eduardo Mansur Mattar, por ter-se empenhado em<br />
luta corporal, com seu colega, procedimento que vem contrariar sua<br />
conduta até esta data (falta grave), fica detido por 2 dias.<br />
3.Os alunos n.° 41 Sinval Correia Sampaio Filho e n.° 63 Luiz Carlos<br />
Ferreira Braga, por terem, durante o recreio, travado violenta luta<br />
corporal com pedras, apesar das constantes recomendações feitas<br />
(falta média), ficam detidos por 2 dias.<br />
As punições constantes deste Boletim, aplicadas já ao término dos<br />
trabalhos escolares do corrente ano, apontam faltas normais dos<br />
alunos, mas, também mostram graves hábitos, que precisam ser<br />
abolidos, porquanto influirão no conjunto da 1ª turma do CMC, tão<br />
bem conceituada por este Comando e por todos os que nos visitam,<br />
Fiquem os faltosos com esta advertência, pois, de maneira alguma,<br />
deverão prejudicar a coletividade a que pertencem. 86<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 26<br />
| História | 2009
Os comportamentos como dos alunos n.° 22, n.° 53 e n.° 14 eram<br />
punidos com a privação da presença no Colégio, sendo obrigados<br />
a perderem aulas e conseqüentemente a matéria. Para um sistema<br />
disciplinar em que o tempo deveria ser integralmente útil esta punição<br />
revela a sua gravidade. Já os alunos que foram detidos, dois deles<br />
também com faltas graves, permaneceram no Colégio. Estes eram<br />
obrigados a estudar sendo supervisionados por um sargento. Com a<br />
função de reduzir os desvios, o castigo no Colégio era essencialmente<br />
corretivo e justificado, pois privilegiava o aprendizado intensificado,<br />
muitas vezes repetitivo. A diferenciação das punições, mesmo sendo<br />
elas faltas graves (apenas uma falta média) evidencia o que era mais<br />
desprezado pela instituição, no caso a utilização de meios ilícitos e o<br />
número de faltas elevado, o que demonstrava uma conduta condenável<br />
dos alunos. Mesmo com toda a disciplina e critérios utilizados pelo CMC,<br />
muitos alunos encontravam diversas formar para burlar a vigilância e<br />
evitar punições:<br />
[...] Tinha lá um local, não lembro, acho que era no teto do banheiro.<br />
Eles pegavam e subiam no teto e ficavam lá em cima matando<br />
aula e fumando.[...] Os pais eram plenamente informados do que<br />
acontecia Era uma maneira bem eficiente de aviso. Já levei vários<br />
avisos pra casa, daí eu também falsificava a assinatura.O papel era<br />
termosensível, daí você pegava um cigarro e passava por baixo, daí<br />
borrava a assinatura. 87<br />
[...] Tudo o que era de errado era atrás da capela, brigas, fumar<br />
cigarro às vezes no banheiro também. 88<br />
[...] Os pais eram avisados por escrito e este papel devia retornar assinado<br />
pelo “pai ou responsável” ao Comandante de Companhia. Via de regra<br />
era a mãe que assinava para preservar o rebento da ira paterna. 89<br />
[...] Quando fazíamos alguma coisa errada eles mandavam pelo<br />
boletim. Mas como era um papel termosensível, daí pegava um calor<br />
e borrava a assinatura né. Mas conforme o caso eles chamavam<br />
os pais, só quando era muito grave. A gente levantava bem cedo e<br />
pedia pros pais assinarem, nem liam nada.[...] Teve uma vez, que uns<br />
alunos falsificaram a carteirinha do colégio. Eles foram lá na parte<br />
administrativa e não sei como eles viram as carteirinhas em branco,<br />
então pegaram e colocaram foto e na assinatura do comandante do<br />
colégio eles assinaram Luis Alves de Lima e Silva. Então pegaram<br />
as carteirinhas e foram ver um filme proibido, impróprio. O pessoal<br />
lá desconfiou pela cara deles e não deu outra, ligaram pro colégio<br />
avisando e foi uma patrulha do exército pegar eles lá na casa.<br />
Pegaram eles e foram pro Colégio Militar [...]. 90<br />
Além das condutas consideradas mais ilícitas, os alunos eram<br />
também punidos caso não participassem das cerimônias cívicas:<br />
Era obrigatório. Toda manhã tinha a formatura, todo o sábado tinha<br />
uma formatura com outro uniforme, o de gala. Participava de desfiles,<br />
como o 7 de setembro. Se faltasse era falta grave, era gancho. Só<br />
por doença você era dispensado. 91<br />
Existia uma participação obrigatória.Então naquele tempo, eu<br />
participei poucas vezes disso, existia na época tipo um quepe com um<br />
penacho em cima e eu era sempre o ultimo a pegar. Como eu tinha<br />
a cabeça muito grande não tinha pra mim, daí eu não participava. Eu<br />
quero [risos], mas não posso [risos] Era o uniforme de gala pra se<br />
apresentar. Se faltasse no dia tinha punição pro aluno. 92<br />
As cerimônias e formaturas eram obrigatórias. As faltas às<br />
cerimônias eram duplamente penalizadas, os pontos pela falta à<br />
atividade e a punição disciplinar para o caso de não ser justificado<br />
o motivo da ausência. As faltas às solenidades como às aulas<br />
normais acarretavam perda de pontos, tantos pontos se a falta era<br />
justificada, tantos pontos se a falta era não justificada, tantos pontos<br />
por dispensa médica, etc. Ao se atingir determinado somatório de<br />
pontos o aluno poderia ser desligado do Colégio. 93<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 27<br />
| História | 2009
Cabe aqui destacar, que por intermédio das punições os aparelhos<br />
disciplinares, como é o caso do CMC, hierarquizam os maus e bons<br />
alunos, operando uma diferenciação não dos atos, mas dos próprios<br />
indivíduos, da sua natureza, de seu nível ou valor, de sua conduta<br />
condenável ou exemplar.<br />
A descrição e classificação das faltas cometidas têm uma função<br />
dupla, pois segundo Foucault, marca as condutas desviantes, hierarquiza<br />
as qualidades, competências e aptidões; e também castiga e recompensa<br />
o grupo envolvido 94 , representado aqui pelos alunos do CMC.<br />
A recompensa dada aos alunos do Colégio era obtida por intermédio<br />
de promoções que admitiam lugares e hierarquia, já o castigo era a própria<br />
falta destes lugares ou a própria punição de alguma falta. Assim, os alunos<br />
que eram destaques em suas turmas eram prestigiados no Colégio:<br />
Os primeiros lugares recebiam, por seu mérito intelectual, postos<br />
(oficiais) ou graduações (praças) de acordo com o ano cursado [...].<br />
No meu caso, fui Cb Al, Sgt Al e Ten Al. Os oficiais-alunos desfilavam<br />
à testa dos grupamentos nas formaturas gerais e com espada no 7<br />
de setembro. Em situações esporádicas eram chefes de turma. 95<br />
Estes possuíam comportamentos considerados exemplares para<br />
instituição recebendo, portanto, um reconhecimento por sua dedicação.<br />
Os alunos oficiais seriam “ao mesmo tempo campo de comparação,<br />
espaço de diferenciação e princípio de uma regra a seguir” 96 . Mesmo com<br />
todo este aparato simbólico, muito alunos questionavam tal disciplina,<br />
como afirmou em sua entrevista o ex-aluno Silmar:<br />
[...] Eu sempre fui muito questionador, tanto é que entrei em<br />
sindicatos e esse perfil do exército é meio difícil de você viver, é<br />
muito rígido. E a comecei a perceber que eu não me afinava com<br />
essas coisas; não que eu não seja uma pessoa disciplinada, mas<br />
gosto de saber de certas coisas. Você não tem chance, não tem<br />
espaço. Nas aulas tinha espaço, mas é aquela famosa hierarquia:<br />
se teu superior imediato na hierarquia diz que isso aqui é azul, não<br />
questione mesmo se for verde a cor. Ele pode estar errado, mas faça<br />
o que está dizendo. É o princípio da hierarquia... Você não questiona<br />
seu superior porque ele pode ter outras ordens e você é um mero<br />
instrumento dentro do contexto. Obediência cega é o principio! Pra<br />
mim isso não... Mas fiquei lá 7 anos. 97<br />
No entanto, o ex-aluno quando questionado sobre o principal ponto a<br />
ser destacado sobre o Colégio, mencionou a formação exemplar que os<br />
alunos adquiriram em sua permanência no local:<br />
A formação que a pessoa tem...a formação indiscutivelmente... Você<br />
começa a respeitar seu semelhante, começa ter uma autodisciplina<br />
muito grande, você aprende os limites da sua vida, onde começa o<br />
seu direito até onde vai a do outro. A questão do horário, não é um<br />
minuto antes ou um depois, isso pra vida é muito importante.<br />
Os limites da sua vida, conforme lembra Silmar, estavam inseridos na<br />
disciplina do Colégio que visava não somente o aluno ideal como também<br />
a própria turma que deveria se apresentar enquanto um modelo e um<br />
exemplo a ser seguido, como mostra o concurso proposto pelo CMC:<br />
Concurso de disciplina e aplicação:<br />
O Maj. Chefe do Serviço de Orientação Educacional deste CM[...]<br />
organizou uma competição entre as turmas do 1° e do 2° anos, à<br />
qual denominou “Concurso Disciplina e Aplicação”, como objetivo<br />
de estimular o esforço individual dos alunos para obtenção de uma<br />
conduta exemplar e um melhor aproveitamento.<br />
Será instituído um troféu, que permanecera com a turma melhor<br />
classificada em cada semana, sendo que a sua posse definitiva<br />
caberá à turma que, no termino do ano letivo houver sido classificada<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 28<br />
| História | 2009
em 1° lugar por mais vezes, a qual, por sua vez, premiará com o<br />
mesmo troféu, o seu aluno considerado o mais distinto. 98<br />
Os vencedores, tanto aluno<br />
quanto a turma, seriam considerados<br />
fiéis executadores dos seus deveres,<br />
representantes típicos de um alunado<br />
atencioso nos estudos e exercícios.<br />
Essa forma do sistema disciplinar de<br />
recompensar, garantindo lugares de<br />
destaque, e penalizar, rebaixando os<br />
que “fugiam as regras”, tinha como<br />
objetivo principal a normalização dos<br />
alunos.<br />
Dessa forma, segundo Michel<br />
Foucault, o “poder da norma”<br />
aparece através das disciplinas.<br />
A regulamentação que obriga a<br />
homogeneidade também individualiza,<br />
auxiliando na determinação dos níveis<br />
e desvios tornando úteis as diferenças<br />
e ajustando-as umas as outras. Além<br />
disso, a combinação entre sanção que<br />
normaliza e técnicas da hierarquia que<br />
vigia, origina o Exame. Esta prática<br />
estabelece sobre os indivíduos uma<br />
visibilidade que permite empregar os<br />
critérios de diferenciação, sanção,<br />
qualificação, classificação e punição.<br />
Aluno sendo condecorado com medalha <strong>–</strong> década de 1960<br />
Acervo: Arquivo do Colégio Militar de Curitiba<br />
Para o mestre, ao mesmo tempo em que transmite saber¸ o<br />
exame proporciona um campo de conhecimento sobre seus alunos.<br />
Nesse sentido, “[...] o Exame supõe<br />
um mecanismo que liga um certo tipo<br />
de formação de saber a uma certa<br />
forma de exercício de poder” 99 . Este<br />
poder sobre o indivíduo, ao contrário<br />
de ser visto, mostrado, imposto, é<br />
exercido de uma forma invisível. Na<br />
disciplina são os comandados que<br />
devem ser vistos, estes são “como<br />
objetos à observação de um poder<br />
que se manifesta pelo olhar.” 100<br />
Neste ponto, a individualidade<br />
entraria em um campo documentário<br />
no qual há detalhes e minúcias que<br />
colocam o indivíduo em uma rede<br />
de anotações escritas. No Boletim<br />
Interno do CMC estes registros<br />
eram minuciosamente detalhados<br />
chegando até as características<br />
físicas dos seus alunos. Esta prática<br />
do Colégio formou uma série de<br />
códigos de individualidade que<br />
permitiam transcrever os traços<br />
físicos dos alunos como podemos<br />
observar ao analisar no Boletim<br />
Interno de 1960:<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 29<br />
| História | 2009
n.° 16 Flávio Trajano da Silva. Cútis branca. Cabelos castanhos claros<br />
lisos. Barba imberbe. Bigode imberbe. Olhos castanhos médios.<br />
Altura 1,62m. Sinais característicos: Cic de corte em forma irregular<br />
de mais ou menos 2 cm na região frontal esquerda a mais ou menos<br />
3 cm da linha mediana.<br />
n.° 17 Francis Noêmio Guedes. Cútis branca. Cabelos castanhos<br />
claros lisos. Barba imberbe. Bigode imberbe. Olhos castanhos claros.<br />
Altura 1,67m.<br />
n.° 18 Wagner José da Silva. Cútis morena. Cabelos castanhos<br />
médios lisos. Barba imberbe. Bigode imberbe. Olhos castanhos<br />
escuros. Altura 1,55m. Sinais característicos: Verruga no bordo<br />
externo do polegar esquerdo 101 .<br />
Percebe-se, então, que além do registro das punições e premiações,<br />
as características físicas também levantadas se mostravam necessárias<br />
para fazer de cada aluno “um caso”, ou nas palavras de Foucault,<br />
“[...] o caso [...] é o indivíduo tal como pode ser descrito, mensurado,<br />
medido, comparado a outros e isso em sua própria individualidade; e é<br />
também o indivíduo que tem que ser treinado ou retreinado, tem que ser<br />
classificado, normalizado, excluído, etc”. 102<br />
A descrição é transformada, portanto, em um meio de controle e um<br />
método de dominação e o Exame, combinando vigilância hierárquica e<br />
sanção normalizadora, faz com que as funções disciplinares de repartição<br />
e classificação dos indivíduos sejam realizadas.<br />
Os alunos do Colégio Militar de Curitiba, submetidos a um sistema<br />
disciplinar nos mesmos moldes aplicados nos quartéis, no entanto<br />
adaptados ao ambiente escolar, são disciplinados e exercitados a<br />
uma nova realidade. Estes jovens eram moldados para aquilo que o<br />
Exército almejava: educar os futuros homens com responsabilidade<br />
no cumprimento de seus deveres para com a família, Deus e a Pátria.<br />
Esse se tornava o grande modelo de cidadão pretendido pelo Exército. E<br />
retomando as palavras do General Nilo Horacio Sucupira, sobre o objetivo<br />
do educandário de “incutir no espírito dos alunos a consciência do dever<br />
e da responsabilidade; formar-lhe o caráter; criar e desenvolver o espírito<br />
da brasilidade” 103 , constatou que as práticas disciplinares empregadas na<br />
instituição permitiram que o objetivo principal do CMC fosse alcançado.<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
O Colégio Militar de Curitiba mostrou-se como formador das<br />
condutas almejadas pelo Exército, baseadas em uma educação que<br />
primava os valores militares como o amor a Pátria, a Deus e a Família,<br />
além de garantir a segurança nacional. O fenômeno educativo não pode,<br />
portanto, ser encarado sob um ângulo da neutralidade política.<br />
A educação militar, por suas características disciplinares, exerce<br />
um poder de transformação pessoal. Esse poder foi sentido pelos<br />
alunos desde os primeiros dias em que entraram em contato com a<br />
instituição. O primeiro choque ocorria devido à rígida rotina diária,<br />
um dos procedimentos mais eficazes para incutir a idéia de ordem e<br />
disciplina entre os alunos. A existência de horários exatos para realizar<br />
diária e repetidamente as atividades como marchar, assistir às aulas,<br />
alimentar-se, dormir, estudar entre outras, colaborava para automatizar<br />
os comportamentos dos jovens. O espaço físico devidamente fechado,<br />
vigiado e ordenado permitia que os alunos adquirissem a noção de que<br />
ocupavam um determinado lugar dentro da instituição, onde exerciam<br />
atividades específicas. Esta noção deveria ser levada para fora dos<br />
portões, contribuindo assim para a harmonia da sociedade.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 30<br />
| História | 2009
O controle do tempo e do espaço escolar mostraram-se, portanto,<br />
como instrumentos dentro de um sistema disciplinar como é o do Colégio<br />
Militar de Curitiba.<br />
A conduta dos alunos era devidamente controlada pelos regulamentos<br />
do Colégio, cabendo punições para os eventuais desviantes. Os<br />
aparelhos disciplinadores, como o CMC, hierarquizam os maus e bons<br />
alunos, operando uma diferenciação não dos seus atos, mas dos próprios<br />
indivíduos, da sua natureza. A penalidade, o castigo era essencialmente<br />
corretivo, o que compreendia privações, como perder o tempo de lazer<br />
para ficar estudando, suspensão por alguns dias, ou em casos mais<br />
graves o desligamento do colégio.<br />
Importa ressaltar que, a partir dessas contínuas comparações,<br />
diferenciações, hierarquizações pretendeu-se uma normalização dos<br />
estudantes do Colégio. Nesse sentido o poder de regulamentação<br />
obriga a homogeneidade, que individualiza permitindo medir os desvios<br />
para que as diferenças fossem ajustadas umas as outras. Ou seja,<br />
foi preciso transformar o conjunto diversificado em algo homogêneo,<br />
compatibilizando dessa forma, com os pressupostos introjetados pela<br />
cultura militar.<br />
O Exame apresentava-se como esse controle que normaliza, uma<br />
vigilância que permite classificar e punir. Nesse sentido, “o exame é na<br />
escola uma verdadeira e constante troca de saberes: garante a passagem<br />
dos conhecimentos do mestre ao aluno, mas retira do aluno um saber<br />
destinado e reservado ao mestre.” 104 Esse controle garante um exercício<br />
de poder sobre o jovem, que aparece como “objeto” à observação de um<br />
poder que se manifesta pelo olhar.<br />
O Colégio Militar de Curitiba formou alunos que seriam, segundo<br />
o Exército, os modelos de cidadãos comprometidos com a Pátria e<br />
dispostos a defendê-la. A ordem, a disciplina e o respeito à hierarquia<br />
defendidas no ambiente escolar seriam levados para fora da instituição,<br />
fazendo com que o objetivo principal do Exército fosse alcançado: formar<br />
futuros homens com “consciência do dever e da responsabilidade[..]pois<br />
a Educação[..]produz inquestionavelmente mais segurança”. 105<br />
O estudo sobre os Colégios Militares, em particular o Colégio Militar<br />
de Curitiba, não pretende ser finalizado aqui. A grande quantidade de<br />
fontes instigou diferentes questionamentos durante a pesquisa. No<br />
entanto, a falta de tempo não permitiu que tais apontamentos fossem<br />
realizados nesse primeiro estudo. O convite a novas pesquisas sobre os<br />
Colégios Militares fica aqui registrado.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 31<br />
| História | 2009
<strong>NO</strong>TAS DE RODAPÉ<br />
1 BORGES, Nilo. A doutrina de Segurança Nacional e os governos militares. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O tempo da<br />
ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, v. 4, 2003 (O Brasil republicano).<br />
2 id. ibid., p. 16.<br />
3 “A Doutrina de Segurança Nacional foi ministrada na Escola Superior de Guerra, esta criada em 1949, e tinha assistência técnica norte-americana e<br />
francesa, com o objetivo de treinar pessoal de alto nível para exercer funções de direção e planejamento da segurança nacional.” BORGES, Nilo. A<br />
doutrina de Segurança Nacional e os governos militares. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O tempo da ditadura: regime<br />
militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, v. 4, 2003 (O Brasil republicano). p. 20.<br />
4 POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos. v. 05, n. 10, 1992, 200-212.<br />
5 GARRIDO, Joan A.. As Fontes Orais na Pesquisa Histórica:uma contribuição ao debate.p.33-54.<br />
6 “A Guarda Nacional foi criada em 1831 para defender a Constituição, a integridade e a independência do Império. Gozava de respeitabilidade<br />
pública, principalmente depois da reforma em 1850, quando passou a ter destacamento em todos os municípios do Império: A Guarda Nacional<br />
promotora da ordem pública reprimia insurreições e rebeliões escravas.” SOUSA. Jorge Prata de. Escravidão ou morte: os escravos brasileiros na<br />
Guerra do Paraguai. Rio de Janeiro: Manuad/Adesa , 1996 . p. 58.<br />
7 Aos africanos que foram na condição de escravos foi prometida, a alforria se voltassem. Além disso, o governo indenizava os senhores, pois estes<br />
se sentiam prejudicados ao perderem mão-de-obra.<br />
8 Cabe aqui ressaltar que, a Associação Comercial do Rio de Janeiro tinha como presidente o Visconde de Tocantins no período de 1861-1869, o que<br />
facilitou o apoio para a fundação do Asilo.<br />
9 FIGUEIREDO, Antônio Joaquim de. Breve introdução à história dos colégios militares no Brasil.Rio de Janeiro: Bibliex, 1958. p. 3.<br />
10 O primeiro a idealizar a criação de um Colégio Militar foi Duque de Caxias por intermédio do projeto n°148 do Senado do Império de 1853. O<br />
educandário seria direcionado aos “filhos daqueles que morrerão ou se inutilizarão no campo de batalha defendendo a independência, e a honra<br />
nacional, as instituições e os mais sagrados direitos” em batalhas. Mas a proposta não foi aceita. FIGUEIREDO, Antônio Joaquim de. Breve introdução<br />
à história dos colégios militares no Brasil.Rio de Janeiro: Bibliex, 1958.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 32<br />
| História | 2009
11 CASTRO, Celso. Os militares e a república: um estudo sobre cultura e ação política. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.<br />
12 id. ibid.<br />
13 FIGUEIREDO, op.cit. , p. 8.<br />
14 MOTTA, Jehovah. Formação do oficial do Exército. Rio de Janeiro: Bibliex, 1998, p. 154.<br />
15 CARVALHO, José Murilo de. A Formação das almas: o imaginário da república no Brasil. São Paulo: Companhia da Letras, 1990.<br />
16 VIANNA,Gilberto de Souza. Os filhos de Licurgo: origens do ensino militar no Brasil. Revista Uniandrade. Curitiba, v. 3, n. 1, 2002.<br />
17 CARVALHO. op. cit. p. 36.<br />
18 Este nome tem como referência ao Prytaneon grego. Na Grécia, prytaneon era um prédio administrado pelas cidades-estados, e que abrigava<br />
guerreiros envelhecidos. Porém, no Prytanée Militaire de Napoleão a finalidade era educar os filhos de militares mortos. FIGUEIREDO; op. cit.<br />
19 FIGUEIREDO; op. cit.<br />
20 id. ibid.<br />
21 PEREIRA op. pud. FIGUEIREDO, op.cit. , p.64<br />
22 FIGUEIREDO; op.cit. p. 45.<br />
23 id. ibid., p. 65<br />
24 id. ibid., p.67.<br />
25 TRINDADE, Etelvina Maria de Castro; ANDREAZZA, Maria Luiza. Cultura e educação no Paraná. Curitiba: SEED, 2001. p. 95.<br />
26 FIGUEIREDO, op. cit.<br />
27 VIANNA, Gilberto de Souza.O sabre e o livro: trajetórias históricas do colégio militar de Curitiba (1959-1988). 2001. 86 f. Dissertação (Mestrado<br />
em Educação)- Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2001.<br />
28 NEGRÃO, ap. VIANA, op. cit., p. 18.<br />
29 id. ibid., p. 17.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 33<br />
| História | 2009
30 id. ibid., p. 37<br />
31 Evolução da Estrutura Organizacional do Exército. Disponível em:< www. exercito.gov.br >acesso em 21 de jun 2008.<br />
32 id. Ibid.<br />
33 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
34 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
35 VIANNA, op.cit.<br />
36 O Plano Agache foi idealizado em 1943 e propunha divisão da cidade de Curitiba em zonas funcionais: comercial, administrativo, universitário,<br />
militar, industrial e de abastecimento. As propostas deste Plano foram implantadas parcialmente, porém somente em 1962 na administração de Ivo<br />
Arzua foram criadas as condições para a implementação do plano.<br />
37 TRINDADE, op. cit.<br />
38 id. ibid.<br />
39 REVISTA GUAÍRA, ap. TRINDADE, Etelvina Maria de Castro; ANDREZZA, Maria Luiza. Cultura e educação no Paraná. Curitiba: SEED, 2001.<br />
40 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995, p. irreg.<br />
41 VIANNA, op. cit.<br />
42 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
43 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995 p. irreg. 4<br />
44 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995 p. irreg.<br />
45 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
46 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas. O imaginário da república no Brasil. São Paulo: Companhia da Letras, 1990. p. 55.<br />
47 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 34<br />
| História | 2009
48 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
49 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
50 VIANNA. op. cit., p. 37-38.<br />
51 CARVALHO, Irene Mello. O ensino por unidades didáticas. Rio de Janeiro: Santana, 1969.<br />
52 id. ibid., p. 51.<br />
53 id. ibid., p. 54.<br />
54 Irene Mello Carvalho não esclarece quais as habilidades e destrezas que seriam importantes para a formação do aluno no ensino secundário,<br />
apenas mostra que elas não seriam essenciais no ensino, já que a escola secundária brasileira é uma instituição de cultura geral e não de preparo<br />
profissional especializado.<br />
55 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
56 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
57 Anísio S. Teixeira escreveu o prefácio do livro O ensino por unidades didáticas, de Irene Mello Carvalho que foi utilizado neste trabalho. Este atuava<br />
como Técnica de Ensino e posteriormente dirigiu o Colégio Nova Friburgo, onde introduziu o método de unidades didáticas pela primeira vez no Brasil.<br />
TEIXEIRA, Anísio S. In: CARVALHO, Irene Mello. O ensino por unidades didáticas. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1969.<br />
58 13 TEIXEIRA, Anísio S. In: CARVALHO, Irene Mello. O ensino por unidades didáticas. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1969. p. 5-7.<br />
59 TEIXEIRA. op. cit.<br />
60 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
61 Relato baseado na entrevista concedida pelo Coronel Waldir Roberto de Mattos.<br />
62 O Coronel Mattos optou em estudar no CMC visando seguir a carreira militar de seu pai. O seu irmão mais velho foi selecionado para fazer parte<br />
da 1ª turma do colégio e o Coronel Waldir seguiu os seus passos. Para entrar no segundo ano de existência do CMC, este fez um curso preparatório,<br />
o curso TUIUTI, que deu origem a UTP. Neste cursinho, além do Coronel Sidney Rangel dos Santos, outros professores que compunham o corpo<br />
docente do CMC preparavam os alunos para enfrentarem o teste seletivo. O Coronel Mattos estudou no CMC de 1960 a 1967.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 35<br />
| História | 2009
63 MATTOS, Waldir Roberto de. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008.<br />
64 Ronaldo Schlichting estudou no CMC entre 1962 e 1968 e como o Coronel Waldir Mattos também possuía na família militares (pai e tio). Também<br />
freqüentou o curso Tuiuti para prestar o exame de admissão, no entanto, diferentemente do primeiro ex-aluno entrevistado, Ronaldo Schlichting não<br />
seguiu a carreira militar.<br />
65 SCHLICHTING, Ronaldo. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 1, 5 e 11 jun. 2008.<br />
66 FOUCAULT, Michel. Vigiar a punir: nascimento das prisões. 32. ed. Petrópolis: Vozes, 1987. p.129.<br />
67 id. ibid., p.130.<br />
68 id. ibid., p.118.<br />
69 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Boletim interno CMC. ap. VIANNA, op. cit., p.76.<br />
70 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
71 MATTOS, Waldir Roberto de. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008.<br />
72 Júlio César Guimarães estudou no CMC de 1962 a 1968. Ao contrário dos ex-alunos já citados, não possuía nenhum militar em sua família. No<br />
entanto, depois de sua entrada dois primos e um irmão seguiram seus passos e ingressaram no Colégio. Júlio César também fez o curso preparatório<br />
Tuiuti.<br />
73 GUIMARÃES, Julio César. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 10 jun. 2008.<br />
74 FOUCAULT. op. cit., p.120.<br />
75 O xerife da turma era o aluno responsável em organizar os seus colegas para receber o professor na sala de aula. Quando este se aproximava o<br />
xerife dizia: “turma de pé [toda a turma se levantava] Sentido! Apresento-vos [professor] a turma pronta”. VIANNA, Gilberto de Souza. O sabre<br />
e o livro. Trajetórias históricas do colégio militar de Curitiba (1959-1988). 2001. 86 f. Dissertação (Mestrado em Educação)- Setor de Educação,<br />
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2001. Segundo os entrevistados, os xerifes também tinham a responsabilidade de anotar determinadas<br />
faltas cometidas pelos alunos em sala de aula.<br />
76 Silmar Van der Broocke estudou no CMC de 1962 a 1968 e pretendia seguir carreira militar assim como seu pai. Por este ser militar, foi transferido<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 36<br />
| História | 2009
do Rio de Janeiro para Curitiba e pôde matricular seu filho sem que precisasse realizar o teste de admissão no CMC como os ex-alunos entrevistados.<br />
Silmar apenas fez uma prova de nivelamento.<br />
77 BROOCKE, Silmar Van der. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008<br />
78 VIANNA. op. cit., p. 58.<br />
79 A análise minuciosa da arquitetura do CMC não pôde ser aprofundada devido a falta de fontes que possibilitariam detalhar a exata organização do<br />
edifício, como por exemplo a planta da construção a qual não tivemos acesso. Importa aqui também salientar que o edifício principal foi construído<br />
a partir de 1964, escapando assim, ao recorte temporal proposto nesta pesquisa.<br />
80 MATTOS, Waldir Roberto de. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008.<br />
81 BROOCKE, Silmar Van der. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008.<br />
82 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
83 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Boletim interno CMC. ap. VIANNA, op. cit., p. 37<br />
84 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Boletim interno CMC. ap. VIANNA, op. cit., p. 37<br />
85 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Boletim interno CMC. ap. VIANNA, op. cit., p. 37<br />
86 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
87 BROOCKE, Silmar Van der. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008.<br />
88 MATTOS, Waldir Roberto de. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008.<br />
89 GUIMARÃES, Julio César. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 10 jun. 2008.<br />
90 SCHLICHTING, Ronaldo. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 1, 5 e 11 de jun. 2008<br />
91 MATTOS, Waldir Roberto de. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008.<br />
92 BROOCKE, Silmar Van der. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008.<br />
93 GUIMARÃES, Julio César. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 10 jun. 2008.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 37<br />
| História | 2009
94 FOUCAULT. op. cit.<br />
95 GUIMARÃES, Julio César. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 10 jun. 2008. De acordo com o jargão militar as abreviações citadas<br />
correspondem a: Cb Al (Cabo aluno), Sgt Al (Sargento aluno) e Ten Al (Tenente aluno).<br />
96 FOUCAULT. op. cit., p. 152.<br />
97 BROOCKE, Silmar Van der. Entrevista concedida a Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008.<br />
98 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Boletim interno CMC <strong>–</strong> 1959-1964. Curitiba. Trimestral. p. irreg.<br />
99 FOUCAULT. op. cit., p. 156.<br />
100 id. ibid., p.156.<br />
101 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Boletim interno CMC <strong>–</strong> 1959-1964. Curitiba. Trimestral. p. irreg.<br />
102 FOUCAULT. op. cit., p. 159.<br />
103 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
104 FOUCAULT. op. cit., p. 155.<br />
105 BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 38<br />
| História | 2009
FONTES<br />
BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Registro Histórico. Curitiba. 1995. p. irreg.<br />
BRASIL, Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Colégio Militar de Curitiba. Boletim interno CMC <strong>–</strong> 1959-1964. Curitiba. Trimestral. p. irreg.<br />
BROOCKE, Silmar Van der. Entrevista concedida à Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008<br />
GUIMARÃES, Julio César. Entrevista concedida à Fabiana Maria Leal. Curitiba, 10 jun. 2008.<br />
MATTOS, Waldir Roberto de. Entrevista concedida à Fabiana Maria Leal. Curitiba, 6 jun. 2008.<br />
SCHLICHTING, Ronaldo. Entrevista concedida à Fabiana Maria Leal. Curitiba, 1, 5 e 11 jun. 2008.<br />
REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS<br />
AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 1998.<br />
BORGES, Nilo. A doutrina de Segurança Nacional e os governos militares. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O tempo<br />
da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, v. 4, 2003 (O Brasil republicano). p.<br />
15-42.<br />
BOSCHILIA, Roseli T. Modelando condutas. A educação católica em colégios masculinos (Curitiba 1925-1965). 2002. 238f. Tese.(Doutorado em<br />
História, Espaço e Sociabilidades)- Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002.<br />
CARVALHO, Irene Mello. O ensino por unidades didáticas. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1969.<br />
CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas. O imaginário da república no Brasil. São Paulo: Companhia da Letras, 1990.<br />
CASTRO, Celso. A invenção do Exército brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.<br />
CASTRO, Celso. Os militares e a república. Um estudo sobre cultura e ação política. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.<br />
FIGUEIREDO, Antônio Joaquim de. Breve introdução à história dos colégios militares no Brasil.Rio de Janeiro: Bibliex, 1958.<br />
FOUCAULT, Michel. Vigiar a punir: nascimento das prisões. 32. ed. Petrópolis: Vozes, 1987.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 39<br />
| História | 2009
GODINHO, Eunice Maria. Educação e disciplina.Rio de Janeiro: Diadorim, 1995.<br />
LUDWIG, Antonio Carlos Will. Democracia e ensino militar. São Paulo: Cortez, 1998.<br />
MOTTA, Jehovah. Formação do oficial do Exército. Rio de Janeiro: Bibliex, 1998.<br />
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos. v. 05, n. 10, 1992, 200-212.<br />
RODRIGUES, Marly. A década de 50. Populismo e metas desenvolvimentistas no Brasil.São Paulo: Ática, 2003.<br />
SOUSA, Jorge Prata de. Escravidão ou morte. Os escravos na Guerra do Paraguai. Rio de Janeiro: Mauad/Adesa,1996.<br />
TEIXEIRA, Anísio S. In: CARVALHO, Irene Mello. O ensino por unidades didáticas. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1969. p. 5-7.<br />
TRINDADE, Etelvina Maria de Castro; ANDREAZZA, Maria Luiza. Cultura e educação no Paraná. Curitiba: SEED, 2001.<br />
VIANNA, Gilberto de Souza. O sabre e o livro. Trajetórias históricas do colégio militar de Curitiba (1959-1988). 2001. 86 f. Dissertação (Mestrado<br />
em Educação)- Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2001.<br />
VIANNA, Gilberto de Souza. Os filhos de Licurgo. Origens do ensino militar no Brasil. Revista Uniandrade. v. 03, n. 1, 2002, 1-10.<br />
Monografias - Universidade Tuiuti do Paraná 40<br />
| História | 2009