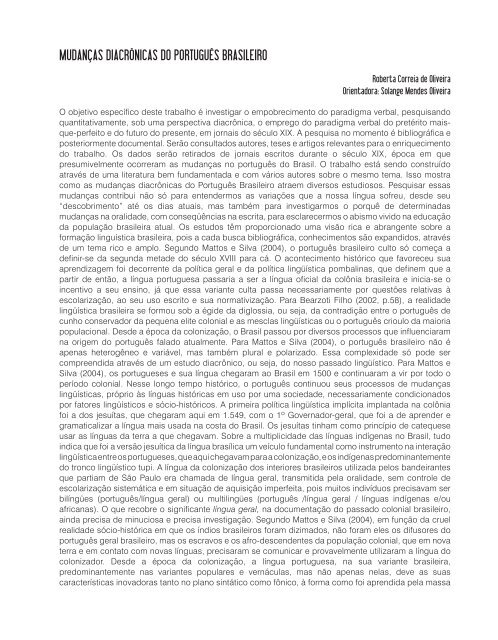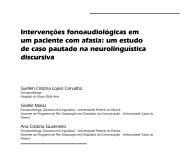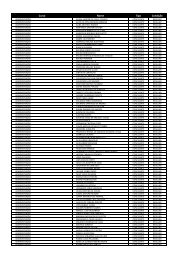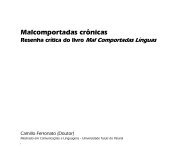MUDANÇAS DIACRÔNICAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
MUDANÇAS DIACRÔNICAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
MUDANÇAS DIACRÔNICAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>MUDANÇAS</strong> <strong>DIACRÔNICAS</strong> <strong>DO</strong> <strong>PORTUGUÊS</strong> <strong>BRASILEIRO</strong><br />
Roberta Correia de Oliveira<br />
Orientadora: Solange Mendes Oliveira<br />
O objetivo específico deste trabalho é investigar o empobrecimento do paradigma verbal, pesquisando<br />
quantitativamente, sob uma perspectiva diacrônica, o emprego do paradigma verbal do pretérito maisque-perfeito<br />
e do futuro do presente, em jornais do século XIX. A pesquisa no momento é bibliográfica e<br />
posteriormente documental. Serão consultados autores, teses e artigos relevantes para o enriquecimento<br />
do trabalho. Os dados serão retirados de jornais escritos durante o século XIX, época em que<br />
presumivelmente ocorreram as mudanças no português do Brasil. O trabalho está sendo construído<br />
através de uma literatura bem fundamentada e com vários autores sobre o mesmo tema. Isso mostra<br />
como as mudanças diacrônicas do Português Brasileiro atraem diversos estudiosos. Pesquisar essas<br />
mudanças contribui não só para entendermos as variações que a nossa língua sofreu, desde seu<br />
“descobrimento” até os dias atuais, mas também para investigarmos o porquê de determinadas<br />
mudanças na oralidade, com conseqüências na escrita, para esclarecermos o abismo vivido na educação<br />
da população brasileira atual. Os estudos têm proporcionado uma visão rica e abrangente sobre a<br />
formação linguística brasileira, pois a cada busca bibliográfica, conhecimentos são expandidos, através<br />
de um tema rico e amplo. Segundo Mattos e Silva (2004), o português brasileiro culto só começa a<br />
definir-se da segunda metade do século XVIII para cá. O acontecimento histórico que favoreceu sua<br />
aprendizagem foi decorrente da política geral e da política lingüística pombalinas, que definem que a<br />
partir de então, a língua portuguesa passaria a ser a língua oficial da colônia brasileira e inicia-se o<br />
incentivo a seu ensino, já que essa variante culta passa necessariamente por questões relativas à<br />
escolarização, ao seu uso escrito e sua normativização. Para Bearzoti Filho (2002, p.58), a realidade<br />
lingüística brasileira se formou sob a égide da diglossia, ou seja, da contradição entre o português de<br />
cunho conservador da pequena elite colonial e as mesclas lingüísticas ou o português crioulo da maioria<br />
populacional. Desde a época da colonização, o Brasil passou por diversos processos que influenciaram<br />
na origem do português falado atualmente. Para Mattos e Silva (2004), o português brasileiro não é<br />
apenas heterogêneo e variável, mas também plural e polarizado. Essa complexidade só pode ser<br />
compreendida através de um estudo diacrônico, ou seja, do nosso passado lingüístico. Para Mattos e<br />
Silva (2004), os portugueses e sua língua chegaram ao Brasil em 1500 e continuaram a vir por todo o<br />
período colonial. Nesse longo tempo histórico, o português continuou seus processos de mudanças<br />
lingüísticas, próprio às línguas históricas em uso por uma sociedade, necessariamente condicionados<br />
por fatores lingüísticos e sócio-históricos. A primeira política lingüística implícita implantada na colônia<br />
foi a dos jesuítas, que chegaram aqui em 1.549, com o 1º Governador-geral, que foi a de aprender e<br />
gramaticalizar a língua mais usada na costa do Brasil. Os jesuítas tinham como princípio de catequese<br />
usar as línguas da terra a que chegavam. Sobre a multiplicidade das línguas indígenas no Brasil, tudo<br />
indica que foi a versão jesuítica da língua brasílica um veículo fundamental como instrumento na interação<br />
lingüística entre os portugueses, que aqui chegavam para a colonização, e os indígenas predominantemente<br />
do tronco lingüístico tupi. A língua da colonização dos interiores brasileiros utilizada pelos bandeirantes<br />
que partiam de São Paulo era chamada de língua geral, transmitida pela oralidade, sem controle de<br />
escolarização sistemática e em situação de aquisição imperfeita, pois muitos indivíduos precisavam ser<br />
bilíngües (português/língua geral) ou multilingües (português /língua geral / línguas indígenas e/ou<br />
africanas). O que recobre o significante língua geral, na documentação do passado colonial brasileiro,<br />
ainda precisa de minuciosa e precisa investigação. Segundo Mattos e Silva (2004), em função da cruel<br />
realidade sócio-histórica em que os índios brasileiros foram dizimados, não foram eles os difusores do<br />
português geral brasileiro, mas os escravos e os afro-descendentes da população colonial, que em nova<br />
terra e em contato com novas línguas, precisaram se comunicar e provavelmente utilizaram a língua do<br />
colonizador. Desde a época da colonização, a língua portuguesa, na sua variante brasileira,<br />
predominantemente nas variantes populares e vernáculas, mas não apenas nelas, deve as suas<br />
características inovadoras tanto no plano sintático como fônico, à forma como foi aprendida pela massa
populacional predominante ao longo do período colonial: como segunda língua. Desde então, o<br />
português brasileiro sofre mudanças, pois a lingua é viva e se molda às necessidades de uma época.<br />
Dentre tantas mudanças, o empobrecimento do paradigma verbal através do abandono progressivo das<br />
suas formas pelas perífrases verbais, faz parte do cotidiano da população atual. No século XIX, por<br />
exemplo, predominavam as formas verbais simples de verbos no pretérito mais-que-perfeito (comera) e<br />
verbos no futuro do presente (comerei), constatadas por meio dos jornais da época. Essas formas foram<br />
substituídas pelas formas compostas (tinha comido) e (vou comer), respectivamente. Investigar o<br />
progressivo abandono desses tempos verbais é entender como a construção da nossa história influenciou<br />
na nossa maneira de falar, e porque insistimos, mesmo sem nos darmos conta, no empobrecimento da<br />
nossa língua materna como um todo. A língua sofreu alterações sonoras e gramaticais, que transformaram<br />
sua morfologia e a sintaxe. A elite e o povo português, que aqui aportaram e se instalaram, geraram uma<br />
heterogeneidade regional e social, em que o português europeu continuou seus processos de mudanças<br />
lingüísticas, próprios às línguas históricas em uso por uma sociedade. Após a posse epistolar e simbólica<br />
da terra, aqui ficaram ou foram sendo deixados portugueses, que foram chamados de “os línguas”, que<br />
entendiam e falavam as línguas em confronto para fins práticos, através de contatos interétnicos (Houaiss<br />
1992, p.51). Para Ilari (2007, p.60), a população estimada nativa no Brasil, antes do descobrimento, era<br />
de seis milhões de indígenas. Os portugueses precisaram aprender e usar essas línguas por questões<br />
de sobrevivência e para impor seu domínio aos nativos. Os contatos entre portugueses e índios tupis do<br />
litoral ocorreram já nos primeiros anos após o descobrimento. Inicialmente foram através de contatos<br />
mímicos e, acaso interjetivos. Conforme Naro (2007, p.28), pode-se atestar no Brasil documentação da<br />
existência de duas línguas gerais de base indígena: a língua geral paulista e a amazônica, que em<br />
momentos distintos serviram de contacto entre europeus e mestiços com outros povos indígenas. Sobre<br />
a multiplicidade das línguas indígenas no Brasil, tudo indica que foi a versão jesuítica da língua brasílica<br />
um veículo fundamental como instrumento na interação lingüística entre os portugueses, que aqui<br />
chegavam para a colonização, e os indígenas predominantemente do tronco lingüístico tupi. O termo<br />
língua geral designa línguas indígenas amplamente difundidas em um determinado território, funcionando<br />
como meio de contato entre os povos de origem não somente indígena. A língua geral de base tupi era<br />
empregada pela população envolvida no processo colonial de forma ampla. Em função da cruel realidade<br />
sócio-histórica em que os índios brasileiros foram dizimados, não foram eles os difusores do português<br />
geral brasileiro, mas os escravos e os afro-descendentes brasileiros da população colonial, que em nova<br />
terra e em contato com novas línguas, precisaram se comunicar. Provavelmente utilizaram a língua do<br />
colonizador. O contato entre os portugueses e africanos resultou num sistema de comunicação<br />
inicialmente precário, baseado em gestos para finalidades comerciais. Esse sistema utilizava a fusão<br />
das línguas de contato e recebeu o nome de línguas pidgins, as quais, para Bearzoti Filho (2002, p.46),<br />
são sistemas de mesclas linguísticas que apresentam grande alteração fonológica e simplificação<br />
gramatical em relação às línguas de que se originaram. Sua funcionalidade é restrita a poucos e a<br />
determinados contextos sociais. Se o uso da língua pidgin vai além das relações comerciais, tornandose<br />
cotidiana, e tornando-se, por conseqüência, a língua materna de uma nova geração de crianças, não<br />
se trata mais de uma “língua de emergência”, mas de uma língua adquirida através de um processo de<br />
aquisição, como de outra qualquer - nesse momento a língua pidgin se torna uma língua crioula. Os<br />
quilombos, embora os estudos não falem da “língua” como gostaríamos, em termos lingüísticos,<br />
contribuíram na formação do português geral brasileiro. Seriam laboratórios de formação. Para Mattos e<br />
Silva (2004, p.105), nesses espaços ilegítimos, que além de escravos se agrupavam índios e fugitivos de<br />
qualquer etnia, inclusive portugueses e luso-descendentes, circulavam configurações lingüísticas<br />
diversas. Para Bearzoti Filho (2002, p. 50), a ideia tradicional de que os escravos foram separados nos<br />
portos brasileiros, ou nos africanos, sem vínculos familiares e religiosos, sustenta a tese de que eles<br />
adotaram cedo o tupi ou o português como língua prática de comunicação. Apesar da riqueza das<br />
fontes disponíveis a respeito da fala dos índios e dos brancos, para Naro e Scherre (2007, p.28), é<br />
escassa qualquer evidência documentária específica quanto ao português ou outras línguas faladas<br />
pelos africanos no Brasil.<br />
Palavras-chave: mudança lingüística; tempos verbais; futuro do presente; pretérito mais-que-perfeito.