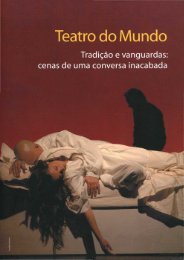Maria Luísa Malato - Universidade do Porto
Maria Luísa Malato - Universidade do Porto
Maria Luísa Malato - Universidade do Porto
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
POR PRISÃO O INFINITO<br />
Um estu<strong>do</strong> morfológico da Utopia n’O Balão aos Habitantes da Lua<br />
<strong>Maria</strong> <strong>Luísa</strong> <strong>Malato</strong><br />
Faculdade de Letras da <strong>Universidade</strong> <strong>do</strong> <strong>Porto</strong><br />
Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa<br />
Em 1979, João Ameal publicou, na Revista de História da Sociedade e da<br />
Cultura da <strong>Universidade</strong> de Coimbra, um artigo cujo título levantou na altura alguma<br />
polémica: “Não há utopias portuguesas”. Nele defendia o autor que, apesar de a Utopia<br />
de Morus ter como narra<strong>do</strong>r um marinheiro português (Rafael Hitlodeu), sempre a<br />
cultura portuguesa pareceu mais fascinada pelo exotismo das descrições ultramarinas <strong>do</strong><br />
que pela “regeneração política e social <strong>do</strong> velho mun<strong>do</strong> quan<strong>do</strong> este encontra um Novo<br />
Mun<strong>do</strong>” (Medina, 1979: 167). O artigo, não se alongan<strong>do</strong> muito nas razões desse<br />
silêncio da Utopia em Portugal, vai somente avançan<strong>do</strong> algumas pistas. De raspão,<br />
estabelece um paralelismo com a idêntica situação da cultura castelhana. Ameal parece<br />
inclinar-se para a hipótese de Luis Nuñez Ladevese, acreditan<strong>do</strong> que essa energia<br />
colectiva <strong>do</strong> projecto utópico se esvaiu em atitudes míticas (utopias individuais), ou em<br />
projectos concretos (utopias da praxis) <strong>do</strong>s missionários jesuítas na América <strong>do</strong> Sul<br />
(idem: 165). E, preven<strong>do</strong> os que lhe apontassem um estafa<strong>do</strong> exemplo, refuta os que<br />
viam uma utopia na descrição final da Ilha undívaga <strong>do</strong>s Amores, ainda que tal fosse de<br />
esperar <strong>do</strong> “platonizante poeta d’Os Lusíadas” (idem: 168): faltaria ao episódio “uma<br />
arquitectura conceptual política” (idem: 169), própria <strong>do</strong>s “inventores da Liberdade”, de<br />
Campanella a Rousseau, de Fourier a William Morris…<br />
Haveria pois, quan<strong>do</strong> muito, “utopemas”, mas não aquilo a que Ameal chama<br />
“utopismo”, talvez recuperan<strong>do</strong> a oposição de Karl Manheim (cf. Ideologia e Utopia, de<br />
1929), ou seja, um “–ismo” que consubstanciasse a clara oposição da Utopia à<br />
Ideologia, só o poden<strong>do</strong> fazer na medida em que essa “contra-ideologia” fosse capaz de<br />
se apresentar, ela também, como “ideologia”.<br />
Talvez toda a criação provenha de uma ausência. Uma ausência que tomamos<br />
a peito, como se o vazio fosse uma cela que nos impedisse de ver as coisas lá fora…<br />
Mas, só porque desse espaço tomamos consciência, passamos a ver as coisas com outra<br />
atenção, esforçada e diligentemente por entre as grades. O artigo de João Ameal, li<strong>do</strong><br />
quan<strong>do</strong> acabámos a licenciatura, em princípios <strong>do</strong>s anos 80, lançou em nós uma
incredulidade, que não vinha propriamente <strong>do</strong> conhecimento de argumentos que<br />
pudessem rebater a tese, mas de uma impulsiva desconfiança face às definições e aos<br />
julgamentos definitivos. O tempo consolidaria a desconfiança com muitos exemplos. Na<br />
historiografia literária, a inexistência de teatro português parecia-nos negada pelo que<br />
Teófilo Braga tinha consegui<strong>do</strong> resgatar das nossas bibliotecas e arquivos, ainda no<br />
século XIX. De João Ameal haveria também a declaração de que não existia romance<br />
policial português, e isso veríamos desmenti<strong>do</strong> pelo trabalho da nossa colega Lurdes<br />
Sampaio. O que queria dizer para a História Literária o silêncio, a ausência a que eram<br />
votadas as obras de Manuel de Figueire<strong>do</strong>, de José Anastácio da Cunha, de Catarina de<br />
Lencastre, obras esquecidas que proveitosamente íamos estudan<strong>do</strong>? A prisão que para<br />
nós constituía uma “ausência definitiva” talvez tenha si<strong>do</strong> pois determinante para<br />
passarmos a procurar utopias portuguesas. E por isso ainda mais atenção demos a um<br />
texto de José Daniel Rodrigues da Costa que jocosamente se intitulava O Balão aos<br />
Habitantes da Lua, Poema herói-cómico em um só verso. Sen<strong>do</strong> a primeira edição de<br />
1819 (e logo uma reimpressão no Rio de Janeiro em 1921, outra edição em 1822, em<br />
Lisboa), encontrámo-la numa igualmente rara edição de 1978 (um ano anterior ao artigo<br />
de João Ameal), prefaciada por Alberto Pimenta. Talvez o texto de Rodrigues da Costa<br />
seja a primeira Utopia portuguesa. Talvez.<br />
O nosso ponto de partida é pois este: construímos frequentemente as nossas<br />
próprias prisões. Definimo-nos ao traçar definições. Limitamo-nos ao limitar. E<br />
começamos a libertar-nos das linhas fronteiriças quan<strong>do</strong> as conhecemos, linha a linha,<br />
canto a canto, aceitan<strong>do</strong> o facto de serem uma linha imaginária num espaço mais vasto<br />
<strong>do</strong> que aquele que limitam. O que não invalidava a afirmação de João Ameal: com<br />
efeito, a historiografia literária, a canónica pelo menos, parecia alheia à presença <strong>do</strong><br />
género utópico. Tratava-se, portanto, não tanto de refutar a afirmação de João Ameal (os<br />
exemplos dispersos viriam certamente com a pesquisa aturada, como quase sempre<br />
sucede), mas sobretu<strong>do</strong> de tentar perceber porque é que a sua afirmação parecia tão<br />
verosímil, tão “verdadeira”, quan<strong>do</strong> folhea<strong>do</strong>s os catálogos e as monografias. Os<br />
historia<strong>do</strong>res gostam de <strong>do</strong>cumentos óbvios, que julgam mais claros. Mas o que<br />
sucederia se o género (só defini<strong>do</strong> por características semânticas) se tivesse camufla<strong>do</strong><br />
sob diferentes formas? O caso parecia especialmente exemplifica<strong>do</strong> pelo género da<br />
“Utopia”, que se define indefinin<strong>do</strong>-se, potque a Utopia gosta da sombra, de se<br />
confundir para melhor confundir. Para um estudioso como Raymond Trousson, a<br />
utopia-género, à imagem da Utopia-obra de Morus, seria caracterizada por quatro
elementos pertinentes: a inexistência real (une nulle part), a ficcionalidade (un récit), a<br />
sociabilidade (une communauté) e a reflexão crítica (une complexité), mas os quatro<br />
critérios (Trousson, 1979:28) são outras tantas brechas por onde se fragmenta o<br />
conceito: a “inexistência real” é refutada pelos elementos realistas da hipotipose; a<br />
“ficcionalidade” é refutada pela imitação <strong>do</strong> testemunho ou <strong>do</strong>cumento histórico que lhe<br />
serve de modelo; a “sociabilidade” pode por vezes reduzir-se à imaginação de uma<br />
comunidade codificada, como sucede a muitos Robinsons Crusués, ainda antes de<br />
viverem com Sexta-Feira; a “reflexão” pode basear-se num pensamento indutivo, de<br />
sobreposição de imagens, e não necessariamente de um pensamento dedutivo, em que<br />
seja determinante a premissa geral. “Não há utopias portuguesas?” (Borralho, 2004: 58-<br />
73). Mas a que é que chamamos “utopia” e até que ponto o conceito, que definimos por<br />
comodidade meto<strong>do</strong>lógica, condiciona a conclusão a que queremos chegar? Um nome é<br />
uma <strong>do</strong>bra que, quan<strong>do</strong> explicamos, abrin<strong>do</strong> as <strong>do</strong>bras, pliées, se des<strong>do</strong>bra<br />
perifrasticamente em novos nomes e, por isso, em novas <strong>do</strong>bras…<br />
A Utopia, aliás, raramente usa o nome da Utopia: aparece frequentemente<br />
como um Relato de viagem, uma Crónica, uma Notícia, uma Descrição, um Sonho, uma<br />
Carta, um Diálogo, uma Constituição. Um texto estatutário. Ou um “Poema herói-<br />
cómico em um só canto”. Formas de disfarçar a utopia. Porque a Retórica da Utopia,<br />
como sucede frequentemente com a Retórica, só é eficaz se passar despercebida. Ou<br />
para segun<strong>do</strong> plano.<br />
Sobretu<strong>do</strong> se estamos em Portugal, um país longamente habitua<strong>do</strong> à censura<br />
como forma de conhecimento e à delação como forma de bondade. A primeira edição<br />
<strong>do</strong> texto de Morus, em latim, é de 1516, em Lovaina. A tradução em alemão é logo de<br />
1524. Em italiano, de 1548; em francês de 1550, em inglês de 1551. Mais tardia é a<br />
primeira tradução castelhana, de 1637. A primeira edição integral brasileira, é de 1937,<br />
da Editora Athena, no Rio de Janeiro. Em Portugal, a primeira edição integral e a partir<br />
<strong>do</strong> latim é de 2006, de Aires A. Nascimento, se não contarmos com as edições<br />
parcelares e/ou baseadas em traduções estrangeiras, como parece ser a de José Marinho:<br />
425 anos depois de ter si<strong>do</strong> proibida pelo Índex de 1581, e 490 anos depois da edição de<br />
Morus. Não quer dizer, é certo, que fosse ignorada. A obra é logo referida por João de<br />
Barros como Fábula pela qual quis Morus “<strong>do</strong>utrinar os Ingleses como se haviam de<br />
governar” ou nos diálogos da Imitação de Frei Heitor Pinto, em que se desenvolve a<br />
ideia de uma perfectibilidade social, movida pela perfeição da utopia (Morus, 2006: 79<br />
e 90). Circulou fragmentada, talvez para não ser reconhecida: o Livro II da Utopia
encontrava-se quase integralmente transcrito no livro Del governo et amministratione di<br />
diversi regni et republiche, atribuída a Francesco Sansovino (Morus, 2006: 82-83),<br />
relativamente acessível. E as sementes da Utopia deram muitos frutos, ainda que,<br />
quan<strong>do</strong> lançadas, sejam pequenas: isso demonstrou já o levantamento oportuno de José<br />
Eduar<strong>do</strong> Reis (Reis, 2007: passim).<br />
O que nos leva ao segun<strong>do</strong> passo: desconfiemos pois <strong>do</strong>s nomes. As prisões,<br />
nem sempre se chamam “prisões”: os que as supõem espaços únicos, os que nelas<br />
nascem ou <strong>do</strong>utra coisa não guardam memória, chamam-lhes “lares”. Só quem conhece,<br />
ou quer, outra coisa, sabe o que é uma prisão. Ainda que não tenha bem defini<strong>do</strong> o que<br />
quer. Quer outra coisa. Melhor. Diferente. E o Ar é <strong>do</strong>s elementos da natureza que<br />
melhor simboliza este desejo rarefeito e indefini<strong>do</strong>. A Utopia é um género onde se<br />
evoca frequentemente Ícaro, estouva<strong>do</strong> na sua ousadia, e o seu contraponto paterno, o<br />
prudente Dédalo, arquitecto preso no labirinto que ele próprio construiu. O mesmo<br />
contraponto existe entre outras duas figuras, muitas vezes aludidas nestes textos: entre<br />
Erato, a musa amável <strong>do</strong>s hinos de amor, e Eratóstenes, o primeiro teoriza<strong>do</strong>r da<br />
Geografia; entre Faetonte, que tomou desgovernadamente o carro <strong>do</strong> Sol, e Zeus, que<br />
para salvar as órbitas fulminaria Faetonte com um raio. Toda a aventura para o<br />
desconheci<strong>do</strong> bebe a energia <strong>do</strong> Mito (sen<strong>do</strong> o mito aqui o que se pode fazer, valen<strong>do</strong><br />
por isso tanto ou mais <strong>do</strong> que da História, o que foi feito). Em Inglaterra, por volta de<br />
1180, o monge Olivier de Malmesbury partiu as pernas quan<strong>do</strong> se lançou de uma torre,<br />
muni<strong>do</strong> de umas asas que fabricou com minúcia, segun<strong>do</strong> as indicações de Ovídio sobre<br />
as asas de Ícaro (Mariotte, apud Pinto, 2010: 73). Pelo sonho é que vamos, pois: sempre<br />
a Utopia se deu bem com as viagens aéreas, que têm, como as marítimas, as mesmas<br />
características da indeterminação <strong>do</strong>s caminhos sem veredas e a existência de um campo<br />
potencialmente infinito. Não há estradas na água ou no ar: só rotas vagas que logo<br />
desaparecem com o vento. E por isso as viagens à Lua – e também a Lua e a abóbada<br />
celeste, mas isso é outro assunto paralelo (Borralho, 2010: 7-20) – são tão<br />
potencialmente utópicas como as ilhas e o mar. No limiar <strong>do</strong> século III, a História<br />
Verdadeira, de Luciano de Samosata descreve a Lua como “uma Ilha re<strong>do</strong>nda e<br />
brilhante, suspensa no ar”. E frequentemente os barcos, as naus, as jangadas, os balões,<br />
os foguetões são (literal e metaforicamente) “naves” que se deslocam entre as ondas <strong>do</strong><br />
mar ou <strong>do</strong> ar. No século XVIII, aumentam na literatura utópica as viagens<br />
interplanetárias. Mas o que sucede no século XVIII e nas primeiras décadas <strong>do</strong> XIX é<br />
somente a maior publicidade <strong>do</strong>s feitos “impossíveis”. Tal como no século XVI, o
século da Utopia, as viagens marítimas tornaram possível ao comum cidadão chegar à<br />
Índia, também no limiar <strong>do</strong> século XIX as viagens <strong>do</strong>s balões aerostáticos passaram a<br />
alimentar a imaginação de cidadãos comuns. Em Agosto de 1783, um balão de tafetá é<br />
lança<strong>do</strong>, pelos irmãos Montgolfier, e os camponeses que o vêem tombar no campo<br />
reportam que viram a Lua cair. Em 1784, em Paris, faziam-se já viagens com curiosos.<br />
Voar não é próprio <strong>do</strong> homem, se Deus quisesse que o homem voasse ter-lhe-ia da<strong>do</strong><br />
asas. Mas o homem pode agora voar… Afinal o que é próprio <strong>do</strong> homem?<br />
Não é pois por acaso que, entre o século XVIII e o XIX, as viagens ao espaço<br />
(e à Lua como espaço que passa a ser possível, verosímil) se cruzem com grande parte<br />
da literatura sobre o impossível Amor e o inefável Sublime, sobre toda aquela forma de<br />
excesso ou ousadia que visa redefinir o possível e o dizível: Erato, Ícaro, Faetonte...<br />
“The sublime Invention”, assim designa Michael R. Lynn o balão aerostático, ao estudar<br />
a sua presença na cultura e na literatura europeias, entre 1783 e 1820. O balão é um “je<br />
ne sais quoi”, uma promessa de infinito, face ao institucional, o delimita<strong>do</strong>, o defini<strong>do</strong>, a<br />
prisão. Mas não é impossibilidade, bem pelo contrário. Em Portugal, estes exercícios<br />
aéreos desenvolveram-se, precoce mas demoradamente, no secretismo da corte e da<br />
academia, e parecem ter-se repercuti<strong>do</strong> muito tarde na mentalidade colectiva. Depois<br />
das experiências semi-goradas de Bartolomeu de Gusmão na corte de D. João V, em<br />
1709, seguiram-se, em 1783, as <strong>do</strong> Padre João Faustino, da Academia de Ciências de<br />
Lisboa, que, num pequeno balão de ar quente, fez transportar um macaco vesti<strong>do</strong> de<br />
marinheiro, <strong>do</strong> Palácio <strong>do</strong> Conde de Óbi<strong>do</strong>s à foz <strong>do</strong> rio Seixal (Pinto, 2010: 80). Cinco<br />
meses depois de Joseph Montgolfier ter transporta<strong>do</strong> seis pessoas numa viagem de<br />
balão, em Coimbra, Vicente Coelho e alguns estudantes de Física da <strong>Universidade</strong>, a 25<br />
de Junho de 1784, fizeram subir um balão de hidrogénio (cf. Pinto, 2010: 81). Mas é<br />
importante que estas experiências venham para a praça pública. A 24 de Agosto de<br />
1794, Lunardi, afrontan<strong>do</strong> a desconfiança e sabotagem das autoridades, instala-se a sua<br />
parafernália e consegue atravessar Lisboa num balão aerostático, num <strong>do</strong>mingo.<br />
Bocage, maravilha<strong>do</strong>, canta a chegada de Lunardi ao Templo da Memória, local<br />
paradisíaco, onde o vício não tem entrada, “ainda que te atroe o negro ban<strong>do</strong>/ de torpes<br />
gralhas, e a feroz coorte/ de inexoráveis zoilos, escuman<strong>do</strong>” (Bocage, 2004: 213). A 14<br />
de Março de 1819, também em Lisboa, o navega<strong>do</strong>r Robertson, já num ambiente<br />
politica e cientificamente muito mais propício, lança-se num balão aerostático. Um<br />
poeta anónimo imagina então que por essa via pode o rei D. João VI, ainda no Brasil,<br />
saber que as invasões já terminaram e regressar a Portugal, agora colónia <strong>do</strong> Brasil.
Terceiro passo, necessário: o me<strong>do</strong> é a outra face <strong>do</strong> conhecimento. Daremos<br />
nós esse passo? Viajar (para a Lua ou para toda a terra fora de nós, que somos Terra<br />
Finita) tem muitas vezes este mesmo efeito: a visão abrangente <strong>do</strong> outro, de um outro<br />
que vê mais <strong>do</strong> que o que nós podemos ver. Em geral, essa visão gera o terror de ver ou<br />
de ser visto, de uma forma que não controlamos ou manipulamos. Com sorte, a viagem<br />
serve para o viajante se questionar, ainda que não o preveja, o seu “geocentrismo”, a sua<br />
visão umbilical das coisas. E isto quer dizer, no século XVII, literalmente, o<br />
geocentrismo astronómico (cf. relatos utópicos de Kepler, em Somnium, ou de Cyrano<br />
de Bergerac, em Histoire Comique des Empires); ou, ao longo <strong>do</strong> século XVIII, já<br />
metaforicamente, o geocentrismo político ou filosófico de quem governa ou pensa (no<br />
Micromégas de Voltaire ou nos Entretiens sur la Pluralité des Mondes, de Fontenelle).<br />
É certo que a mesma afirmação poderia ser feita intemporalmente: para a História<br />
Verdadeira de Luciano de Samosata ou para um Homem na Lua, de Edgar Alan Poe;<br />
para alguns relatos planetários de Marie-Anne de Roumier-Robert, como para a História<br />
Autêntica <strong>do</strong> Planeta Marte, atribuí<strong>do</strong> ficcionalmente a um <strong>do</strong>s irmãos Montgolfier.<br />
Mas, na segunda metade <strong>do</strong> século XVIII e no limiar <strong>do</strong> século XIX, as utopias das<br />
Luzes tomam como normal o espaço aéreo, levan<strong>do</strong> o verosímil aos limites <strong>do</strong><br />
inverosímil, como o prova de resto a recolha de estu<strong>do</strong>s elaborada por Antoine<br />
Hatzenberger (Hatzenberger, 2010: passim). O que se vê da Lua é uma Terra que deixou<br />
de ser o centro <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, uma Cultura que passa a desconfiar da sua importância, um<br />
Eu que já não tem certezas e relativiza tu<strong>do</strong> o que faz, diz ou pensa. Manuel Serafim<br />
Pinto fala-nos sustentadamente de uma temporalidade transversal, que catapulta o<br />
peregrino (etimologicamente, o que atravessa campos distintos, “per-agru”) para uma<br />
visão simultaneamente abrangente e eficaz, inesperada e preparada:<br />
“O ‘caminho’ pelo ar é a via para uma deslocação que permite uma ‘viagem em<br />
linha’, encurtan<strong>do</strong> o ‘espaço’, tal como as aves, passan<strong>do</strong> por cima de serras,<br />
mares e rios no ‘tempo’ que a velocidade determina e que, de acor<strong>do</strong> com a<br />
capacidade de voar, aumenta ou diminui. O ‘voo’ entende-se, então, como a<br />
locomoção feita num aparelho fora <strong>do</strong> contacto com a superfície terrestre, depois<br />
de se ter realiza<strong>do</strong> uma série de operações preparatórias.” (Pinto, 2010: 71)<br />
A viagem interplanetária corrobora, na consciência hodierna da Utopia, a<br />
importância <strong>do</strong> registo ambíguo, o que se estabelece na confusão entre géneros literários<br />
e não-literários, dan<strong>do</strong> origem a formas poéticas híbridas e monstruosas, que n’O Balão
aos Habitantes da Lua logo são satirizadas como coerentes com a modernidade: vêem-<br />
se “engenhos” e “artes” cada vez mais inacreditáveis, a que a natureza é alheia. Data <strong>do</strong><br />
século XVIII a sistemática associação <strong>do</strong> engenho ao instrumento técnico (daí o<br />
neologismo da “engenharia”), contrarian<strong>do</strong> o anterior significa<strong>do</strong>, o de propensão<br />
natural ou génio. Se o leitor de uma utopia estranha, não deve estranhar, que o século<br />
está cheio de estranhezas naturais:<br />
“Que este Poema tenha boa-hora!<br />
Não se estranhe a prenhez ver-se hoje em macho,<br />
Que igual sucesso nas Gazetas acho,<br />
Pois já houve um rapaz que, sem defeito,<br />
Lhe tiraram de dentro outro sujeito.<br />
[…] Que se mais dez ou vinte anos aturo,<br />
Ainda espero de ver, eu lho seguro,<br />
Que algum que venha aqui de engenho e arte<br />
Tente a terra furar de parte a parte”.<br />
(Costa, 2004, [19])<br />
Quarto passo: ouvir o outro, dar-lhe a voz. O texto da utopia inscreve-se pois<br />
num registo retórico entre a improvável legibilidade da mentira e a recusa liminar da<br />
veracidade. Não na impossibilidade, não na mentira. Com efeito, o problema da mentira<br />
e da sinceridade parece ser especialmente importante na retórica das sociedades<br />
obcecadas com a separação entre o registo científico e o registo literário. Ora a Utopia<br />
joga (precisamente nessas sociedades e em épocas que sistematizaram esses cortes<br />
epistemológicos, como os séculos XVI e XVIII-XIX), com uma retórica perturba<strong>do</strong>ra<br />
da ordem, desde logo quan<strong>do</strong>, basean<strong>do</strong>-se na separação radical <strong>do</strong>s registos<br />
científicos/verídicos e literários/”mentirosos”, relativiza a “verdade” e torna realista a<br />
“mentira”. Será por acaso que as duas grandes épocas da Utopia tenham si<strong>do</strong> o século<br />
XVI, no início da Idade Moderna, e o século XVIII, no início da Modernidade, <strong>do</strong>is<br />
momentos em que se acentuam as clivagens entre o discurso científico e o discurso<br />
literário? Devíamos confrontar este gosto pelo discurso ambíguo, com as questões <strong>do</strong><br />
género utópico, quase sempre cola<strong>do</strong> a géneros “paraliterários”: o relato, a crónica, a<br />
carta, o <strong>do</strong>cumento histórico, o testemunho, ou a declaração espontânea, quase sempre<br />
desvaloriza<strong>do</strong>s pelo narra<strong>do</strong>r. Ou ainda com as questões retóricas da “humilitas”, em<br />
que o próprio narra<strong>do</strong>r desvaloriza o que diz, por serem bagatelas de “Hitlodeu”,
etimologicamente narra<strong>do</strong>r de bagatelas. Ainda que os narra<strong>do</strong>res tenham os seus<br />
escritos como literários, os crêem invariavelmente coisa sem valor, feitos até, quiçá, por<br />
pressão de terceiros ou por necessidade de dinheiro <strong>do</strong> editor/autor, tal como é por vezes<br />
testemunha<strong>do</strong> nos prólogos ou outros paratextos, num primeiro nível de enunciação. Tal<br />
é o caso <strong>do</strong> narra<strong>do</strong>r <strong>do</strong> nível extradiegético d’O Balão aos Habitantes da Lua, que<br />
assume descaradamente o seu papel de poeta mercantil, já não sujeito aos caprichos <strong>do</strong>s<br />
Mecenas, mas ten<strong>do</strong> de servir a novos Senhores:<br />
“Que fazer no ar muito apressa<strong>do</strong><br />
Que feito ser não pode com assento<br />
Tu<strong>do</strong> o que tem no ar o fundamento.<br />
[…] Na lembrança entrarei <strong>do</strong>s meus Amigos,<br />
Dos meus Apaixona<strong>do</strong>s, meus Leitores,<br />
Dos Assinantes meus e mais Senhores<br />
Que em belas-Letras são <strong>do</strong> meu parti<strong>do</strong><br />
[…] (ou me encontrem ou não merecimento)”<br />
(Costa, 2004: Prólogo)<br />
Ora tal não é a perspectiva <strong>do</strong> narra<strong>do</strong>r <strong>do</strong> nível intradiegético, o veleja<strong>do</strong>r Robertson,<br />
dito totalmente alheio ao interesse económico <strong>do</strong> balão aerostático. É curioso, aliás,<br />
verificar que muitas destas viagens interplanetárias, têm <strong>do</strong>is narra<strong>do</strong>res, <strong>do</strong>is níveis de<br />
discurso, duas vozes (para descrever) e <strong>do</strong>is mo<strong>do</strong>s (de ver). De alguma forma, as<br />
funções <strong>do</strong> conto utópico, e da viagem planetária, talvez mais <strong>do</strong> que nos restantes<br />
narrativas de viagem, vivem de funções colocadas em pertinência, por paralelismo de<br />
oposição, complementaridade e suplementaridade. E assim se verifica uma construção<br />
que se identifica com as metáforas da prisão e <strong>do</strong> infinito. Na abertura <strong>do</strong> conto, um<br />
narra<strong>do</strong>r distancia-se de outro, o protagonista. É o protagonista <strong>do</strong> nível intradiegético<br />
que vive numa prisão, melhor dizen<strong>do</strong>, que se sente prisioneiro. E por isso busca uma<br />
fuga, para um espaço distinto daquele em que, aparentemente, o primeiro narra<strong>do</strong>r vive<br />
acomoda<strong>do</strong>. Temos por isso um contraponto entre <strong>do</strong>is mun<strong>do</strong>s: o aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong> e<br />
comum, e o revela<strong>do</strong> e insólito. Talvez fosse útil considerar por isso esse contraponto<br />
quan<strong>do</strong> falamos da morfologia <strong>do</strong> relato utópico (no senti<strong>do</strong> em que Propp entende<br />
essas morfologia, ou seja, o estu<strong>do</strong> estrutural das formas constitutivas <strong>do</strong> “conto”,<br />
dan<strong>do</strong>-lhe mais relevo <strong>do</strong> que ao “estu<strong>do</strong> das legalidades históricas” (Propp, 1983: 54-<br />
55). Até porque as 31 funções encontradas por Propp no conto fantástico, não parecem
adequar-se perfeitamente às funções que se encontram no conto utópico, já que as<br />
descrições pormenorizadas <strong>do</strong> narra<strong>do</strong>r, mais <strong>do</strong> que as variadas acções <strong>do</strong> protagonista,<br />
são retoricamente uma estratégia retórica que visa, não a iniciação <strong>do</strong> protagonista (o<br />
narra<strong>do</strong>r <strong>do</strong> nível intradiegético) mas a iniciação <strong>do</strong> narra<strong>do</strong>r (a personagem <strong>do</strong> nível<br />
extradiegético). Poder-se-ia assim falar de um paradigma filosófico da Utopia, que<br />
remeteríamos para a estrutura <strong>do</strong> mito da caverna, enuncia<strong>do</strong> pelo narra<strong>do</strong>r Sócrates<br />
(n’A República de Platão) para uma República ideal, numa perspectiva que ainda assim<br />
é iniciática e didáctica (Puli<strong>do</strong>, 2011: 25 ss.).<br />
I.A caverna é um finito. Na abertura da segunda instância, o protagonista atinge uma<br />
situação extrema de despojamento, de desinteresse pelos valores <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> circundante.<br />
Voluntariamente, como no texto de Morus, ou involuntariamente, como os marinheiros<br />
que são apanha<strong>do</strong>s por uma tempestade em Luciano de Samosata, os protagonistas <strong>do</strong><br />
relato utópico perdem o que os outros têm como desejável. N’O Balão aos habitantes<br />
da Lua, os protagonistas são temerários, ainda que se não lhes reconheça a virtude da<br />
utilidade:<br />
“Pois não é cousa pouca em quem se anima<br />
A andar de guarda-costa lá por cima:<br />
Porém talvez mais útil se fizesse<br />
Se caça nos Piratas dar pudesse.<br />
[…] Confessar lhe devemos a destreza,<br />
O grande arrojo, a impávida afouteza”<br />
(Costa, 2004: [20])<br />
II.Tu<strong>do</strong> o que não é prisão é infinito. Os elementos ou a curiosidade desmedida <strong>do</strong> seu<br />
génio arrastam-no para fora <strong>do</strong> espaço conheci<strong>do</strong>. Chega-se à Lua violentamente, por<br />
impulso de explosões, foguetes, relâmpagos e chamas, corren<strong>do</strong> o risco de morrer incendia<strong>do</strong><br />
pela força que nos move. Chegar à Lua implica vontade, cálculo, esforço:<br />
“Matemáticos pontos combinan<strong>do</strong>,<br />
Ten<strong>do</strong> por base a grande Astronomia,<br />
Um Génio que não tem nada de bran<strong>do</strong>,<br />
Projecta ir ver o Sol, fonte <strong>do</strong> dia,<br />
Em peja<strong>do</strong> Balão vai forcejan<strong>do</strong>”
(Costa, 2004: [21])<br />
III.Aban<strong>do</strong>nar a caverna. Existe um perío<strong>do</strong> crítico, que é a fronteira entre a prisão e o infinito.<br />
O protagonista da História Cómica <strong>do</strong>s Esta<strong>do</strong>s e Impérios (1657), de Cyrano de Bergerac, pese<br />
embora o fervor científico, é toma<strong>do</strong> por uma febre alta (C. de Bergerac, 1989: 23). Hans Pfaall,<br />
o narra<strong>do</strong>r da viagem em Um Homem na Lua (1839), de Edgar Allan Poe, está à beira <strong>do</strong><br />
suicídio, ou <strong>do</strong> homicídio, quan<strong>do</strong> depara com um inspira<strong>do</strong>r livro de astronomia. Hitlodeu,<br />
herói da Utopia de Tomás Morus, antes de correr as sete partidas <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>, desfaz-se da<br />
fortuna e <strong>do</strong>s títulos, pois “um cadáver insepulto terá sempre o céu por mortalha”. Para merecer<br />
a nova visão, parece ser necessária uma ruptura com os hábitos, a nossa segunda natureza.<br />
[…] Eu canto o Herói que voa sem ter asas<br />
[…] Que viu montes de gelo, outros de brasas”<br />
(Costa, 2004: [22])<br />
IV.O Infinito é uma prisão, tal como a prisão é um infinito. Andan<strong>do</strong> a Lua constante à volta da<br />
Terra, só lhe conseguimos ver um <strong>do</strong>s la<strong>do</strong>s. Tal como a Lua, a Realidade tem um la<strong>do</strong><br />
desconheci<strong>do</strong> a que só se pode chegar pelo Desejo. Este facto, protege simultaneamente a<br />
Utopia e a Realidade, acreditan<strong>do</strong> cada um no que quer e no que pode. Entre o Viajante e os<br />
Outros há sempre <strong>do</strong>is discursos incompatíveis: o que é verdade para o viajante é mentira para o<br />
vulgo. Em Somnium, de Kepler, um jovem estudante de Tycho Brahe defende o sistema<br />
copérnico afirman<strong>do</strong> que, vistos da Lua, os movimentos da Terra são tão claros quanto os da<br />
Lua para os habitantes da Terra. No texto de Cyrano de Bergerac, a Lua é “um outro mun<strong>do</strong><br />
para o qual o nosso é uma Lua”. Apesar de mais abertos e cultos filosoficamente, também os<br />
luanos julgam a partir de um centro, a sua própria civilização, tratan<strong>do</strong> o outro como satélite. E<br />
é esta a maior lição da fábula: na própria Terra, fazemos Terras e Luas. Valorizamos<br />
excessivamente o nosso centro. Menosprezamos, por me<strong>do</strong> ou ignorância, os nossos satélites.<br />
[…] Eu canto o Herói que voa sem ter asas<br />
[…] Que no corpo da Lua encontrou casas<br />
Que não eram de pasto nem de jogo.<br />
[…] Que in<strong>do</strong> buscar nas nuvens desafogo,<br />
As dúvidas tirou a gente perra<br />
Que teima em que na Lua não há terra<br />
[…] Apenas aportou à nova terra,<br />
Susto e receio se apoderou dele,<br />
Ven<strong>do</strong> a gente em cardume como em guerra”<br />
(Costa, 2004: [22 e 24])
V.Voltar à caverna. Como resolver o dilema <strong>do</strong> regresso voluntário à prisão? Detentor de uma<br />
verdade que os seus semelhantes não conhecem, o protagonista, quase sempre narra<strong>do</strong>r<br />
autodiegético, sente-se movi<strong>do</strong> por uma simpatia pelos seus semelhantes, por laços de gratidão<br />
ou pela nostalgia que podem até ironicamente aproximar-se <strong>do</strong> cansaço de tanta perfeição.<br />
“Então o nosso Herói, que já cansa<strong>do</strong><br />
Estava de ver tanta variedade,<br />
Diz que por se ter muito demora<strong>do</strong><br />
Dera por visto o resto da Cidade;<br />
Que de Lisboa ten<strong>do</strong>-se lembra<strong>do</strong><br />
Do povo Português teve saudade;”<br />
(Costa, 2004: 53)<br />
Mas raramente há regressos aclama<strong>do</strong>s: os visitantes <strong>do</strong> espaço sejam quase sempre ti<strong>do</strong>s, ao<br />
regressar, por mentirosos, sonha<strong>do</strong>res, toma<strong>do</strong>s pelo sono, ou ébrios, ou loucos, ou possessos. O<br />
narra<strong>do</strong>r <strong>do</strong> texto de Luciano de Samosata diz que a sua História é uma mescla de mentiras: não<br />
falan<strong>do</strong> de coisas vistas ou ouvidas, devem os leitores precaver-se de as acreditar como tal. Na<br />
História Cómica <strong>do</strong>s Esta<strong>do</strong>s e Impérios, de Cyrano de Bergerac, o protagonista tem de ficar<br />
várias horas ao Sol para perder o cheiro a Lua, que levava os conterrâneos a afastarem-se e os<br />
cães a uivar. Em Um Homem na Lua, de E. A. Poe, um relatório considera o mensageiro da Lua<br />
um “estranho anãozinho, cujo ofício é o prestidigita<strong>do</strong>r”; Pfaall e os seus três cre<strong>do</strong>res, já<br />
bêba<strong>do</strong>s e vagabun<strong>do</strong>s, si<strong>do</strong> vistos com as algibeiras cheias de dinheiro que fora sem dúvida<br />
ganho numa “expedição ao outro la<strong>do</strong> <strong>do</strong> mar” (Poe, 2000: 59-60). Alguns narra<strong>do</strong>res afirmam<br />
redigir as suas memórias à hora da morte, como forma de não sentir em vida as consequências<br />
de tão incompreensíveis relatos. Tal é o caso <strong>do</strong> protagonista da História Cómica <strong>do</strong>s Esta<strong>do</strong>s e<br />
Impérios, de Cyrano de Bergerac. Curioso é também o facto de algumas utopias serem<br />
efectivamente edições póstumas: Somnium, de Kepler, só foi edita<strong>do</strong> em 1634, depois da morte<br />
<strong>do</strong> autor. A primeira edição <strong>do</strong> texto de Cyrano é uma versão expurgada de Le Bret, em 1657,<br />
depois da morte de Cyrano de Bergerac. A Cidade <strong>do</strong> Sol, de Campanella, foi escrita nas prisões<br />
da Inquisição.<br />
VI.A Posteridade, outro nome <strong>do</strong> Infinito. No final <strong>do</strong> relato das viagens utópicas, o<br />
protagonista, ou o narra<strong>do</strong>r, ou ambos (como sucede na Utopia de Morus, lança a<br />
questão para a Posteridade ou remete para ela o julgamento final, só nela depositan<strong>do</strong> a<br />
crença de que será compreendi<strong>do</strong>:
“[…] pegan<strong>do</strong>-lhe na mão, levei-o para dentro para tomarmos a<br />
refeição, não porém, sem antes lhe ter dito que precisávamos de<br />
encontrar mais tempo para repensarmos mais a fun<strong>do</strong> naqueles temas<br />
e para conversarmos mais longamente com ele” (Morus, 2006: p.<br />
673).<br />
N’O Balão aos Habitantes da Lua, a conclusão expectável é adiada. A razão evocada por<br />
Robertson para deixar a Lua é afinal o facto de os habitantes de Lisboa serem ainda mais<br />
perfeitos <strong>do</strong> que aqueles que ele encontrara na Lua, uniformemente virtuosos.<br />
“Direi nisto que vi, que muito louvo,<br />
Que por Leis e costumes <strong>do</strong>s Luanos<br />
Esqueçam Persas, Gregos e Romanos.”<br />
(Costa, 2004: 55)<br />
E depois desse desígnio parece mudar de ideias, contrarian<strong>do</strong>-se abertamente o da<strong>do</strong> histórico,<br />
de to<strong>do</strong>s obviamente conheci<strong>do</strong>: o regresso de Robertson a Lisboa e a aclamação que os<br />
lisboetas lhe fizeram:<br />
“Fazen<strong>do</strong> o nosso Herói tal despedida,<br />
Concorreu to<strong>do</strong> o povo a cortejá-lo;<br />
Ele então, pon<strong>do</strong> a Máquina em partida,<br />
Disse adeus e voou sem intervalo;<br />
Tenta levar avante esta subida,<br />
Mas sente dentro em si um breve abalo<br />
E, descen<strong>do</strong>, desiste <strong>do</strong> que empreende.<br />
Que a tanto o engenho humano não se estende.”<br />
(Costa, 2004: 55)<br />
Neste caso, a verdade ficcional contraria abertamente o da<strong>do</strong> histórico. Assume-se a<br />
Literatura assim como descarada mentira. Mas em geral resta, da leitura <strong>do</strong> relato<br />
utópico, não uma sensação de perfeição assegurada mas, invariavelmente, de melancolia<br />
feliz, ou de disforia eufórica. Até porque por vezes se recorda o registo onírico,<br />
inverosímil ou irreal sobre o qual se construiu a arquitectura social da utopia. Hitlodeu e<br />
Morus comprometem-se em continuar a falar destes assuntos, em que têm das coisas<br />
opiniões aqui e ali distintas. Ou sai da lira <strong>do</strong> escritor um “não mais, Musa, não mais”,
pois que o escritor teme falar <strong>do</strong> que está para além <strong>do</strong> possível e ir atrás de uma Musa<br />
ou de uma Música sedutora....<br />
“Que a tanto o engenho humano não se estende”<br />
A prisão é não conhecer. Mais recentemente, a dita “inexistente” história da<br />
aviação portuguesa” deve sobretu<strong>do</strong> à ignorância a sua inexistência. Poucos estu<strong>do</strong>s há<br />
que mesclem a história científica com uma visão sociológica e retórica. E é com prazer<br />
que, em Portugal, lemos os estu<strong>do</strong>s de Henriques Mateus e Manuel Serafim Pinto, em<br />
que se demonstra, ao longo da História da Aviação, o quanto a sua história se mescla<br />
com as prioridades <strong>do</strong> poder político, muito dependen<strong>do</strong> a sua história <strong>do</strong> interesse<br />
político em evidenciar ou ocultar a criação e a inovação (Pinto, 2010, cap. I et passim).<br />
Cruzam-se com frequência estas referências com as da História Literária das<br />
utópicas e distópicas viagens à Lua. Como também a reedição de O Balão aos<br />
Habitantes da Lua procurou exemplificar, dan<strong>do</strong>-lhe um novo contexto. O trabalho<br />
desenvolvi<strong>do</strong> durante mais de seis anos pelo projecto Utopias Literárias, sedea<strong>do</strong> no<br />
Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, veio afinal mostrar que existem<br />
Utopias Portuguesas. Prova-o a Biblioteca e a Nova Biblioteca de Textos Utópicos<br />
portugueses entretanto editada. Refira-se a novidade de Utopias de Cordel e textos<br />
afins, da antologia de textos utópicos de Vasco José de Aguiar, utopista português <strong>do</strong><br />
século XIX, ambas editadas por Jorge Bastos da Silva, de Irmânia, de Ângelo Jorge, de<br />
Felizes os que então viverem, de Joaquim <strong>Maria</strong> da Silva, da adaptação portuguesa d’O<br />
que há-de ser o mun<strong>do</strong> no ano três mil, pacientemente comparada por Fátima Vieira,<br />
ou <strong>do</strong>s recentes Novelos de Sintra, de Jorge Telles de Menezes, para não citarmos os<br />
muitos estu<strong>do</strong>s críticos sobre os muito ignora<strong>do</strong>s utopistas portugueses…<br />
Mas a maior prisão é pensar que conhecemos. Se lermos bem os eixos<br />
semânticos <strong>do</strong> discurso utópico, mais depressa concluímos que a Utopia é um esta<strong>do</strong> de<br />
espírito permanentemente insatisfeito. A Utopia é sobretu<strong>do</strong> uma ausência, somente um<br />
sem lugar das coisas diferentes, que nos alerta para outras possibilidades de ser e viver.<br />
Afinal, não é a inexistência <strong>do</strong>s instrumentos tecnológicos (a poedeira da Utopia de<br />
Morus, ou o balão aerostático <strong>do</strong> texto de José Daniel Rodrigues da Costa) que<br />
impedem as sociedades de ser melhores. O que nos impede é a inércia, o amor das<br />
coisas fáceis, a ausência de diálogo. Falarmos pouco sobre como podemos
colectivamente ser mais felizes. Falamos muito num “Eu” feliz/infeliz, de uma forma<br />
catártica. Num “Tu”, que de uma forma impositiva queremos fazer feliz ou impede a<br />
nossa felicidade. Falamos pouco de Nós. Por isso to<strong>do</strong> este meio-termo com que<br />
terminam muitas utopias é simultaneamente uma forma de conserva<strong>do</strong>rismo e uma<br />
ousadia. Ainda quan<strong>do</strong>, como no texto de José Daniel Rodrigues da Costa, a utopia<br />
acabe por pugnar por um mun<strong>do</strong> fecha<strong>do</strong> aos outros, aos que não partilham <strong>do</strong> espírito<br />
da comunidade utópica, remeti<strong>do</strong>s para uma ilha da ilha, para um satélite <strong>do</strong> satélite. De<br />
uma forma ou de outra, sempre há, até na utopia, alguns condena<strong>do</strong>s. E um outro estu<strong>do</strong><br />
interessante, que muito alongaria este, seria o das prisões e sistemas correccionais<br />
descritos nas utopias, sem-lugares, fugas a uma prisão localizada, o lugar.<br />
Talvez se possa então concluir o que os leitores frequentes de utopias<br />
intuem. Que toda a prisão gera desejos incontroláveis de infinito. E que toda a promessa<br />
de infinito é uma passagem para possíveis formas de prisão.<br />
Para vivermos numa prisão, bastará talvez, no limite, habituarmo-nos à ideia<br />
de que dela descobrimos uma evasão perfeita.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AMEAL, João (1979), Não há Utopias Portuguesas, Separata de “Revista de História da Sociedade e da<br />
Cultura da <strong>Universidade</strong> de Coimbra”, Coimbra, FLUC/ CHSC, pp. 163-170<br />
BOCAGE (2004), Obra Completa, Volume I. Sonetos, ed. Daniel Pires, <strong>Porto</strong>, Caixotim<br />
BORRALHO, <strong>Maria</strong> <strong>Luísa</strong> <strong>Malato</strong> (2004), Não há Utopias Portuguesas? in “Estilhaços de Sonhos:<br />
Espaços de Utopia”, s.l., Quasi, pp. 58-73<br />
BORRALHO, <strong>Maria</strong> <strong>Luísa</strong> <strong>Malato</strong> (2010), Sobre nós uma abóbada estrelada. Breves citações de<br />
astronomia na Literatura, in “E-Fabulations”, n.º 7, <strong>Porto</strong>, pp. 7-20. Disponível em:<br />
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/8663.pdf<br />
BORRALHO, <strong>Maria</strong> <strong>Luísa</strong> <strong>Malato</strong> (2011), Há livros felizes. A Utopia, de Tomás Morus, in “Selene.<br />
Culturas de Sintra”, Revista electrónica, Sintra, n.º 3, Verão 2011, secção “Sintra Utópica”. On line:<br />
http://www.selene-culturasdesintra.com/sintra-utopicav11#!__sintra-utopica-copy1v11<br />
MALATO, M. <strong>Luísa</strong> (2006), Manual Anti-Tiranos. <strong>Porto</strong> Alegre, Liv. <strong>do</strong> Advoga<strong>do</strong><br />
BREMOND, Claude (1973), Logique du récit, Coll. Poétique, Paris, Du Seuil<br />
BUESCU, M. Helena Carvalhão (1995), A Lua, a Literatura e o Mun<strong>do</strong>, Lisboa: Cosmos<br />
COSTA, José Daniel Rodrigues da (2006), O Balão aos Habitantes da Lua. Uma Utopia Portuguesa,<br />
Introd. M. <strong>Luísa</strong> <strong>Malato</strong> Borralho, Ilustrações de Délia Silva, <strong>Porto</strong>, <strong>Universidade</strong> <strong>do</strong> <strong>Porto</strong><br />
GREIMAS, Algirdas Julien (1970), Du Sens. Essais Sémiotiques, Paris, Du Seuil<br />
HATZENBERGER, Antoine (ed.) (2010), Utopies des Lumières, Lyon, ENS
HJELMSLEV, Louis (1966), Prolégomènes a une théorie du language : la structure fondamentale du<br />
langage, Paris, Les Editions de Minuit<br />
MANNHEIM, Karl (1960), Ideology and Utopia, an introduction to the sociology of knowledge, Lon<strong>do</strong>n,<br />
Routledge & Kegan Paul<br />
MORUS, Thomas (2006), Utopia, introd. J. V. Pina Martins, ed. Aires A. Nascimento, Lisboa: F.C.G.<br />
LYNN, Michael R. (2010), The Sublime Invention. Balooning in Europe, 1783-1820, Lon<strong>do</strong>n, Pickering<br />
& Chatto Publishers<br />
PINTO, Manuel Serafim (2010), Transporte Aéreo e Poder Político sob o signo <strong>do</strong> Império, Lisboa,<br />
Coisas de Ler<br />
PROPP, Vladimir (1983), Morfologia <strong>do</strong> Conto, pref. Adriano Duarte Rodrigues, Lisboa, Veja<br />
PULIDO, Manuel Lázaro (2011), Filosofia Antígua: la Filosofia como Decir, in “Entre Filosofia e<br />
Literatura”, ed. M. Celeste Natário e R. Epifânio, Sintra, Zéfiro<br />
REIS, José Eduar<strong>do</strong> (2007), Do espírito da Utopia: Lugares utópicos e eutópicos, tempos proféticos nas<br />
culturas literárias portuguesa e inglesa, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian