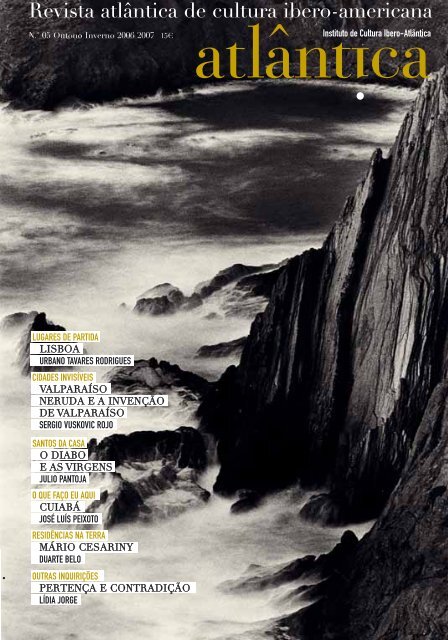descarregar PDF - Revista Atlântica
descarregar PDF - Revista Atlântica
descarregar PDF - Revista Atlântica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Revista</strong> atlântica de cultura ibero-americana<br />
N.º 05 Outono Inverno 2006 2007 15C _ Instituto de Cultura Ibero-<strong>Atlântica</strong><br />
LUGARES DE PARTIDA<br />
LISBOA<br />
URBANO TAVARES RODRIGUES<br />
CIDADES INVISÍVEIS<br />
VALPARAÍSO<br />
NERUDA E A INVENÇÃO<br />
DE VALPARAÍSO<br />
SERGIO VUSKOVIC ROJO<br />
SANTOS DA CASA<br />
O DIABO<br />
E AS VIRGENS<br />
JULIO PANTOJA<br />
O QUE FAÇO EU AQUI<br />
CUIABÁ<br />
JOSÉ LUÍS PEIXOTO<br />
RESIDÊNCIAS NA TERRA<br />
MÁRIO CESARINY<br />
DUARTE BELO<br />
OUTRAS INQUIRIÇÕES<br />
PERTENÇA E CONTRADIÇÃO<br />
LÍDIA JORGE
Número 05 Outono Inverno 2006/2007<br />
<strong>Revista</strong> atlântica de cultura ibero-americana<br />
3 PERTENCER AO SUL João Ventura<br />
4 TODOS OS NOMES<br />
6 HERÓIS DO MAR<br />
A flor do sal João Mariano<br />
12 LUGARES DE PARTIDA<br />
Lisboa Urbano Tavares Rodrigues<br />
18 VAGA GENTE<br />
Tomé Álvares, um carpinteiro algarvio<br />
nas Índias do Mar Oceano Maria da Graça A. Mateus Ventura<br />
22 TRAVESSIAS<br />
Sem regresso Carmen Yáñez<br />
26 CIDADES INVISÍVEIS<br />
VALPARAÍSO<br />
28 Neruda e a invenção de Valparaíso Sergio Vuskovic Rojo<br />
36 A BIBLIOTECA DE BABEL<br />
Arquivo Histórico Ultramarino Caio Boschi<br />
42 SANTOS DA CASA<br />
O diabo e as virgens Julio Pantoja<br />
52 A INVENÇÃO DA AMÉRICA<br />
54 A descoberta imperial do selvagem Boaventura de Sousa Santos<br />
58 As sociedades ameríndias da floresta tropical Jorge Couto<br />
70 Vasco Fernandes e a visão do Índio Bom Vítor Serrão<br />
74 CEM ANOS DE SOLIDÃO<br />
Doriselma (Guatemala) Grau Sierra Espriu e Roger Sogues Marco<br />
76 RIOS PROFUNDOS<br />
Douro José Manuel Fajardo<br />
84 ALTAS SOLIDÕES<br />
Aconcágua, a rainha das Américas João Garcia<br />
88 BESTIÁRIO<br />
O ovo do pinguim ou crónica de um amor maior Maria Adelina Amorim<br />
92 SABORES PRINCIPAIS<br />
Erotismo e gula na América, desde o tempo colonial Virginia Vidal<br />
100 ALGUM CHEIRINHO A ALECRIM<br />
Portugal, sempre Luís Antônio de Assis Brasil<br />
104 O QUE FAÇO EU AQUI<br />
Cuiabá José Luís Peixoto<br />
106 CRUZEIRO DO SUL<br />
Pancho regressa ao mar Volodia Teitelboim<br />
110 ESTÁDIO DE SÍTIO<br />
Com o coração na boca (La Bombonera) Maria Mansilla<br />
116 A MARESIA DO MUNDO<br />
Mar absoluto António Ramos Rosa<br />
118 RESIDÊNCIAS NA TERRA<br />
Mário Cesariny Duarte Belo<br />
124 OUTRAS INQUIRIÇÕES<br />
Pertença e contradição Lídia Jorge<br />
132 A MUDANÇA DA TERRA<br />
O retratista de corações Luísa Monteiro<br />
134 A COMPANHIA DOS LIVROS João Ventura<br />
144 PROCEDIMENTOS DE ARBITRAGEM CIENTÍFICA
Discorre Lídia Jorge, num belíssimo ensaio que<br />
publicamos nesta edição, sobre a noção de pertença, sobre a noção<br />
de cisma, traição ou singularidade, o que leva, também, a uma<br />
interpelação a nós próprios sobre o lugar de pertença da<br />
<strong>Atlântica</strong>.Terá esta revista um lugar de pertença? E, se sim,<br />
a que lugar pertence? Quais os territórios ambíguos que<br />
nela atravessamos? Na sua génese partimos da ideia de<br />
travessia oceânica, de aproximação de margens, de territórios,<br />
de regiões e, sobretudo, de representação de um<br />
certo imaginário ibero-americano. Diríamos, então, que a<br />
revista pertence aos portos e praias da memória partilhada<br />
entre as duas margens atlânticas, donde empreendemos,<br />
depois, a viagem de intromissão, de indagação através<br />
dos territórios sobrepostos da literatura, da história,<br />
da política, dos usos, das identidades para descobrir no<br />
rasto das vivências comuns iniciais a ressonância de um<br />
passado que irrompe no musgo da história. Mas ressonância<br />
que indicia todas as metáforas que este exercício<br />
de curiosidade partilhada persegue, como se a <strong>Atlântica</strong> fosse<br />
a região mais transparente onde, entre nós, se espelha a alma<br />
ibero-americana. Vozes múltiplas ecoam na revista como<br />
Fotografia de Paulo Barata<br />
Pertencer ao Sul<br />
João Ventura<br />
jventura_atlantica@yahoo.com<br />
num búzio onde se escuta a maresia do Sul.Vozes de navegantes<br />
da escrita que aqui deixam o seu rasto num conto,<br />
num poema, num ensaio, numa crónica, num testemunho,<br />
numa fotografia, cujo sopro continua a empurrar a<br />
revista cada vez mais para o Sul. A eles pertence também<br />
esta revista.<br />
Nesse movimento em direcção ao Sul, à utopia do<br />
Sul, para onde o promontório de Sagres parece apontar,<br />
guardamos, ainda, a herança do nosso próprio território<br />
de pertença pessoal, o Algarve. Porque é nesse Sul português<br />
que se faz a <strong>Atlântica</strong>, transportando consigo o lastro<br />
de uma terra em mudança, que muitas vezes já não reconhecemos,<br />
talvez já sem redenção, mas onde batem,<br />
ainda, as nossas horas mais íntimas. Por isso, embora<br />
nesta edição continuemos a navegar rumo ao Sul, aportando<br />
em Valparaíso sob os céus secretos do Cruzeiro do<br />
Sul, procurando Coloane em cada maré, ou atravessando<br />
os cem anos de solidão de um Chile que não esquece as feridas<br />
de um passado recente, é à Lisboa azul de muitas cores que<br />
regressamos, para logo descermos ao Algarve iluminado,<br />
ainda, pela brancura da flor do sal.
?????? TODOS OS NOMES 4<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
5<br />
ANTÓNIO RAMOS ROSA (Faro, Portugal) é um dos grandes poetas portugueses contemporâneos. Poeta das coisas primordiais,<br />
da luz, da pedra e da água, recebeu inúmeros prémios nacionais e estrangeiros, entre os quais o Prémio Pessoa, em 1998. A sua<br />
vasta obra poética e ensaística encontra-se publicada em inúmeros livros, revistas e antologias. BOAVENTURA DE SOUSA<br />
SANTOS (Coimbra, Portugal) é doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale, professor titular na Faculdade de<br />
Economia da Universidade de Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin – Madison.<br />
É director do Centro de Estudos Sociais e do Centro de Documentação 25 de Abril da mesma Universidade. Tem trabalhos publicados<br />
sobre sociologia do direito, globalização, epistemologia, direitos humanos e democracia. Os seus trabalhos encontram-se traduzidos<br />
em inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. CAIO BOSCHI (Belo Horizonte, Brasil) é doutor em História Social pela<br />
Universidade de São Paulo e professor titular jubilado do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais<br />
(UFMG) e professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). É director do Centro de Pesquisa Histórica da<br />
PUC-Minas.Tem como área de investigação: História do Brasil, Arquivos Históricos e História da Expansão Portuguesa. CARMEN<br />
YÁÑEZ HIDALGO (Santiago do Chile) viveu o seu exílio na Suécia entre 1981 e 1997. Em Gijón (Astúrias) desde 1997, publicou<br />
aí o seu primeiro livro de poesia Paisaje de Luna Fría. Em 2002, foi-lhe atribuído o prémio de poesia Nicolás Guillén. Alas del Viento é o<br />
seu último livro. Actualmente, integra o conselho de redacção da revista do Salão do Livro Ibero-Americano de Gijón. DANIEL<br />
BARRACO (Buenos Aires, Argentina) iniciou a sua actividade fotográfica em 1980, depois de frequentar a Escola Superior de Belas-Artes<br />
de Mendoza, Argentina. Realizou vários trabalhos fotográficos para os diários Libération e Le Monde. Em 2000 recebeu, do Governo<br />
chileno, o Prémio de Mérito Artístico. Lecciona na Pontifícia Universidade Católica de Santiago do Chile, no âmbito do curso<br />
Património e Identidade. As suas fotografias integram diversas colecções internacionais. DUARTE BELO (Lisboa, Portugal) é licenciado<br />
em Arquitectura pela Universidade do Porto. Paralelamente à arquitectura, desenvolve actividade em fotografia. Desde 1986,<br />
tem percorrido Portugal num levantamento fotográfico de unidades de paisagem, formas primitivas de ocupação e domínio do território,<br />
lugares arqueológicos, aspectos das cidades e da suburbanidade, arquitecturas e vias de comunicação. São da sua autoria as<br />
fotografias da obra Portugal – O Sabor da Terra, desenvolvida com José Mattoso e Suzanne Daveau. Em aproximações à poesia portuguesa,<br />
publicou Ruy Belo – Coisas de Silêncio e O Leitor Escreve para que Seja Possível. Com Nuno Júdice, é autor de Esfera do Caos. O seu trabalho<br />
está representado em colecções públicas e privadas, em Portugal e no estrangeiro. GRAU SIERRA ESPRIU (Barcelona, Espanha)<br />
é cineasta documental, formado no Centro Nacional de las Artes, do México D.F. Com o apoio da UNESCO, realizou no México o<br />
seu primeiro documentário intitulado Última Palabra, sobre os últimos falantes das línguas indígenas do México. Actualmente prepara<br />
a realização de vários documentários para televisão sobre temas etnológicos e sociais em diversos países de África, América<br />
Latina e Ásia. O seu último projecto, ainda inacabado, é uma reportagem fotográfica, para a ONG Fundación Intervida, sobre problemáticas<br />
da infância em países como o Bangladesh, a Índia, o Senegal, a Guatemala e a Bolívia. HENRIQUE CAYATTE (Lisboa,<br />
Portugal) é presidente do Centro Português de Design e professor convidado da Universidade de Aveiro. Foi fundador e autor do<br />
design global, editor gráfico e ilustrador do jornal Público. Consultor para os projectos especiais de design da EXPO'98 e do respectivo<br />
plano de pormenor do recinto. Co-autor do sistema de sinalética e comunicação da EXPO’98. Co-autor e responsável pelo design da<br />
revista Egoísta. Comissário e autor do design de diversas exposições em Portugal e no estrangeiro. Entre os vários galardões, recebeu<br />
em 2003 o Prémio Nacional de Design e o Prémio Dibner Award. JOÃO GARCIA (Lisboa, Portugal) é o montanhista (alpinista<br />
/himalaísta) português com maior currículo. Das catorze montanhas com mais de 8000 metros de altitude existentes no Planeta,<br />
já ascendeu a oito delas. Foi o primeiro português a alcançar o cume do Evereste, sem recurso a oxigénio e sem carregadores de<br />
altitude. É actualmente o único português cameraman de altitude e de condições extremas, tendo realizado vários documentários<br />
sobre as suas expedições que têm sido transmitidos nas televisões portuguesas. João Garcia é autor dos livros A Mais Alta Solidão, que<br />
já vendeu mais de 30 mil exemplares, e Mais Além – Para Além do Evereste, lançado em Fevereiro deste ano. JOÃO MARIANO (Aljezur,<br />
Portugal) é fotógrafo. Editou e coordenou a fotografia do Grupo Forum, dirigiu o departamento de fotografia do portal Terravista e<br />
actualmente dirige a agência 1000olhos – Imagem e Comunicação. Publicou diversos álbuns, livros e catálogos, e expõe regularmente<br />
desde 1993. Colabora, eventualmente, com a revista Egoísta e com o semanário Dna. JOÃO VENTURA (Portimão, Portugal) é<br />
mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pelo ISCTE e pós-graduado em Ciências Documentais (área de<br />
Bibliotecas) pela Universidade de Lisboa. Foi leitor de Língua e Cultura Portuguesas na Universidade de Paris III e docente convidado<br />
na Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve. Entre 1998 e 2003, foi delegado regional do Ministério da<br />
Cultura no Algarve. Actualmente, desenvolve actividade na área da gestão cultural como director do projecto «Fórum Cultural de<br />
Portimão». JORGE COUTO (Lisboa, Portugal) é mestre em História do Brasil e professor assistente na Faculdade de Letras da<br />
Universidade de Lisboa. Foi presidente do Instituto Camões. Actualmente, é director da Biblioteca Nacional. É autor de diversas<br />
publicações sobre os Descobrimentos Portugueses, entre as quais a construção do Brasil. JOSÉ LUÍS PEIXOTO (Lisboa, Portugal)<br />
é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa. Recebeu o Prémio Jovens Criadores (área de<br />
literatura) nos anos 1997, 1998 e 2000. Em 2001, o seu romance Nenhum Olhar recebeu o Prémio Literário José Saramago. Está<br />
representado em diversas antologias de prosa e de poesia nacionais e estrangeiras. É colaborador de diversas publicações nacionais<br />
e estrangeiras. Os seus romances estão publicados em França, Itália, Bulgária, Turquia, Finlândia, Holanda, Espanha, República<br />
Checa, Croácia, Bielorússia e Brasil. O seu último romance é O Cemitério de Pianos. JOSÉ MANUEL FAJARDO (Granada, Espanha) é<br />
jornalista e escritor, vivendo actualmente em Paris. Colaborou em vários jornais e revistas espanhóis como o El Mundo e o El País,<br />
assim como em publicações de Itália, França e América Latina. Foi redactor do programa da RTVE Tiempo de Papel. Enquanto residiu<br />
no País Basco, participou activamente no movimento cidadão pela paz e contra a ditadura do terrorismo, tendo também a seu cargo<br />
uma coluna de opinião no jornal El Mundo del País Basco. Entre as várias obras publicadas, conta-se a participação com diversos autores,<br />
como Luis Sepúlveda, Antonio Sarabia ou Rosa Montero, entre outros, nas antologias de relatos Contos Apátridas e Histórias do Mar.
Tem quatro romances editados em Portugal: Cartas do Fim do Mundo, Terra Prometida, Os Demónios à Minha Porta e Água na Boca. JULIO<br />
PANTOJA (Tucumán, Argentina) Fotodocumentarista, jornalista, criativo e editor, formou-se como arquitecto e técnico de fotografia<br />
na Universidade Nacional de Tucumán (Argentina). É docente universitário e dirige, com Gabriel Varsanyi, os Ateliers de<br />
Expressão e Fotodocumentalismo. A sua obra integra colecções públicas e privadas, como a do Museu Nacional de Belas-Artes<br />
(Argentina) e a da Casa das Américas (Cuba). É membro do Instituto Hemisférico de Performance e Políticas para as Américas da<br />
Universidade de Nova Iorque. As suas fotografias foram expostas em galerias da Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, Nicarágua, El<br />
Salvador, Espanha, França, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Suíça e África do Sul. LÍDIA JORGE (Boliqueime, Portugal) é uma<br />
das mais prestigiadas romancistas portuguesas. É licenciada em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa. A partir de O Dia<br />
dos Prodígios (1979) tornou-se uma das mais importantes romancistas portuguesas. Recebeu vários prémios literários, entre os quais<br />
o Prémio Europeu Jean Monnet com a obra O Vale da Paixão (1998), em 2003, o Grande Prémio de Romance da Associação Portuguesa<br />
de Escritores, com o romance O Vento Assobiando nas Gruas, e, em 2006, foi distinguida na Alemanha com a primeira edição do Albatroz,<br />
Prémio Internacional de Literatura da Fundação Günter Grass, atribuído pelo conjunto da sua obra. Acaba de publicar o romance<br />
Combateremos a Sombra. LUÍSA MONTEIRO (Albufeira, Portugal) é licenciada em Ciências da Comunicação e pós-graduada em<br />
Literaturas Românicas Modernas e Contemporâneas. Ao longo de 17 anos, exerceu jornalismo e publicou artigos literários em<br />
diversas revistas. Escreve essencialmente romances, embora também se dedique ao texto dramático, ensaio e biografia, poesia, crónicas,<br />
contos e novelas. Tem 17 obras publicadas, e diversos textos seus subiram já ao palco. Colabora regularmente com algumas<br />
revistas literárias. LUIZ ANTÔNIO DE ASSIS BRASIL (Porto Alegre, Brasil) é escritor com uma vasta obra publicada, tanto no<br />
Brasil como no estrangeiro. Em 1988, recebeu, com o romance Cães da Província, o Prémio Literário Nacional do Instituto do Livro<br />
e, ainda nesse ano, o Prémio Literário Erico Veríssimo pelo conjunto da sua obra. Em 1995, recebeu o Prémio Açoriano de Literatura<br />
com Pedra da Memória e Senhores do Século. MARIA ADELINA AMORIM (Lisboa, Portugal) é mestre em História do Brasil e autora de<br />
vários estudos sobre a missionação no Brasil e sobre a literatura de viagens. Investigadora do CLEPUL e membro da ACLUS, colaborou<br />
na organização do Dicionário de Lusofonia (Texto Editora, 2006). MARIA DA GRAÇA A. MATEUS VENTURA (Portimão,<br />
Portugal) é doutora em Letras pela Universidade de Lisboa. Fundadora do ICIA, foi vice-presidente da Direcção de 1995 a 2002,<br />
sendo presidente desde 2002. Foi professora visitante na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve no<br />
âmbito da Cátedra de Estudos Ibero-Americanos, da qual foi coordenadora executiva (2003-2006). É especialista em história da<br />
Ibero-América, com numerosos textos publicados nesta área, com destaque Os Portugueses no Peru ao Tempo da União Ibérica: mobilidade, cumplicidades<br />
e vivências (2005, INCM). MARIA MANSILLA (Buenos Aires, Argentina) é jornalista e coordenadora de redacção da revista<br />
Hecho en Buenos Aires.Tem artigos editados na National Geographic em espanhol, em Etiqueta Negra do Peru, ELLE (Argentina, México e Índia)<br />
e Página 12 (Argentina). É bolseira da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), presidida por Gabriel García Márquez. PAULO<br />
BARATA (Moçâmedes, Angola) é fotógrafo freelancer, colabora com a imprensa portuguesa e espanhola.Trabalha também como fotógrafo<br />
de cena para teatro e cinema, e making of para publicidade. Expõe desde 1999. ROGER SOGUES MARCO (Barcelona,<br />
Espanha) formou-se na Escola de Cinema da Catalunha, em Barcelona. É realizador e guionista de documentários onde aborda temáticas<br />
sociais relacionadas com a cultura, os direitos humanos, o meio ambiente e as desigualdades sociais, em países como Espanha,<br />
México, Guatemala, El Salvador e Estados Unidos. Actualmente, prepara o seu novo projecto documental relacionado com a recuperação<br />
da memória cultural. SERGIO VUSKOVIC ROJO (Illapel, Chile) Na campanha presidencial do Chile, em 1952, conheceu,<br />
em Valparíso, Pablo Neruda e Salvador Allende, com quem manteve amizade até à morte de ambos. Durante o Governo de<br />
Allende, foi alcaide de Valparaíso. Após o golpe de Estado de 1973, esteve encarcerado três anos, passando pelos campos de concentração<br />
de Puchuncaví e Ritoque. Durante os seus 11 anos de exílio, foi professor de filosofa na Universidade de Bolonha, em<br />
Itália. Actualmente, é professor de filosofia nas Universidades de Valparaíso e de Playa Ancha, e director do Centro de Estudos do<br />
Pensamento Latino-Americano e da revista Cuadernos del Pensamiento Latinoamericano. Escreveu várias obras sobre filosofia, sendo a última<br />
Filosofía Latinoamericana. URBANO TAVARES RODRIGUES (Lisboa, Portugal) é escritor, ficcionista, investigador e crítico literário. É<br />
professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, membro efectivo da Academia de Ciências de<br />
Lisboa e membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. Sendo um dos mais prolíficos e prestigiados escritores da segunda<br />
metade do século XX em Portugal, a sua obra, que está traduzida em diversas línguas, atinge várias dezenas de títulos, entre<br />
conto, romance, crónica e ensaio. Em 2002, foi-lhe atribuído o Grande Prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores<br />
e, em 2000, o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores. VÍTOR SERRÃO (Lisboa, Portugal) é doutor<br />
em História da Arte pela Universidade de Coimbra. É director do Instituto de História da Arte e coordenador do Departamento<br />
de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É membro efectivo da Academia Nacional de Belas-Artes e do<br />
ICOMOS, vice-presidente do CICOP-Portugal, comissário das exposições «Josefa de Óbidos e o Tempo Barroco» (catálogo de<br />
1992: Prémio Nacional Gulbenkian de História da Arte) e «A Pintura Maneirista em Portugal – Arte no Tempo de Camões» (1995).<br />
É autor de diversos livros e estudos sobre arte portuguesa do Renascimento, do Maneirismo e do Barroco. VIRGINIA VIDAL<br />
(Santiago, Chile) é escritora e jornalista. Exilada em 1976, viveu na ex-Jugoslávia e na Venezuela até 1987. Os seus textos foram traduzidos<br />
e publicados em diversas línguas.Tem inúmeros artigos de crítica cultural em revistas e diários da Venezuela. O seu romance<br />
Cadáveres del Incendio Hermoso recebeu o Prémio María Luisa Bombal de Viña del Mar em 1989. Trabalhou no programa cultural do<br />
Canal 9 da Universidade do Chile. Integrou o conselho de redacção da revista Araucária. Actualmente, é directora da revista Anaquel<br />
Austral e directora da Sociedade de Escritores do Chile. VOLODIA TEITELBOIM (Chillán, Chile) é um dos nomes mais ilustres das<br />
letras chilenas e americanas do século XX. É um escritor multifacetado, autor de uma vasta obra, que inclui romances, crónicas,<br />
memórias, biografias e ensaios. Integrou a Geração de 38 e é autor das biografias de Gabriela Mistral,Vicente Huidobro, Jorge Luis<br />
Borges [Temas e Debates] e Pablo Neruda [Temas e Debates]. Foi galardoado com o Prémio Nacional de Literatura do Chile em 2002.
HERÓIS DO MAR 6 7<br />
A flor do sal<br />
João Mariano<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
As águas oceânicas da costa algarvia, aquecidas nos dias estivais<br />
no quadriculado das salinas, produzem um tempero de requinte:<br />
a flor do sal. Os cristais finos e transparentes, colhidos diariamente<br />
pelos marenotos, são o toque mágico dos sabores intemporais da<br />
comida mediterrânica.
Lisboa. Fotografia de Paulo Barata<br />
LUGARES DE PARTIDA 12 13<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Lisboa<br />
Urbano Tavares Rodrigues<br />
Esta é a Lisboa de Álvaro de Campos, pavorosamente<br />
perdida, cidade triste e alegre. A Lisboa azul de muitas<br />
cores, como a viu Pedro Tamen.A cidade de José Cardoso Pires,<br />
luminosa e enigmática, navegando sobre o Tejo. Cais de aventurosas<br />
e, também, dolorosas partidas ou precipitadas fugas para<br />
Urbano Tavares Rodrigues, que nos leva aqui pelos arredores<br />
da sua memória através de uma cidade que navega.
LUGARES DE PARTIDA 14<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Lisboa. Fotografia de Paulo Barata<br />
15<br />
Não tenho qualquer memória de Lisboa<br />
antes dos dez anos, idade em que vim do<br />
Alentejo para aqui fazer o exame de admissão<br />
ao liceu.<br />
Mas, se para mim começou por ser<br />
lugar de chegada, também é certo que,<br />
pela vida fora, Lisboa foi o meu cais de<br />
múltiplas partidas.<br />
Num plano menos pessoal, embora<br />
tudo isso ainda me toque e me respeite,<br />
pois sempre vivi um pouco na história e<br />
no futuro, Lisboa foi teatro, quantas<br />
vezes dramático, de aventurosas e também<br />
dolorosas partidas ou precipitadas<br />
fugas.<br />
Penso nos nossos navegadores de Quatrocentos<br />
e Quinhentos e nos soldados que<br />
os acompanharam às Áfricas, Índias e<br />
Brasis e que se tornaram, muitos deles,<br />
povoadores ou comerciantes. Penso no<br />
melhor da nossa intelectualidade, os judeus<br />
ameaçados ou expulsos pela Inquisição e<br />
que deitaram raízes na Holanda, em França<br />
ou demandaram as zonas do Bósforo, em<br />
procura de mais tolerância.<br />
E recordo a emigração económica para<br />
o Brasil, para os Estados Unidos e Canadá e,<br />
já em anos mais recentes, para a França,<br />
Suíça, Alemanha, Inglaterra... Como se<br />
Portugal, pátria madrasta, não conseguisse<br />
dar a seus filhos o sustento nem a paz de<br />
alma.<br />
E houve os exílios políticos, o dos<br />
liberais no século XIX, o dos antifascistas<br />
sob as ditaduras de Salazar e Caetano.<br />
E as lacrimosas partidas para as guerras,<br />
a de 14-18, no século XX, e depois a<br />
Guerra Colonial, com o seu aparato propagandístico<br />
e o sentimento de absurdo que<br />
muitos experimentavam, ao despedirem-se<br />
de Lisboa e das famílias, dos amores, dos<br />
projectos, no Cais da Rocha.<br />
Foi muito cedo, em 1949, depois de<br />
me licenciar e de me casar, que deixei a<br />
redacção do Diário de Notícias e, como leitor<br />
da Universidade de Montpellier, parti para<br />
os céus claros do Midi, ao encontro de um<br />
mundo mais culto, mais livre.<br />
Em Dezembro desse mesmo ano estava<br />
em Paris, a passar as férias do Natal,<br />
com alguma neve e muitas luzes, cinemas,<br />
teatros, chansonniers, caves existencialistas, os
imprescindíveis museus e passeios, com a<br />
Maria Judite (de Carvalho) deslumbrada e<br />
feliz.<br />
Nos seis anos que vivi em França, primeiro<br />
no Sul depois em Paris, visitei, ainda<br />
quase de saco às costas, a Suíça, a Bélgica e<br />
a Holanda, a Inglaterra e as duas Alemanhas<br />
e voltei muitas vezes a Portugal, por<br />
pouco tempo. Dessas andanças, mais ou<br />
menos demoradas, quase sempre de comboio<br />
ou de autocarro, deixei registos e<br />
vivências transpostas, figuras de carne tornadas<br />
em papel, cenários, episódios, nos<br />
meus primeiros contos e romances.<br />
O meu lugar de partida, nesse intervalo<br />
de existência, não foi Lisboa, mas<br />
Paris, de onde eu partia também para a<br />
leitura de infindáveis livros, nas bibliotecas<br />
e nas preciosas livrarias da Rive Gauche<br />
ou nos bouquinistes.<br />
Com o regresso definitivo a Lisboa,<br />
instalámo-nos na zona de S. Sebastião da<br />
Pedreira, perto das Picoas, mas não perdi o<br />
hábito dos meus tempos de estudante de<br />
passear pela Lapa, pela Madragoa, por toda<br />
a área ribeirinha, de Belém ao Terreiro do<br />
Paço e à Casa dos Bicos, a Alfama. Creio<br />
que essa constante atracção está muito marcada<br />
nos meus romances de fundo lisboeta,<br />
de Os Insubmissos a O Eterno Efémero ou Ao<br />
Contrário das Ondas.<br />
A paisagem do rio e da sua foz, dos<br />
cais, dos navios, velhos petroleiros, embarcações<br />
à vela sempre me fascinou.<br />
Em 1958, no ano da campanha eleitoral<br />
do general Humberto Delgado, fiz uma<br />
longa viagem até ao Brasil, onde meu<br />
irmão Miguel já estava exilado. Fui num<br />
paquete italiano, o «Ana C», em terceira<br />
classe, fazendo escala na Madeira e em<br />
Cabo Verde, outros lugares de partida, até<br />
ao lumioso milagre da chegada a<br />
Guanabara e depois a Santos, onde meu<br />
irmão me esperava para subirmos até ao<br />
planalto de São Paulo.<br />
Foi o Jorge Amado o meu cicerone no<br />
Rio, com ele vi o autêntico Brasil e vi as<br />
marcas de Portugal no Brasil, na arquitectura<br />
e nos seres humanos.<br />
Primeiro contacto com o Rio Grande<br />
do Sul, onde muito mais tarde havia de<br />
assistir a uma discussão do orçamento<br />
aberto e visitar, com a viúva de Vítor Jara,<br />
um acampamento dos Sem-Terra.<br />
Quantas partidas, quantas noites de<br />
farra nos cais de Lisboa.<br />
Não os olhei, esses cais, tal o Pessoa<br />
na Ode Marítima, como porta do mundo<br />
sonhado que dali se deseja, se espreita, se<br />
imagina, sem ousar viagem alguma que<br />
não seja interior.<br />
Foram as aerogares, para voos de curta<br />
ou de longa duração, os meus bem familiares<br />
lugares de partida: para Roma, para<br />
Paris (a minha rotina dourada de escritor,<br />
jornalista e professor de literatura francesa),<br />
Londres, Manchester, Colónia e Roma,<br />
Berlim; e mais tarde a Rússia, de São Petersburgo<br />
ao lago Baikal ou ao Norte da<br />
Sibéria. E Praga, sob um nevão desumano,<br />
Viena e Budapeste, Sófia, Belgrado...<br />
Um período do século XX então prestes<br />
a terminar.<br />
Amei cidades e mulheres, o exotismo<br />
ou o classicismo de paisagens diversas. Por<br />
vezes reencontrei, em fulgores de saudade,<br />
o Alentejo na Ásia Menor turca; o solo<br />
mediterrânico, os seus olivais de prata no<br />
Afeganistão, se bem me lembro perto de<br />
Kandahar.<br />
Gente tão diversa, mas sempre humana,<br />
quer no mistério de Cabul, durante a<br />
curta república do poeta Nur Mohamed<br />
Taraki, quer nos países do Médio Oriente,<br />
sempre em convulsão, quer na América<br />
Latina, apesar da violência de certos bairros,<br />
onde a miséria empurrava os mais<br />
pobres para o crime. Estive em Caracas, em<br />
Buenos Aires; vivi em Cuba, em 1962-63,<br />
a delirante euforia da vitória em Playa Girón.<br />
De Lisboa, nesse ano de 1963, em<br />
que conheci os «curros» do Aljube, andei<br />
por Florença, extasiado com os Botticelli,<br />
com a visão do Arno, com os Giotto da<br />
Piazza della Signoria, com os frescos do Fra<br />
Angelico.<br />
Voltei à Grécia, que já conhecia, mas<br />
desta vez de barco, com inolvidáveis paragens<br />
em Nápoles e na Sicília; vi teatro na<br />
Acrópole, percorri as igrejas bizantinas<br />
de Atenas; e fui a Delfos, à Acrocorinto;<br />
escutei os ecos da Sibila; repensei Teixeira-<br />
-Gomes, frente à harmoniosa paisagem<br />
helénica.
LUGARES DE PARTIDA 16<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Em Nova Iorque fiz da Broadway o meu<br />
centro, de começo sempre a olhar para<br />
cima, apesar da neve, para fixar bem os<br />
arranha-céus. Convivi com escritores e jornalistas<br />
e com alguns subi ao topo do<br />
Empire State Building, percorri Central Park e os<br />
museus, as galerias; ousei entrar em Harlem<br />
à hora do maior movimento, reconheci a<br />
China Town do cinema; e em Greenwich Village<br />
vieram até mim as sombras dos grandes<br />
escritores que ali moraram.<br />
Lisboa era a alegria da chegada, o retomar<br />
do trabalho, que aumentara com a<br />
ausência, e a serena reflexão não só sobre<br />
as terras desvendadas, mas, e talvez sobretudo,<br />
sobre a real dimensão das nossas<br />
cidades, o carácter um pouco bisonho do<br />
povo, sob o salazarismo. E o repensar dos<br />
nossos mitos, que com o tempo vêm<br />
mudando, neles permanecendo sempre,<br />
todavia, o sentimento da grandeza perdida,<br />
que desde D. João III e depois de Alcácer<br />
Quibir faz tocar as nossas guitarras de alma<br />
e nos leva a incessantemente partir, emigrar,<br />
ou maldizer da pequena Pátria que<br />
não torna a achar o segredo das vitórias,<br />
nem o resplendor da Índia, o ouro do<br />
Brasil. Por algum tempo, pouco, houve o<br />
sonho transformador de Abril, a curta epopeia<br />
da fraternidade, a euforia da mudança<br />
que trouxe até nós, no local onde a história<br />
avançava, gente de todo o mundo,<br />
coleccionadores de esperança.<br />
Lisboa. Fotografia de Paulo Barata<br />
17<br />
O entusiasmo da partida, a vontade do<br />
novo esmoreceram um pouco em mim<br />
com o abrandar da curiosidade e da<br />
inquietação.<br />
Foi, no entanto, com renovada surpresa<br />
e enlevo, e por vezes desgostos e outras vezes<br />
exaltação, que visitei, como escritor e conferencista,<br />
a China e a Índia (1999 e 2002).<br />
Enquanto puder, continuarei regularmente<br />
a percorrer, de preferência acompanhado,<br />
os bairros ribeirinhos, de Alcântara<br />
e Alfama, Lisboa cidade-cais, e a prender<br />
mais uma vez o olhar nas velhas casas de<br />
azulejos, nos palacetes meio arruinados, a<br />
pedirem restauro, nas estreitas ruas onde o<br />
rio ressoa, da Lapa ou Santa Catarina às<br />
Janelas Verdes, ao Adamastor, à sardinha<br />
assada, à brisa picante onde o sol marinho<br />
e sobretudo a pimenta evocam as especiarias;<br />
e as mulheres continuam a balançar-se<br />
como no Sentimento de um Ocidental. Até me<br />
acontece relembrar poemas do Cancioneiro de<br />
Resende ou a Ode Triunfal de Pessoa.<br />
Lisboa, lugar de partida, às vezes definitiva,<br />
mas também lugar de chegada,<br />
ainda hoje orienta para o Tejo, de envolta<br />
com frustrações, mau passadio, direitos<br />
sociais a desaparecer, o sopro brando da<br />
viagem redentora. E por vezes há vozes que<br />
sussurram: com esta fuga dos jovens cérebros<br />
para o estrangeiro, também os meus<br />
filhos partirão. Eles que são tão dotados. Lá<br />
é que os portugueses se afirmam.
VAGA GENTE 18 19<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Tomé Álvares,<br />
um carpinteiro algarvio<br />
nas Índias do Mar Oceano<br />
Maria da Graça A. Mateus Ventura<br />
Christoph Weiditz, 1529. Biblioteca Nacional, Madrid
1 Archivo General<br />
de Índias (Sevilha),<br />
Contratación,<br />
922ª, N.12<br />
VAGA GENTE 20 21<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
AGI (Sevilha), Testamento de Tomé Álvares, Contratación, 922A, nº12.<br />
Tomé Álvares, natural da cidade de<br />
Tavira, vizinho de Triana, enfermo do corpo<br />
e são da vontade, em seu perfeito juízo e<br />
entendimento, ditou um testamento 1 , poucos<br />
dias antes de falecer, a 18 de Março de<br />
1582, em Santiago de Guayaquil.<br />
Nasceu no reino de Portugal, filho de<br />
Lázaro Fernandes e de Inês Martim, e emigrou<br />
para Triana, bairro de marinheiros na<br />
margem direita do Guadalquivir, frente à<br />
cidade de Sevilha, reino de Espanha. Daqui<br />
partiu para as Índias do Mar Oceano com<br />
outros algarvios e andaluzes por companheiros.<br />
Instalou-se bem longe daqui, na margem<br />
oriental do Oceano Pacífico, na cidade<br />
portuária de Guayaquil, reino do Peru.<br />
Não sabemos a sua idade, apenas que,<br />
à data do seu testamento, os seus pais eram<br />
defuntos e não tinha filhos. Casara em<br />
Triana, segundo a ordem da Santa Madre<br />
Igreja Católica Romana, com Catalina Garcia,<br />
filha de Francisco Garcia e de Isabel Peres,<br />
naturais de Vila Nova de Portimão e vizinhos<br />
desse bairro marítimo. Tomé partiu<br />
para as Índias, Catalina ficou em Triana,<br />
com a mãe, cuidando da casa e da fazenda<br />
com a ajuda das negras que tinha ao seu<br />
serviço. O dote que levara consigo havia<br />
sido duplicado em bens pela habilidade do<br />
marido que, agora, no outro lado do mundo,<br />
falecia deixando-lhe apenas um testamento<br />
que pouco acrescentava àquilo que ficara<br />
por dizer: universal herdeira dos bens em<br />
Triana e de mais ou menos seiscentos<br />
pesos de prata corrente, cobradas as dívidas<br />
alheias e o salário de carpinteiro de ribeira<br />
do marido.<br />
Partira do Algarve para a Andaluzia,<br />
de Portimão ou Tavira para Aiamonte ou Sevilha<br />
em busca de uma viagem para a<br />
Índia, desassossego que não passava disso<br />
mesmo, desassossego por fortuna muitas<br />
vezes transformada em má sorte.Tomé não<br />
enriqueceu. Não tinha casa própria em<br />
Guayaquil, apenas um colchão, um cobertor,<br />
uma almofada e lençóis gastos. A roupa<br />
que vestia era modesta, o melhor ficou<br />
registado no testamento – um capote negro<br />
guarnecido de passamanes, uns imperiais<br />
negros de terciopelo e um velho saio azul.<br />
Entre os seus parcos bens, fez questão de<br />
nomear a ferramenta de carpinteiro com a<br />
qual ia construindo o barco que o alcaide<br />
ordinário de Guayaquil encomendara ao<br />
mestre António Fernandes e que lhe valeria<br />
os 280 pesos de salário por cobrar.<br />
Os seus albaceias eram o mestre de<br />
fazer navios e o alcaide ordinário da cidade.<br />
Testemunhas do testamento e dos últimos<br />
dias de vida de Tomé foram outros algarvios,<br />
como António Resio, mercador natural<br />
de Vila Nova de Portimão que era vizinho<br />
de Aiamonte e viajava de cá para lá do<br />
Atlântico ao Pacífico. António mal teve<br />
tempo de satisfazer uma vontade do seu<br />
amigo enfermo – comprar-lhe 36 pesos de<br />
queijos. Foi também António que trouxe<br />
para Sevilha os 120 ducados que Tomé<br />
devia aos herdeiros do bretão Francisco<br />
Martins. Chegado a Sevilha com cópia do<br />
testamento para Catalina, não resistiu à<br />
insistência desta para que lhe entregasse os<br />
ducados de prata. Isabel Fernandes, viúva<br />
do bretão, mandou António para a cadeia<br />
por este não lhe ter pago a dívida do carpinteiro<br />
defunto, e este vê-se envolvido<br />
num processo motivado pela má-fé da<br />
viúva do seu amigo. Coisas de mulheres,<br />
disputas de herdeiros.
Bem longe daqui a alma do nosso<br />
defunto, sepultado, conforme sua vontade,<br />
com o hábito de São Domingos, na capela<br />
de Nossa Senhora do Rosário, no mosteiro<br />
de S. Paulo, na cidade de Guayaquil, carecia<br />
do bom senso das partes mais que das missas<br />
de requiem cantadas e rezadas pelo cura e<br />
pelos religiosos da cidade.<br />
Triana, bairro de mareantes, era ninho<br />
de algarvios com ramificações familiares em<br />
todo o garb andaluz. O porto de Santiago de<br />
Guayaquil atraía os homens do mar pelas<br />
excelentes oportunidades resultantes da sua<br />
estratégica localização entre o Peru e o<br />
Panamá. Não é, por isso, de estranhar que aí<br />
encontremos marinheiros aos molhos, reunidos<br />
quando é necessário testemunhar as<br />
últimas vontades dos enfermos que insistem<br />
em fechar o círculo de uma relação familiar<br />
ditando um testamento que sintetiza a sua<br />
identidade e apazigua a sua consciência.<br />
Christoph Weiditz, 1529. Biblioteca Nacional, Madrid.<br />
De Sevilha, o Guadalquivir era o atalho<br />
para o Mar Oceano, devassado continuamente<br />
por mestres, marinheiros, pilotos e<br />
mercadores naturais do Algarve, vizinhos<br />
dos portos andaluzes, residentes ou estantes<br />
temporariamente nos portos indianos.<br />
Tomé Álvares, António Resio e António<br />
Fernandes ilustram o padrão de mobilidade<br />
dos portugueses e, particularmente, dos<br />
algarvios que se dispersaram num amplo<br />
território cuja fronteira fluida não era obstáculo<br />
eminente à busca de fortuna. Neste<br />
vaivém se foi formando a idiossincrasia da<br />
vaga gente que fez do Sul espaço de viagem<br />
e do Atlântico um mar de oportunidades.
TRAVESSIAS 22<br />
23<br />
Sem regresso<br />
Carmen Yáñez<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007
Por vias sinuosas, clandestinas,<br />
atravessaram a noite densa<br />
de chacais, pesada de amargura.<br />
Era um tempo de renúncia no Chile.<br />
Renúncia das coisas e dos afectos<br />
deixados para trás. Um testemunho<br />
de quem atravessou a sombra.
TRAVESSIAS 24<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Já não estão<br />
os meus pais<br />
Nem o fogo<br />
que acenderam<br />
Carlos Liscano<br />
25<br />
Eu tinha uma casa, marido,<br />
filho, pais, um pequeno<br />
jardim de ervas aromáticas,<br />
algumas árvores que davam os<br />
seus frutos, um parreiral para<br />
as tardes estivais, uma rua,<br />
uma vereda até ao sul, uma<br />
cidade dentro de um país. Um<br />
país que um dia amanheceu<br />
sombrio e hostil.<br />
Suponho que começou ali a<br />
minha viagem, apesar de o ignorar<br />
naqueles primeiros tempos<br />
de horror. Eram os anos setenta e<br />
começava o êxodo.<br />
Muitos procuraram embaixadas,<br />
consulados, a Nunciatura<br />
da Igreja Católica, vias clandestinas<br />
entre os caminhos das cordilheiras<br />
para partir rumo à Argentina,<br />
ou pelo norte até ao Peru e<br />
à Bolívia, ludibriando os guardas<br />
fronteiriços. Procuravam uma<br />
via rápida de fuga desesperada<br />
para fugir dos institucionalizados<br />
e recém-estreados métodos<br />
de tortura, desaparecimento e<br />
morte quase certa. Nessa tentativa,<br />
grande parte deles ficaram<br />
pelo caminho: as mãos negras da<br />
ditadura chegavam até às entreabertas<br />
portas salvadoras para<br />
alcançar as presas. Assim, a ditadura<br />
aplicava o terrorismo de<br />
Estado em nome da Doutrina da<br />
Segurança Nacional, combatendo<br />
as ideias e o pensamento livre<br />
dos agora depostos opositores ao<br />
seu regime militar.<br />
Sergio Leiva Molina, militante<br />
socialista, tinha 34 anos,<br />
mulher e uma filha. Uns dias<br />
depois do golpe do 11 de Setembro<br />
de 1973, começou a ser<br />
perseguido e fugiu. Algumas<br />
semanas mais tarde, emergiu da<br />
sua clandestinidade; com uma<br />
escada feita de cânhamo e paus<br />
de bambu sobressaindo da sua<br />
mochila, disse-nos adeus e<br />
pediu-nos que cuidássemos da<br />
sua mulher e da sua filha Aleida.<br />
Nesse dia tentaria ludibriar a<br />
vigilância dos carabineiros que<br />
estavam de guarda à embaixada<br />
argentina; utilizaria a escada<br />
para saltar o muro das traseiras<br />
da embaixada, num sítio descampado<br />
e escuro. Não sei<br />
como o fez, mas conseguiu.<br />
Pensávamos que o nosso<br />
amado companheiro se encontrava<br />
a salvo, já a pedir asilo como<br />
refugiado, mas o seu espírito<br />
intrépido e solidário levou-o a<br />
contactar com outros que, como<br />
ele, tentavam dar o salto: assim,<br />
a sua improvisada e engenhosa<br />
escada aparecia e desaparecia do<br />
muro. Sergio assomava de vez<br />
em quando do outro lado para<br />
ver se algum fugitivo necessitava<br />
de ajuda; nesse caso, assobiava e<br />
voltava a lançar imediatamente a<br />
escada flexível.<br />
Salvou muitos, mas no dia 4<br />
de Janeiro de 1974, atraído por<br />
um ruído, assomou-se cautelosamente.<br />
Caiu destroçado pela<br />
bala assassina que o esperava,<br />
espreitando-o, incessantemente.<br />
A televisão, já nas mãos das hordas<br />
fascistas, emitiu a notícia<br />
entre comunicados militares<br />
sobre o recolher obrigatório,<br />
falseando-a com o característico<br />
tom distorcido que costumava<br />
imprimir à explicação dos assassinatos<br />
de Estado.<br />
Não sabíamos que o dia em<br />
que Sergio nos abraçou seria a<br />
última vez que o veríamos.<br />
Agora e depois de muitos anos,<br />
o seu nome é mais um dos que<br />
estão presentes no Memorial em<br />
honra das vítimas daqueles 17<br />
anos de ditadura, no Cemitério<br />
Geral de Santiago do Chile, mais<br />
um na categoria dos fuzilados.<br />
Creio que ali começou a esboçar-se<br />
a minha viagem, ainda<br />
sem regresso.<br />
Aos que conseguimos continuar<br />
em pé, despertava-nos a
constante vigília; por onde se<br />
espreitava, apareciam a crosta do<br />
medo, a ferida, a morte. Os<br />
funerais celebravam-se uma e<br />
outra vez com a presença sinistra<br />
de capangas e delinquentes a<br />
soldo; por todo o país proliferaram<br />
os cárceres clandestinos, as<br />
prisões e os desaparecimentos,<br />
mas resistia-se secretamente pelo<br />
regresso da democracia, em<br />
todas as cidades e de mil modos.<br />
Pode-se conviver com o medo,<br />
desafiá-lo, tomar partido, mas<br />
render-se-lhe não constitui uma<br />
vida digna, e esse pensamento<br />
foi o alento de muitos para continuarem<br />
a resistir apesar da<br />
repressão. No entanto, a pátria<br />
dividiu-se; as denúncias entre<br />
vizinhos opuseram cada família,<br />
cada bairro. O medo quebrava os<br />
laços; a resistência devia proteger-se<br />
até da sua própria sombra.<br />
Os que ficávamos despedíamo-nos<br />
de amigos e companheiros<br />
que partiam para o exílio.<br />
E eu continuava sem saber<br />
que, um dia, partilharia da sua<br />
sentença.<br />
Durante o Golpe Militar,Augusto<br />
Pinochet dirigiu o assalto<br />
a «La Moneda», o Palácio do<br />
Governo, a partir da Villa<br />
Grimaldi – a casa convertida em<br />
forte militar que passou a denominar-se<br />
Cuartel Terranova. No final<br />
de 1973, o local converteu-se na<br />
sinistra casa de tortura Villa Grimaldi<br />
sob o comando do general<br />
do Exército Manuel Contreras<br />
Sepúlveda, que recebia ordens<br />
directas do seu comandante-chefe<br />
Augusto Pinochet. Contreras era<br />
o chefe da DINA, posteriormente<br />
CNI.<br />
Muitos dos detidos-desaparecidos<br />
passaram por ali – estima-se<br />
que à volta de 5000 pessoas.<br />
A quase todas foram aplicadas<br />
diversas formas de tortura e<br />
vexames.<br />
Às três da manhã de um dia<br />
de Outubro de 1975, e durante<br />
o recolher obrigatório, pararam<br />
dois carros à porta da minha<br />
casa e desceram seis homens<br />
armados que me levaram, com<br />
os olhos vendados, à Villa<br />
Grimaldi perante uma viscosa<br />
personagem que consegui reconhecer<br />
muitos anos depois, graças<br />
ao testemunho de outros<br />
Pode-se conviver<br />
com o medo,<br />
desafiá-lo,<br />
tomar partido,<br />
mas render-se-lhe<br />
não constitui<br />
uma vida digna.<br />
prisioneiros que tinham passado<br />
pelas suas mãos: Osvaldo Romo<br />
Mena, torturador e violador.<br />
Apesar desta situação, não planeava<br />
a fuga e agarrava-me ao<br />
meu território.<br />
Avançava-se a pouco e pouco<br />
desafiando o medo.<br />
Eu e o meu filho refugiámo-nos<br />
no Sul do país, mas em<br />
1980 decidi voltar a Santiago.<br />
Soube que parte da organização<br />
da resistência tinha sido presa.<br />
Os militares foram a minha casa<br />
e deixaram-me em prisão domiciliária;<br />
nos primeiros meses do<br />
ano seguinte, dirigi-me aos<br />
Organismos do Alto-Comissariado<br />
das Nações Unidas e<br />
preparei-me para sair do país.<br />
Foram as horas mais tristes<br />
da minha vida; o meu filho<br />
separava-se dos seus brinquedos<br />
e dos seus avós, e tínhamos perdido<br />
o rasto do meu marido –<br />
Luis Sepúlveda. Eu deixava para<br />
trás todos os meus haveres,<br />
sonhos e pesadelos. Não voltaria<br />
a ver os meus pais durante mais<br />
de dez anos, e cada hora subtraía<br />
as raízes à minha vida.<br />
O país e a cidade tinham<br />
mudado. Regressaram os tempos<br />
democráticos, mas a casa está<br />
em ruínas, os meus pais faleceram,<br />
as árvores e o parreiral<br />
secaram, e as ervas aromáticas<br />
deram lugar às ervas daninhas.<br />
Se é certo que o exílio foi<br />
uma forma de castigo, uma condenação<br />
ao desmembramento<br />
familiar, também nos proporcionou<br />
uma visão original do<br />
mundo que marcou profundamente<br />
o nosso olhar; os diversos<br />
cenários geográficos proporcionaram-nos<br />
uma compreensão<br />
mais ampla do ser<br />
humano e, em particular, de nós<br />
próprios.<br />
Ao fim de muitos anos,<br />
consegui reunir-me com o meu<br />
marido e os meus filhos, consegui<br />
imprimir uma ordem afectiva<br />
ao nosso ambiente familiar e,<br />
hoje, vivo num país que escolhi<br />
por minha própria vontade. Da<br />
minha parte, sei que venci a<br />
morte emboscada na Villa Grimaldi<br />
e a que farejava atrás de<br />
cada esquina do desenraizamento:<br />
a bagagem não foi leve, mas<br />
a viagem valeu a pena.
CIDADES INVISÍVEIS 26 27<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
VALPARAÍSO<br />
Fotografias de Daniel Barraco<br />
Valparaíso é um velho balcão debruçado sobre o Pacífico.<br />
Viajantes, cineastas, poetas, pintores, fotógrafos gravaram<br />
a sua história sob os céus secretos do Cruzeiro do Sul.<br />
Mas quem melhor descobriu a sua alma profunda de porto<br />
de partidas e de chegadas foi Neruda, que a reinventou a partir<br />
da sua casa La Sebastiana, construída no cerro Florida.
CIDADES INVISÍVEIS 28<br />
Neruda<br />
e a invenção<br />
de Valparaíso<br />
Sergio Vuskovic Rojo<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
29
«Não será<br />
simplesmente<br />
[Valparaíso]<br />
o fantasma de uma<br />
cidade que nunca<br />
pôde pertencer<br />
inteiramente a<br />
nenhum presente?»<br />
Agustín Squella<br />
Sempre me questionei sobre<br />
a atracção que Valparaíso exerceu<br />
sobre Neruda desde a sua mocidade<br />
até à sua maturidade criadora.<br />
Num exemplar do diário La<br />
Nación de 1973, a poetisa Sara<br />
Vial reproduziu algumas das<br />
palavras que proferiu em Paris,<br />
depois de receber o Prémio Nobel:<br />
«Mais do que nunca sinto falta<br />
do Chile e, com Matilde aqui a<br />
meu lado, da nossa querida Valparaíso.»<br />
No Estádio Nacional, aquando<br />
do seu regresso de França,<br />
após renunciar à embaixada,<br />
começa a sua história pessoal:<br />
«Nasci no centro do Chile, criei-<br />
-me em La Frontera, iniciei a<br />
minha educação em Santiago,<br />
Valparaíso conquistou-me.»<br />
Vaticinando o seu encontro<br />
com a morte, escreveu docemente:<br />
«Em Isla Negra os espero,<br />
entre ontem e Valparaíso.»<br />
E desta preocupação nasceram<br />
em mim algumas reflexões<br />
filosóficas e sociais.<br />
Valparaíso é um lugar metafísico,<br />
situado para lá da física,<br />
para lá do tempo e do espaço,<br />
para lá da história, uma urbe parada<br />
no tempo, fora desta época e<br />
que, todavia, vive e muda constantemente,<br />
é um centro mágico<br />
da existência.<br />
É talvez a única povoação<br />
deste país que não foi fundada<br />
pelos espanhóis, mas sim, no seu<br />
estatuto nobiliário, por vários<br />
poetas e escritores. Desde Nicanor<br />
Parra, que fala de «Valparaíso<br />
afundada para cima», a Gon-
CIDADES INVISÍVEIS 30<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
zalo Rojas, que considera a cidade<br />
como «obscuridade que sobe,<br />
obscuridade que desce», ou a<br />
Joaquín Edwards Bello, que defende<br />
que «Valparaíso não impõe<br />
ideias feitas. Cada qual a imagina<br />
à sua maneira», exaltando o<br />
carácter tolerante da primeira<br />
cidade chilena que acolheu imigrantes<br />
de todo o mundo, especialmente<br />
da Europa.Até à chegada<br />
do cigano Rodríguez que descobriu<br />
que «Valparaíso amarra<br />
como a fome». Cidade milagrosa<br />
criada pelos «cerrenhos» e pelos<br />
poetas.<br />
Naturalmente que deste afã<br />
de criação não escaparia Pablo<br />
que, num livro chamado Geografía,<br />
criou uma orografia imaginária:<br />
«Vamos a Valparaíso, vamos<br />
ao insólito porto sem portas, à<br />
porta dos vastos mares. Valparaíso<br />
é mínima e universal, sórdida<br />
e gloriosa: Valparaíso obscura<br />
arde na areia do Pacífico como<br />
uma brasa fria, como uma estrela<br />
de mil pontas.Valparaíso usurpou-me,<br />
submeteu-me ao seu<br />
domínio, ao seu dislate:Valparaíso<br />
é um montão, é um racimo de<br />
casas loucas, é um pássaro que<br />
cai sobre a tua cabeça, é uma<br />
criança pobre no meio do ferro<br />
velho, é uma mulher angustiada,<br />
é uma distância.<br />
Um casal, uma cama, Valparaíso<br />
é uma escada e três cavalos,<br />
outra escada que conduz às nuvens<br />
e outra que nos convida às<br />
vidas alheias, à intimidade escorregadia<br />
que nunca conseguiremos<br />
partilhar senão com os degraus<br />
pisados por um milhão de<br />
pés que passaram enfiando-se<br />
nos lençóis de Domingo, quando<br />
tudo corre escadas acima, para os<br />
cerros, para as famílias numerosas,<br />
para a pobreza de cima, pobreza<br />
orgulhosa e férrea temperada<br />
em todos os combates de<br />
terra e mar.»<br />
31<br />
VALPARAÍSO<br />
É UM LUGAR<br />
METAFÍSICO, SITUADO<br />
PARA ALÉM DA FÍSICA,<br />
PARA LÁ DO TEMPO<br />
E DO ESPAÇO, PARA LÁ<br />
DA HISTÓRIA, UMA URBE<br />
PARADA NO TEMPO,<br />
FORA DESTA ÉPOCA<br />
E QUE, TODAVIA,<br />
VIVE E MUDA<br />
CONSTANTEMENTE,<br />
É UM CENTRO MÁGICO<br />
DA EXISTÊNCIA.<br />
Valparaíso não é uma cidade,<br />
pois, por muito que falemos<br />
da cidade, esta, na verdade, não<br />
existe: é uma confederação de 42<br />
cerros e um vale. E, como se não<br />
bastasse, é fácil constatar que não<br />
tem um centro. Cada um imagina-o<br />
como quer. Por isso, Lukas<br />
afirmava que Valparaíso é a única<br />
cidade do Chile que não se parece<br />
com Quillota: aqui não há<br />
uma Praça de Armas ou uma<br />
Praça Maior. E, no entanto, existe<br />
uma harmonia subjacente na sua<br />
desordem. Como cidade, padece<br />
de irrealidade, tanta que, às vezes,<br />
o duque de Goicolea exclama,<br />
surpreendendo-se a si mesmo:<br />
«Valparaíso não existe.» E, por<br />
isso, o poeta Arturo Morales lhe<br />
recomenda: «Não gires, a cidade<br />
não existe» (23.º poema itinerante),<br />
desinventando Valparaíso.<br />
Como é possível que os<br />
cemitérios desfrutem da melhor<br />
vista sobre o mar, já que todos<br />
estão no cimo de alguns cerros?<br />
Durante o terramoto de 1965,<br />
no cemitério n.º 2 quebraram-se<br />
vários mausoléus e sepulturas<br />
comuns, produzindo-se uma<br />
«chuva de mortos na cidade»,<br />
como anunciou o El Mercurio.<br />
Quem poderia imaginar que<br />
apareceria um leão afogado na<br />
praia de Las Gaviotas à saída do<br />
leito da avenida Argentina? Valparaíso,<br />
cidade de África?!<br />
Melhor, parece que é um<br />
estado de alma. Manuel Peña<br />
Muñoz, por sua vez, sentiu: «Nada<br />
mais triste que o Cerro Alegre.<br />
Sobretudo num Domingo de<br />
Outono, quando no meio da<br />
neblina aparece o tocador de realejo,<br />
pela rua Munich, a tocar<br />
Violetas Imperiais». Ou o «mote<br />
mei» que irrompe com o seu<br />
farol entre as cascatas de neblina<br />
que anunciam as primeiras gotas<br />
de chuva.<br />
Na realidade, verdadeiramente,<br />
Valparaíso padece de um<br />
sentimento de irrealidade que<br />
evidencia o seu tom metafísico,<br />
como história do ser de Valparaíso,<br />
no qual são frequentes as<br />
rajadas de vento norte e também<br />
os ventos de irracionalidade e os<br />
encontros fortuitos.<br />
O professor alemão, doutor<br />
em literatura, Thomas Brons, o<br />
primeiro que propôs que Valparaíso<br />
fosse declarada Património<br />
Cultural da Humanidade pela<br />
UNESCO em 1993, escreveu:<br />
«No plano simbólico, eu diria<br />
que esta cidade cresce em busca<br />
do seu centro desconhecido» e,<br />
na forma de haiku, «Valparaíso,<br />
porta aberta a qualquer ser».<br />
Procurando o seu centro,<br />
andaremos pelo vale, subiremos<br />
ou desceremos por qualquer<br />
escadaria, mas poderá ocorrer<br />
que alguma não levará a parte<br />
nenhuma, como a que existe na<br />
avenida Francia com Colón, na
esquina do Liceu Eduardo de la<br />
Barra, atrás da bomba de gasolina.<br />
Ou, então, sofreremos uma<br />
espécie de ilusão óptica ao observarmos,<br />
de cima, as casas do<br />
porto porque nos mostram cinco<br />
paredes em vez de quatro, sendo<br />
a quinta o tecto multicor.<br />
Este espírito de tolerância<br />
também foi intuído por Pablo<br />
Neruda que, ao escrever o livro<br />
Valparaíso, exerceu a sua função<br />
criadora com uma topografia<br />
imaginária na qual aparecem 50<br />
cerros, quatro ou cinco dos quais<br />
são fruto da sua imaginação prodigiosa,<br />
mas que tinham nomes<br />
muito bonitos como El Árbol Copado,<br />
Del Buey, Del Cardenal, e termina<br />
com um toque de realidade<br />
nomeando El Cerro de la Florida:<br />
«Neste cerro está a minha casa»,<br />
ainda que os vizinhos do cerro<br />
Bella Vista digam que a Sebastiana<br />
está no seu cerro. E reclamam<br />
porque o poeta se esqueceu de o<br />
nomear.<br />
O logos portenho exibe-se através<br />
de uma arquitectura contorcionista,<br />
com casas velhas desequilibradas,<br />
imbricadas umas nas<br />
outras, amparando-se mutuamente,<br />
nos bairros antigos, dentro<br />
de labirintos de becos sujos<br />
em terra batida, alguns tão estreitos<br />
como o caminho de uma<br />
mina subterrânea. Becos em<br />
ziguezague, com escadas e escadinhas<br />
deformadas, com os<br />
degraus a diferente altura que, de<br />
vez em quando, terminam numa<br />
parede cega ou em casas malignas,<br />
criando uma atmosfera de<br />
pesadelo, de medo, ao ter que<br />
percorrê-los de noite ou quando<br />
as sombras começam a cobrir o<br />
mundo. Becos propensos a<br />
encontros fortuitos, devidos à<br />
ocorrência de circunstâncias ou<br />
da cumplicidade inverosímil<br />
entre fenómenos opostos. Em<br />
total contradição com a ilumina-<br />
O LOGOS PORTENHO<br />
EXIBE-SE ATRAVÉS<br />
DE UMA ARQUITECTURA<br />
CONTORCIONISTA,<br />
COM CASAS VELHAS<br />
DESEQUILIBRADAS,<br />
IMBRICADAS UMAS<br />
NAS OUTRAS,<br />
AMPARANDO-SE<br />
MUTUAMENTE,<br />
NOS BAIRROS ANTIGOS,<br />
DENTRO DE LABIRINTOS<br />
DE BECOS SUJOS<br />
EM TERRA BATIDA.<br />
ção dos bares ou dos restaurantes<br />
do vale.<br />
Esta convivência entre a<br />
sombra e a luz constitui, em<br />
grande parte, o logos da Valparaíso<br />
oitocentista que ressuscitou no<br />
século XXI, transmitido pelas<br />
gerações anteriores no século<br />
XX, e que devemos transmitir às<br />
gerações do século XXI. O seu<br />
logos sempre foi e é aventureiro,<br />
perigoso e fascinante porque não<br />
cessa de atrair com os seus<br />
encantos e abismos. Valparaíso<br />
não liberta os que cativou, como<br />
sucede com o jovem poeta norte-<br />
-americano Todd Temkins e com<br />
o pintor francês Thierry Defert,<br />
Loro Coirón. Entretanto, Ennio<br />
Moltedo e Allan Browne mantinham<br />
erguida a bandeira dos<br />
portenhistas.<br />
O arquitecto Carlos Alberto<br />
Cruz sustenta que, «entre 1850 e<br />
1920, Valparaíso possui o conjunto<br />
mais homogéneo de arqui-<br />
tectura do século XIX que se<br />
conserva na América, o que, porventura,<br />
lhe granjeará, num futuro<br />
próximo, o estatuto de cidade-museu<br />
viva, tal como Quito,<br />
Veneza e Edimburgo» (El Mercurio,<br />
20.11.1994).<br />
Os cerros e o raio verde: ao<br />
caminhar pelos becos ou pelas<br />
escadas dos cerros, no segundo<br />
crepúsculo que anuncia a noite,<br />
sempre sopra algo misterioso,<br />
ambíguo, tão indefinível como o<br />
próprio nome da cidade que não<br />
admite o seu gentílico correspondente<br />
(a não ser que aceitemos<br />
«valparaisino», proposto,<br />
em italiano, pelo professor Mauricio<br />
Nocera), já que portenho se<br />
refere ao porto; mas o que a define<br />
são os cerros e a sua sismografia,<br />
áreas encantadas da imaginação<br />
e a partir dos quais se<br />
pode ver correr o azul-lavanda da<br />
atmosfera cristalina ou o raio<br />
verde. Fulgor infinito, o último a<br />
aparecer sobre o mar antes que o<br />
Sol se esconda nos crepúsculos<br />
claros do fim de tarde, ao cair da<br />
noite, e que eu pensava que só<br />
existia como metáfora num<br />
verso de Pablo Neruda, até que o<br />
vi afundar-se no horizonte límpido,<br />
acompanhado de Nenita e<br />
Rodolfo Pumpin, como testemunhas.<br />
Todos os cerros e não apenas<br />
os da fundação, isto é, Cordillera,<br />
Alegre e Concepción, têm casas<br />
solarengas com estruturas e<br />
andares de madeiras nobres –<br />
tepa, carvalho americano, pinho<br />
«oregón», lariço das Guaitecas<br />
– guardadas por portas com<br />
maçanetas de bronze em forma<br />
de punho ou de cabeça de leão e<br />
as janelas de guilhotina que emitem<br />
sons e ruídos característicos<br />
ao abrir ou fechar.<br />
As divisões da casa apresentam<br />
geralmente rodapés de madeira,<br />
às vezes de pau duro de Caiena,
CIDADES INVISÍVEIS 32<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
A ÂNSIA DE MAR,<br />
DE LIBERDADE<br />
E AVENTURA FOI O QUE<br />
CONTRIBUIU PARA QUE<br />
AS GERAÇÕES PASSADAS<br />
NOS LEGASSEM<br />
ESTE VALPARAÍSO<br />
DO SÉCULO XIX,<br />
A NÓS,<br />
GENTE DO SÉCULO XX,<br />
QUE TEMOS<br />
COMO MISSÃO<br />
DEIXÁ-LO, COMO<br />
HERANÇA CULTURAL,<br />
ÀS GERAÇÕES<br />
DO SÉCULO XXI,<br />
33<br />
trazido das Guianas e que, passado<br />
um século, ainda exalam uma<br />
suave fragrância vegetal. Os escritórios,<br />
as salas de jantar e os<br />
quartos de dormir possuem formosas<br />
lareiras construídas por<br />
operários ingleses, trazidos especialmente<br />
de Londres. Os móveis<br />
eram da famosa oficina Cruz<br />
Montt, de Santiago.<br />
O Palácio Baburizza e as casas<br />
Astoreca e Antoncit tinham as<br />
suas respectivas salas de música.<br />
Nas casas antigas, os jardins<br />
são pequenos: copihues 1 , alfazema,<br />
filodendros paraguaios, aspidistras,<br />
etc. Com sebes de trepadeiras<br />
e canteiros cobertos de<br />
aromáticos jasmins e, nos maiores<br />
das casas solarengas, podem<br />
encontrar-se palmeiras, palmas<br />
chilenas, araucárias e camélias.<br />
Manuel Rojas, no seu romance<br />
Lanchas en la Bahía, não<br />
deixou de se fixar no gosto portenho<br />
pelos jardins e pelas árvores,<br />
o que também é visível nas<br />
casas mais modestas: «Alguns<br />
ranchos pendiam dos muros dos<br />
cerros, ostentando vasos de<br />
barro com cravos, malvas, cardenales<br />
e achiras.»<br />
Sendo muito importante o<br />
património material – arquitectónico,<br />
urbanístico e doméstico,<br />
com uma vida vivida nas casas e<br />
nos becos –, não é menos importante<br />
o património espiritual,<br />
ético que aqui se construiu: a<br />
emigração multiétnica e de diferentes<br />
continentes produziu a<br />
virtude da tolerância, típica do<br />
ser portenho, que sabe que detém<br />
uma parte da verdade, mas não<br />
toda a verdade; no próprio cerro<br />
Concepción, a um quarteirão de<br />
distância, encontram-se a Igreja<br />
Luterana, alemã, e a Igreja Anglicana<br />
de São Paulo, inglesa. Perto<br />
delas está a Igreja de São Luís,<br />
católica, nas imediações da qual<br />
os mormones construíram, recentemente,<br />
a sua igreja.<br />
Os antigos comerciantes e<br />
industriais eram, por sua vez,<br />
homens de cultura e, em alguns<br />
casos, refinada; Don Joaquín<br />
Edwards Bello sustenta que «a<br />
cortesia e a boa educação de<br />
Valparaíso têm uma parte do<br />
cunho inglês».<br />
Este espírito de tolerância,<br />
de cavalheirismo nas maneiras e<br />
certo bom gosto é a base da
ausência de fanatismo que envolve<br />
a cidade e que encontramos<br />
reflectida nos resultados de morte,<br />
na sequência do golpe de 11 de<br />
Setembro, em comparação com<br />
o massacre que se verificou em<br />
Santiago e nas zonas agrárias.<br />
Encontramos também esta<br />
ausência de fanatismos num dos<br />
seus locais mais belos, o cemitério<br />
n.º 2. Aí, onde se manteve até<br />
hoje, D. Vicente Martínez de<br />
Morentín, falecido a 29 de Agosto<br />
de 1914, mandou inscrever no<br />
seu jazigo de mármore: «Quarto<br />
do dono da casa.» No mesmo<br />
cerro La Cárcel, encontra-se o primeiro<br />
cemitério de dissidentes<br />
do Chile.<br />
Este espírito de tolerância e<br />
esta ausência de fanatismo parecem<br />
encontrar uma das suas raízes<br />
na ânsia de mar e de vastidão<br />
que sempre esteve presente na<br />
cultura portenha. O romancista Salvador<br />
Reyes escreveu em Los Tripulantes<br />
de la Noche: «Nas tardes mais<br />
luminosas, o porto era um grande<br />
barco. Cortava as amarras e<br />
lançava-se empurrado pelo vento<br />
das grandes aventuras»; e Carlos<br />
León, em Hombre del Traje Blanco,<br />
também investigou sobre o seu<br />
sentido metafísico e a sua abertura<br />
ao mundo: «Valparaíso é uma<br />
terra diferente. Sobe à cabeça<br />
como un vinho generoso»; e, em<br />
Hombres de Palabras, transforma-o<br />
num amigo: «o porto de Valparaíso<br />
que escolhi para viver<br />
como a um amigo».<br />
A ânsia de mar levou «aquele<br />
chileno» à tripulação do capitão<br />
Acab em Moby Dick, de Herman<br />
Melville, ou «àquele portenho»<br />
que D. Benjamín Subercaseux<br />
encontrou nas ruas de Tóquio<br />
conduzindo um riquexó,<br />
segundo conta num velho Pacífico<br />
Magazine.<br />
A ânsia de mar, de liberdade<br />
e aventura é que contribuiu para<br />
que as gerações passadas nos<br />
legassem esta Valparaíso do século<br />
XIX, a nós, gente do século<br />
XX, que temos como missão<br />
deixá-la, como herança cultural,<br />
às gerações do século XXI, libertando-a<br />
da especulação idílica e<br />
fazendo suas as aquisições provadas<br />
pela história e pela estética.<br />
Sara Vial, no seu imprescindível<br />
Neruda en Valparaíso, recorda a<br />
advertência feita pelo poeta nesta<br />
mesma sala, quando eu era alcaide<br />
desta cidade: «Todos os dias,<br />
vemos que voa um edifício e que<br />
dá lugar a um caixote de cimento.<br />
Não sou inimigo dos caixotes<br />
de cimento, mas há que saber<br />
onde construí-los, uma vez que,<br />
depois, virão as queixas e as<br />
lamentações.»<br />
O orador oceânico Augusto<br />
D´Halmar, o eterno viajeiro pela<br />
passagem Elias, afirma que «o<br />
seu nome sugere distância, exotismo,<br />
aventura. O seu nome, só<br />
por si, infiltra já nas veias dos<br />
sedentários ou dos inquietos o<br />
feitiço da viagem»; ainda mais<br />
agora que é património cultural<br />
da Humanidade. «Vamos a Valparaíso»,<br />
venha a Valparaíso e invente<br />
a sua própria Valparaíso.<br />
1 Planta trepadeira que dá uma flor vermelha, muito formosa,<br />
por vezes de cor branca. (N. da T.)
CIDADES INVISÍVEIS 34 35<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007
Arquivo Histórico<br />
Ultramarino<br />
Caio Boschi<br />
BIBLIOTECA DE BABEL 36<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
São livros (em grande parte encadernados<br />
em pergaminho e em carneira); são incontáveis<br />
papéis manuscritos, de diversa tipologia (como cartas,<br />
requerimentos, alvarás, ofícios, decretos, provisões);<br />
são plantas de diferentes núcleos urbanos<br />
e populacionais; são desenhos representativos,<br />
37<br />
por exemplo, da fauna e da flora ultramarinas;<br />
são fotografias de missões científicas, viagens...<br />
eis o que se pode encontrar no Arquivo Histórico<br />
Ultramarino se nos aventurarmos pelos quinze<br />
quilómetros de documentação que aí se guardam.<br />
Salão Pompeia, sala nobre do Palácio da Ega. Fotografia do Arquivo Histórico Ultramarino
BIBLIOTECA DE BABEL 38<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Ao lançar-se à aventura marítima que o glorificaria,<br />
Portugal já se apresentava como país que,<br />
desde sempre, cuidou de preservar testemunhos<br />
escritos sobre sua trajetória histórica. No momento<br />
inaugural dos Descobrimentos, uma torre<br />
albarrã do castelo de São Jorge passou a abrigar o<br />
Livro do Tombo. Em simultâneo, criou-se o cargo de<br />
guarda-mor da Torre do Tombo, cujo primeiro<br />
titular, recordemo-nos, foi, cumulativamente, o<br />
cronista do Reino, ninguém menos do que Fernão<br />
Lopes.<br />
A saga das navegações e<br />
das conquistas, mais do que,<br />
obviamente, fazer crescer a<br />
dimensão e o volume da<br />
massa documental, diversificou<br />
a sua tipologia e a sua<br />
natureza. Quando nada porque<br />
a Expansão exigia e trouxe<br />
consigo os relatos que lhe<br />
eram inerentes e o estabelecimento<br />
de novos órgãos administrativos.<br />
Os documentos produzidos<br />
e recebidos pelas autoridades<br />
e repartições, metropolitanas<br />
e ultramarinas, foram<br />
tendo a Torre do Tombo como<br />
seu desaguadouro e depósito<br />
naturais. O Império se<br />
ampliou, se complexificou. E<br />
teve vida longa! Proliferaram-se<br />
as fontes históricas a<br />
ele relacionadas.<br />
Há tempos, o Tombo deixou<br />
de ser o celeiro que alimenta<br />
e faz as delícias dos<br />
estudiosos da História do<br />
vasto império colonial português.<br />
Ainda que não exclusivo,<br />
o locus privilegiado para tais incursões é o<br />
Arquivo Histórico Ultramarino, o AHU, como se apresenta<br />
nos rodapés bibliográficos, ou o Ultramarino,<br />
como ficou cunhado no jargão de seus freqüentadores.<br />
Sucessor do Arquivo Histórico Colonial, o<br />
Ultramarino tem sede, desde 1929, no antigo Palácio<br />
da Ega, à Junqueira, isto é, nas cercanias de Belém<br />
e do Restelo, inserção espacial que bem condiz<br />
com a evocação da epopéia expansionista lusitana.<br />
A massa documental que lhe deu origem perten-<br />
39<br />
A saga das navegações<br />
e das conquistas,<br />
mais do que,<br />
obviamente,<br />
fazer crescer<br />
a dimensão e o volume<br />
da massa documental,<br />
diversificou<br />
a sua tipologia<br />
e a sua natureza.<br />
cia ao Ministério das Colónias e, na altura, estava<br />
custodiada no Arsenal da Marinha e na Cordoaria<br />
Nacional. A ela se aduziu, naquela circunstância, o<br />
Archivo da Marinha e Ultramar ou Secção Ultramarina da<br />
Biblioteca Nacional de Lisboa. O objetivo da nova<br />
instituição era inequívoco: congregar, em um só<br />
local, a dispersa documentação respeitante às possessões<br />
portuguesas do Ultramar; organizá-la e<br />
tratá-la tecnicamente, para, de seguida, oferecê-la<br />
à consulta.<br />
O advento do Ultramarino, formalmente<br />
institucionalizado, em<br />
1931, pelo Decreto-Lei n.°19.869,<br />
se explica muito bem à luz da<br />
política estadonovista para as possessões<br />
ultramarinas portuguesas.<br />
Ou seja, a criação do novo órgão,<br />
para além de propugnar inerentemente<br />
pela centralização dos fundos<br />
arquivísticos relativos àqueles<br />
territórios, tinha claro propósito<br />
prático-político, porquanto passava<br />
a permitir às autoridades de<br />
então acesso mais rápido e eficaz<br />
a documentos que lhes facultassem<br />
melhor e mais vertical compreensão<br />
de realidades históricas<br />
nas quais a seiva colonialista lusitana<br />
ainda se mantinha forte e<br />
ativa.<br />
Apesar de as aparências equivocadamente<br />
nos levarem a assim<br />
considerá-lo, o acervo do Ultramarino<br />
não se esgota ou não se<br />
limita a documentos relativos às<br />
ex-colônias portuguesas. O correto<br />
seria dizer que se trata de fontes<br />
respeitantes a lugares e a coletividades<br />
nos quais os portugueses<br />
se fizeram presentes e com as<br />
quais (man)tiveram relações da mais variada natureza.<br />
Assim, nas amplas e agradáveis instalações do<br />
número 30 da Calçada da Boa Hora nos deparamos<br />
com as alentadas e variegadas espécies documentais.<br />
São livros (em grande parte encadernados<br />
em pergaminho e em carneira); são incontáveis<br />
papéis manuscritos, de diversa tipologia<br />
(como cartas, requerimentos, alvarás, ofícios,<br />
decretos, provisões); são plantas de diferentes<br />
núcleos urbanos e populacionais; são desenhos<br />
representativos, por exemplo, da fauna e da flora
ultramarinas; são fotografias de missões científicas,<br />
viagens oficiais e que documentam a vida nos<br />
espaços africanos e asiáticos de língua portuguesa,<br />
eis o que encontramos quando nos aventuramos<br />
nessa Babel de fundos ultramarinos que é o<br />
Arquivo Histórico Ultramarino. Enfim, um considerável<br />
repertório de fontes históricas sobre o<br />
passado colonial do Brasil (1548-1825), Timor<br />
(1642-1975), Macau (1603-1975), Índia (1509-<br />
-1960), Cabo Verde (1602-1975), Guiné-Bissau<br />
(1614-1975), São Tomé e<br />
Príncipe (1538-1975), Angola<br />
(1610-1975) e Moçambique<br />
(1608-1975). Lá também nos deleitamos<br />
com documentos sobre<br />
o Norte Africano (1596-1832),<br />
sobre a Serra Leoa, sobre as rela-<br />
ções luso-persas (entre 1589 e<br />
1798), sobre o Japão (em particular,<br />
sobre a missionação e a<br />
presença religiosa dos portugueses,<br />
séculos XVI-XVII), sobre<br />
a região platina (entre os séculos<br />
XVII e XIX) e sobre as ilhas<br />
da Madeira (1513-1834) e dos<br />
Açores (1607-1834).<br />
Totalizando 15 quilómetros<br />
de documentação textual, cartográfica<br />
e iconográfica, à qual se<br />
junta uma biblioteca com cerca<br />
de 14.000 títulos de livros e<br />
680 de periódicos, o acervo do<br />
AHU se estrutura hoje, grosso<br />
modo, em três grandes conjuntos<br />
(ou fundos) documentais: o do<br />
Conselho Ultramarino (século XVI a<br />
1833), o da Secretaria de Estado<br />
dos Negócios da Marinha e<br />
Domínios Ultramarinos, dita<br />
Secretaria de Estado da Marinha e<br />
Ultramar (1833 a 1910), e o do Ministério do Ultramar<br />
(1911 a 1975), sem esquecer de fundos menores<br />
e singulares, como os do Instituto de Apoio ao<br />
Retorno de Nacionais, da Agência Geral das<br />
Colónias, do Banco Nacional Ultramarino e da<br />
Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos.<br />
Com tudo isso, ou melhor, a despeito da<br />
intenção original, o que se constata, tal como<br />
ocorre em quase todas as instituições do gênero, é<br />
que o acervo do Ultramarino não tem sentido de<br />
completitude, seja pelas idas-e-vindas da docu-<br />
Ao simbolizar<br />
a Babel<br />
dos fundos<br />
arquivísticos de povos<br />
e de cultura<br />
ibero-americanos,<br />
o Ultramarino se aninha,<br />
oportuna<br />
e adequadamente,<br />
à <strong>Atlântica</strong>.<br />
mentação como, por exemplo, as mudanças das<br />
instalações físicas e o trânsito de partes dos fundos<br />
ocorridos no início do Dezenove, aquando da<br />
transferência da sede da Monarquia para o Rio de<br />
Janeiro, ou as trajectórias diversas dos arquivos<br />
após a extinção dos organismos de Antigo<br />
Regime, como o Conselho Ultramarino, ou do<br />
Estado Novo, após o 25 de Abril de 1974, caso do<br />
Ministério do Ultramar, seja porque documentos<br />
concernentes à administração colonial, por distintas<br />
razões, permaneceram ou<br />
foram incorporados aos fundos<br />
arquivísticos de outros órgãos,<br />
como no caso dos que se quedaram<br />
ou afluíram para a Torre<br />
do Tombo, para a Biblioteca do<br />
Palácio Nacional da Ajuda, para<br />
a Divisão de Manuscritos da<br />
Biblioteca Nacional de Lisboa<br />
ou para o Arquivo Histórico do<br />
Tribunal de Contas, seja, ainda,<br />
pela ação de impróprias condições<br />
de aclimatização no armazenamento<br />
ou pelo deletério manuseio<br />
e consulta, posto que<br />
estes nem sempre são realizados<br />
por consulentes conscienciosos.<br />
A riqueza documental do<br />
AHU, a pouco e pouco, vem<br />
sendo divulgada em meio a sistemática<br />
política de acessibilidade<br />
ao acervo. Sem desdouro<br />
pelos ingentes esforços e resultados<br />
que se expressaram em<br />
outros tempos, enfatizem-se<br />
algumas iniciativas levadas a<br />
cabo nas últimas duas décadas.<br />
Assim, enquanto do ponto de<br />
vista do espaço físico e da infra-<br />
-estrutura um moderno e apropriado<br />
edifício se construiu e se acoplou ao prédio<br />
histórico do AHU, novos e sofisticados<br />
equipamentos foram incorporados, e importantes<br />
empreendimentos se desenvolvem no que<br />
respeita à democratização de acesso aos fundos<br />
documentais.<br />
Exemplo ilustrativo dessa segunda diretriz é<br />
a que se configurou no âmbito do Projeto Resgate,<br />
implementado a partir de 1996, como expressão<br />
operacional da Comissão Luso-Brasileira<br />
para Salvaguarda e Divulgação do Património
BIBLIOTECA DE BABEL 40<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Plantas do Brasil, Jacaranda Caroba, c. 1801.<br />
Ilustração do Arquivo Histórico Ultramarino<br />
Documental – COLUSO. Trata-se de gigantesca<br />
operação que objectivou, no que respeita à documentação<br />
manuscrita avulsa sobre o Brasil depositada<br />
no AHU, conferir-lhe tratamento técnico e, a<br />
partir dele, elaborar instrumentos de busca e disponibilizar<br />
mais facilitadamente aquela documentação<br />
à consulta pública. Este propósito efectivamente<br />
se cumpriu com a correspondente microfilmagem.<br />
Significa dizer, então, que o conteúdo<br />
de mais de duas mil caixas de documentos foi organizado,<br />
lido, sumariado e catalogado, permitindo<br />
que os verbetes-sumários servissem de sinaléticas<br />
para os cerca de três milhões de fotogramas dos<br />
microfilmes. Ainda como parte do Projeto, microfilmaram-se<br />
os 759 Códices do Fundo da Secretaria<br />
do Conselho Ultramarino relativos ao Brasil. O<br />
producto mais patente e utilitário desses esforços,<br />
afora evidentemente a reprodução microfílmica, é<br />
uma colecção de 279 CD-ROM que, produzidos<br />
entre 1996 e 2002, foram ofertados a instituições<br />
universitárias e centros de investigação.<br />
41<br />
Ademais, cumpre salientar um efeito colateral<br />
desta iniciativa: o desejável intuito de estender as<br />
actividades do Resgate à documentação concernente<br />
às outras partes do império colonial português<br />
que se encontra igualmente armazenada no AHU.<br />
Ou mesmo de se efetuar a identificação definitiva<br />
e o tratamento arquivístico do Reino, núcleo composto<br />
por 500 caixas de documentos avulsos e cuja<br />
organicidade só agora começa a ser detectada e<br />
identificada criticamente.<br />
Com tais actividades e utilizando-se alargadamente<br />
os avanços tecnológicos, mais do que<br />
nunca vai sendo possível investigar e analisar, com<br />
maior segurança, o real sentido e significado do<br />
império ultramarino português. É nesse horizonte,<br />
pois, que conhecer a potencialidade informativa<br />
do acervo do AHU se apresenta como necessidade<br />
ímpar para, por exemplo, alcançarmos maior<br />
discernimento nem tanto sobre as afinidades existentes<br />
entre os lusofalantes, mas, sobretudo, das<br />
diferenças que nos singularizam.<br />
É flagrante o dinamismo no cotidiano do<br />
Ultramarino. Por conseguinte, tecer loas à qualidade<br />
do seu recheio documental implica conhecer as<br />
condições de acessibilidade ao mesmo. Nesse sentido<br />
e para finalizar, há que se referir a iniciativas,<br />
em grande parte já materializadas, concernentes<br />
quer ao tratamento técnico e à acomodação física<br />
do acervo, quer à informatização do acervo, quer,<br />
ainda, à produção e veiculação de instrumentos de<br />
pesquisa. Em outras palavras, abrem-se portas e<br />
janelas para que, quando nada, se possa desmonumentalizar<br />
a documentação ali recolhida. Ao simbolizar<br />
a Babel dos fundos arquivísticos de povos e de<br />
cultura ibero-americanos, o Ultramarino se aninha,<br />
oportuna e adequadamente, à <strong>Atlântica</strong>.<br />
Figurinos militares da Baía, 1806. Ilustração do Arquivo Histórico Ultramarino
SANTOS DA CASA 42 43<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
O diabo e as virgens<br />
texto e fotografias Julio Pantoja<br />
As celebrações oscilam entre sinceras promessas à Virgem<br />
e oferendas ao Diabo e a Pachamama;<br />
entre passeios familiares e o álcool ou o sexo urgente<br />
com alguma mascarinha. Coisas de santos da casa.
SANTOS DA CASA 44 45<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Em Oruro, tecto do continente<br />
e coração do altiplanalto<br />
boliviano, houve uma vez um<br />
grande centro cerimonial a<br />
quase 4000 metros de altitude.<br />
Ali, os índios urus adoraram,<br />
desde a Pré-história,<br />
Huari, deus da força<br />
e o fogo da montanha.<br />
Com o tempo, a cultura quechua fez<br />
seu esse deus, transformando-o em Zupay,<br />
que mais não é do que a versão indígena<br />
do Diabo da fé católica, o protector dos<br />
socavones, a que os mineiros chamam «El<br />
Tío» e ao qual levam como oferenda<br />
folhas de coca e cigarros para que não se<br />
aborreça, porque, se se aborrecer, provocará<br />
tremores de terra e desabamentos.<br />
Noutra etapa histórica de dualismo<br />
religioso, entre os anos 1700 e 1900, aproximadamente,<br />
a Pachamama andina (Mãe<br />
Terra) transformou-se na Virgem do<br />
Socavón, ampliando o sincretismo e a dinâmica<br />
da fé por intermédio desta mutação<br />
religiosa.<br />
Hoje, o seu templo está exactamente<br />
no lugar onde os bruxos e os feiticeiros<br />
faziam os seus conciliábulos. Ali mesmo,<br />
nessa igreja, também desemboca a galeria<br />
de uma velha jazida que, transformada<br />
num museu mineiro, é presidida pelo<br />
mesmíssimo Diabo. E para esse centro<br />
sagrado se dirigem ainda os que sentem<br />
nos seus espíritos o peso do misticismo<br />
milenário.<br />
Tudo isto foi sempre patrocinado pela<br />
Igreja Católica do colonizador espanhol<br />
que, durante séculos, procurou o modo<br />
de hegemonizar a religiosidade em todo o<br />
continente, ainda que à custa de esvanecer<br />
os seus contornos tradicionais.<br />
Os sacerdotes construíram os seus<br />
templos nos antigos lugares sagrados,<br />
para que os indígenas entrem nesses<br />
recintos, agora católicos, para cantarem e<br />
dançarem à sua maneira. Não lhes importava.<br />
O objectivo era transculturizar os<br />
que resistiam a crer na fé trazida de outro<br />
continente.<br />
As datas das celebrações, que a princípio<br />
tinham a ver com a estação das<br />
chuvas, foram-se ajustando a pouco e<br />
pouco aos feriados autorizados pelos<br />
padres e patrões, até ficarem definitivamente<br />
integradas no Carnaval do calendário<br />
oficial.<br />
Actualmente, tão curiosa mistura<br />
permite que, em cada ano, mais de<br />
40.000 peregrinos, na sua maioria disfarçados<br />
de diabos, e encabeçados pelo bispo<br />
da cidade, desfilem dançando ao longo de<br />
vários quilómetros, enquanto adoram ao<br />
mesmo tempo a Virgem católica e o<br />
Diabo.<br />
Dentro desse paradoxo, as celebrações<br />
oscilam entre sinceras promessas à Virgem<br />
e oferendas ao Diabo e a Pachamama,<br />
entre passeios familiares e o álcool ou o<br />
sexo urgente com alguma mascarinha.<br />
Coisas de virgens e diabinhos.
SANTOS DA CASA 46 47<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007
SANTOS DA CASA 48 49<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007
SANTOS DA CASA 50 51<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007
A INVENÇÃO DA AMÉRICA 52<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
52<br />
Tal como Waldseemüller se precipitou ao<br />
baptizar o Novo Mundo de América,<br />
também Colombo cometeu o erro fatal de<br />
designar os seus habitantes como índios.<br />
Pior que o termo foi o conceito que foi<br />
dando corpo a uma acesa polémica,<br />
representada por Bartolomeu de las<br />
Casas e Juan Ginés de Sepúlveda, que<br />
duraria séculos e que, ainda hoje, segun-<br />
do o sociólogo Boaventura de Sousa<br />
Santos, alimenta preconceitos culturais<br />
subjacentes ao sistema capitalista.<br />
A generalização do termo índio a toda a<br />
América mistificou o retrato de um con-
tinente que apresentava, no alvor da<br />
modernidade europeia, uma óbvia com-<br />
plexidade cultural. Do México ao Peru,<br />
das ilhas caribenhas ao litoral brasileiro<br />
e ao rio da Prata, o panorama era muito<br />
diverso – de sociedades fortemente hie-<br />
rarquizadas a comunidades seminóma-<br />
das e recolectoras. Fiquemos, por ora,<br />
pelo Brasil, acompanhando Jorge Couto<br />
e Vítor Serrão. O primeiro apresenta-nos<br />
as comunidades pré-cabralinas, e o<br />
segundo, a representação do índio na<br />
pintura portuguesa de Quinhentos.<br />
Organização de Maria da Graça M. Ventura
A INVENÇÃO DA AMÉRICA<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
54 55<br />
O selvagem<br />
Boaventura de Sousa Santos<br />
É, ainda, o paradigma fundado na violência civilizadora<br />
do Ocidente que mobiliza subterraneamente os projectos<br />
de desenvolvimento, depois enfeitados com declarações<br />
de solidariedade e direitos humanos, escreve Boaventura<br />
de Sousa Santos no terceiro volume da Gramática<br />
do Tempo.Aqui fica um excerto dessa obra fundamental<br />
que visa fundar uma nova cultura política<br />
e um novo senso comum.<br />
Índio tupi. Albert Eckout, 1641. Copenhaga, National Museum of Denmark
1 Num dos relatos recolhidos<br />
por Ana Barradas, os índios<br />
são descritos como<br />
«(…) verdadeiros seres<br />
inumanos, bestas da floresta<br />
incapazes de compreender<br />
e fé católica (…), esquálidos<br />
selvagens, ferozes e vis,<br />
parecendo-se mais animais<br />
selvagens em tudo menos<br />
na forma humana (…)»<br />
(1992: 34).<br />
2 Rousseau, no seu<br />
«Discurso sobre a Origem<br />
da Desigualdade entre os<br />
Homens», publicado em<br />
1755, defende que o homem<br />
nasce bom e sem vícios<br />
– o bom selvagem –, mas<br />
é pervertido pela sociedade<br />
civilizada (Rousseau, 1971<br />
(1755).<br />
3 Num trabalho anterior,<br />
Frei Bartolomé de Las Casas<br />
denuncia a «destruição<br />
de África» (1996), através<br />
do roubo, comércio de<br />
escravos, etc.<br />
A INVENÇÃO DA AMÉRICA 56<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
57<br />
Se o Oriente é, para o Ocidente, o lugar<br />
de alteridade, o selvagem é o lugar da inferioridade.<br />
O selvagem é a indiferença incapaz<br />
de se constituir em alteridade. Não é o<br />
outro porque não é sequer plenamente<br />
humano 1 .A sua diferença é a medida da sua<br />
inferioridade. Por isso, longe de constituir<br />
uma ameaça civilizacional, é tão-só ameaça<br />
do irracional. O seu valor é o valor da sua<br />
utilidade. Só merece a pena confrontá-lo na<br />
medida em que ele é um recurso ou a via de<br />
acesso a um recurso. A incondicionalidade<br />
dos fins – a acumulação dos metais preciosos,<br />
a expansão da fé – justifica o total pragmatismo<br />
dos meios: escravatura, genocídio,<br />
apropriação, conversão, assimilação.<br />
Os jesuítas, despachados quase ao<br />
mesmo tempo, ao serviço de D. João III,<br />
para o Japão e para o Brasil, foram os primeiros<br />
a testemunhar a diferença entre o<br />
Oriente e o selvagem:<br />
«Entre o Brasil e esse vasto Oriente, a<br />
disparidade era imensa. Lá, povos de requintada<br />
civilização… Aqui florestas virgens e<br />
selvagens nus. Para o aproveitamento da<br />
terra pouco se poderia contar com sua rarefeita<br />
população indígena cuja cultura não<br />
ultrapassava a idade da pedra. Era necessário<br />
povoá-la, estabelecer na terra inculta a verdadeira<br />
«colonização». Não assim no<br />
Oriente, superpovoado, onde a Índia, o<br />
Japão e, sobretudo, a China haviam deslumbrado,<br />
em plena Idade Média, os olhos e a<br />
imaginação de Marco Polo» (Viotti, 1984: 12).<br />
A ideia do selvagem passou por várias<br />
metamorfoses ao longo do milénio. O seu<br />
antecedente conceptual está na teoria da<br />
«escravatura natural» de Aristóteles. Segundo<br />
esta teoria, a natureza criou duas partes,<br />
uma superior, destinada a mandar, e a outra<br />
inferior, destinada a obedecer. Assim, é<br />
natural que o homem livre mande no<br />
escravo, o marido, na mulher, o pai, no<br />
filho. Em qualquer destes casos, quem obedecer<br />
está total ou parcialmente privado da<br />
razão e da vontade e, por isso, é do seu<br />
interesse ser tutelado por quem tem uma e<br />
outra em pleno. No caso do selvagem, esta<br />
dualidade atinge uma expressão extrema,<br />
na medida em que o selvagem não é sequer<br />
plenamente humano: meio animal, meio<br />
homem, monstro, demónio, etc. Esta<br />
matriz conceptual variou ao longo do<br />
milénio e, tal como sucedeu com o Oriente,<br />
foi a economia política e simbólica da<br />
definição do «Nós», de Montaigne a Rousseau,<br />
de Bartolomé de Las Casas ao Padre<br />
António Vieira que esteve na base das visões<br />
positivas do selvagem, o «bom selvagem» 2 .<br />
No segundo milénio, a América e a<br />
África, enquanto «descobertas» ocidentais,<br />
foram o lugar por excelência do selvagem.<br />
E a América, talvez mais do que a África,<br />
dado o modelo de conquista e colonização<br />
no «Novo Mundo», como significativamente<br />
foi designado por Américo Vespúcio,<br />
o continente que rompia com a geografia<br />
do mundo antigo, confinado à Europa,<br />
à Ásia e à África. É a propósito da América<br />
e dos povos indígenas submetidos ao<br />
jugo europeu que se suscita o debate fundador<br />
sobre a concepção do selvagem no<br />
segundo milénio. Este debate que, contrariamente<br />
às aparências, está hoje tão em<br />
aberto como há quinhentos anos, inicia-se<br />
com as descobertas de Cristóvão Colombo<br />
e Pedro Álvares Cabral e atinge o seu clímax<br />
na «Disputa de Valladolid», convocada em<br />
1550 por Carlos V, em que se confrontaram<br />
dois discursos paradigmáticos sobre os<br />
povos indígenas e a sua dominação, protagonizados<br />
por Juan Ginés de Sepúlveda e<br />
Bartolomé de Las Casas. Para Sepúlveda<br />
(1979), fundado em Aristóteles, é justa a<br />
guerra contra os índios porque estes são os<br />
«escravos naturais», seres inferiores, animalescos,<br />
homúnculos, pecadores graves e<br />
invertebrados, que devem ser integrados na<br />
comunidade cristã, pela força, se for caso<br />
disso, a qual, se necessário, pode levar à sua<br />
eliminação. Ditado por uma moral superior,<br />
o amor do próximo pode, assim, sem<br />
qualquer contradição, justificar a destruição<br />
dos povos indígenas: na medida em<br />
que resistem à dominação «natural e justa»<br />
dos seres superiores, os índios tornam-se<br />
culpados da sua própria destruição. É para<br />
seu próprio benefício que são integrados<br />
ou destruídos.<br />
A este paradigma da descoberta imperial,<br />
fundado na violência civilizadora do<br />
Ocidente 3 , contrapôs Las Casas (1992) a sua<br />
luta pela libertação e emancipação dos<br />
povos indígenas das Américas, que conside-
ava seres racionais e livres, dotados de cultura<br />
e instituições próprias, com as quais a<br />
única relação legítima era a do diálogo<br />
construtivo assente em razões persuasivas<br />
«suavemente atractivas e exortativas da vontade».<br />
Fustigando a hipocrisia dos conquistadores,<br />
como mais tarde fará o Padre António<br />
Vieira, Las Casas denuncia a declaração<br />
da inferioridade dos índios como um artifício<br />
para compatibilizar a mais brutal exploração<br />
com o imaculado cumprimento dos<br />
ditames da fé e dos bons costumes. Pese<br />
embora o brilho de Las Casas, foi o paradigma<br />
de Sepúlveda que prevaleceu. Porque só<br />
esse era compatível com as necessidades do<br />
novo sistema mundial capitalista e colonial,<br />
centrado na Europa.<br />
No terreno concreto da missionação,<br />
dominaram quase sempre as ambiguidades<br />
e os compromissos entre os dois paradigmas.<br />
O padre José de Anchieta é talvez um<br />
dos primeiros exemplos. Tendo repugnância<br />
pela antropofagia e pela concupiscência<br />
dos brasis, «gente bestial e carniceira», o<br />
padre Anchieta acha legítimo sujeitar os<br />
gentios ao jugo de Cristo que «assim (…)<br />
serão obrigados a fazer, por força, aquilo a<br />
que não é possível levá-los por amor» 4 ,ao<br />
mesmo tempo que de Roma os seus superiores<br />
lhe recomendam que evite atritos<br />
com os portugueses, «pelo que importa<br />
mantê-los benévolos» 5 . Mas, por outro lado,<br />
tal como Las Casas, Anchieta embrenha-se<br />
no conhecimento dos costumes e das línguas<br />
indígenas e vê nos ataques dos índios<br />
aos portugueses o castigo divino «pelas<br />
muitas sem-razões que têm feito a esta<br />
nação, que dantes eram nossos inimigos,<br />
salteando-os, cativando-os, e matando-os,<br />
muitas vezes com muitas mentiras e enganos»<br />
6 . Quase vinte anos depois, haveria<br />
Anchieta de se lamentar que «a maior parte<br />
dos índios, naturais do Brasil, está consumida,<br />
e alguns poucos, que se hão conservado<br />
com a diligência e trabalhos da Companhia,<br />
são tão oprimidos que em pouco<br />
tempo se gastarão 7 .<br />
Com matizes vários, é o paradigma de<br />
Sepúlveda que ainda hoje prevalece na<br />
posição ocidental sobre os povos ameríndios<br />
e os povos africanos. Apesar de<br />
expulsa das declarações universais e dos<br />
discursos oficiais, é, contudo, a posição<br />
que domina as conversas privadas dos<br />
agentes do Ocidente no Terceiro Mundo,<br />
sejam eles embaixadores, funcionários da<br />
ONU, do Banco Mundial ou do Fundo<br />
Monetário Internacional, cooperantes,<br />
empresários, etc. É esse discurso privado<br />
sobre pretos e índios que mobiliza subterraneamente<br />
os projectos de desenvolvimento,<br />
depois enfeitados publicamente<br />
com declarações de solidariedade e direitos<br />
humanos.<br />
Maximiliano de Wied-Neuwied, «Caçador surpreendendo araras no Rio Grande de Belmonte» (Outubro de 1816).<br />
Aguarela e pena. Colecção Robert Bosch, Stuttgart<br />
4 Carta de 1.10.1554,<br />
em Obras Completas,<br />
volume 6: 79.<br />
5 Carta do general Everardo<br />
para o padre José Anchieta,<br />
de 19 de Agosto de 1579.<br />
Em Obras Completas,<br />
volume 6: 299.<br />
6 Carta de 8 de Janeiro de 1565,<br />
em Obras Completas,<br />
volume 6: 210.<br />
7 Carta a 7 de Agosto de 1583,<br />
em Obras Completas,<br />
volume 6: 338.<br />
SANTOS, Boaventura de Sousa.<br />
A Gramática do Tempo –<br />
para uma nova cultura política<br />
– Para um novo senso<br />
comum. A ciência, o direito e<br />
a política na transição paradigmática.<br />
Porto: Edições<br />
Afrontamento, 2006, volume<br />
4, cap. 5, pp. 173-175.
As sociedades ameríndias<br />
da floresta tropical<br />
Jorge Couto<br />
A INVENÇÃO DA AMÉRICA 58 59<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
«Mappa do Continente da Colonia do Sacramento, Rº. Grande de S. Pedro the a Ilha de S. Catharina com a Linha divizoria da Arraya ajustada pelo<br />
Tratado de Limites Celebrado entre as Corôas de Portugal e Castela em o anno de MDCCL», posterior a 1750. Biblioteca Pública Municipal do Porto
1 Cf. Aryon Dall’Igna<br />
RODRIGUES, Línguas<br />
Brasileiras. Para<br />
o conhecimento das<br />
línguas indígenas,<br />
São Paulo, 1987, pp. 41-98.<br />
2 Cf. Alfred MÉTRAUX,<br />
La Civilisation<br />
Matérielle des Tribus<br />
Tupi-Guarani, Paris, 1928,<br />
p. 312.<br />
3 Cf. Aryon Dall’Igna<br />
RODRIGUES, «A Classificação<br />
do Tronco Linguístico Tupi»,<br />
in <strong>Revista</strong> de<br />
Antropologia (São Paulo),<br />
12 (1964), pp. 103-104.<br />
4 Donald W. LATHRAP,<br />
O Alto Amazonas, trad.<br />
port., Verbo, Lisboa, 1975,<br />
pp. 81-84.<br />
A INVENÇÃO DA AMÉRICA 60<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
61<br />
Ao longo do milenar processo de<br />
povoamento do território que viria a<br />
denominar-se Brasil, verificou-se uma<br />
progressiva diferenciação linguística e<br />
civilizacional entre os descendentes dos<br />
primitivos povoadores. Por volta de 5000<br />
anos A.P. (Antes do Presente), registou-se<br />
um acentuado crescimento demográfico e<br />
ocorreram diversos movimentos migratórios<br />
que estiveram na origem do aparecimento<br />
de grupos populacionais crescentemente<br />
individualizados.<br />
Os ameríndios, que se fixaram no<br />
espaço brasílico e nas imediações das suas<br />
actuais fronteiras, são agrupados, de acordo<br />
com critérios linguísticos, do seguinte<br />
modo: troncos (Macro-Tupi e Macro-Jê);<br />
grandes famílias (Caribe, Aruaque e<br />
Arauá); famílias menores situadas a norte<br />
do Amazonas (Tucano, Macú e Ianomámi)<br />
e famílias menores estabelecidas a sul do<br />
mesmo rio (Guaicurú, Nambiquára,Txapacúra,<br />
Páno, Múra e Catuquína), bem como<br />
grupos isolados (Aricapú, Auaquê, Irántche,<br />
Jabutí, Canoê, Coiá,Trumai e outras) 1 .<br />
O tronco Macro-Tupi é constituído<br />
por sete famílias (Tupi-Guarani, Mundurucu,<br />
Juruna, Ariquém, Tupari, Ramarama<br />
e Mondé) que se dividem em vários grupos<br />
(línguas) e subgrupos (dialectos).<br />
Refira-se, a título exemplificativo, que o<br />
subgrupo Guajajara pertence ao grupo<br />
Teneteára, integrado, por sua vez, na família<br />
Tupi-Guarani, um dos sete ramos do<br />
Macro-Tupi.<br />
Desde o século XIX têm sido desenvolvidas<br />
diversas tentativas, iniciadas por<br />
Carlos Frederico von Martius (Leipzig,<br />
1867), para determinar o centro de dispersão<br />
da família Tupi-Guarani. Segundo<br />
Alfred Métraux, esse local situava-se na<br />
região limitada a norte pelo Amazonas, a<br />
sul pelo rio Paraguai, a este pelo rio Tocantins<br />
e a oeste pelo rio Madeira 2 . Por seu<br />
turno,Aryon Dall’Igna Rodrigues, baseado<br />
em elementos linguísticos e no método da<br />
glotocronologia, aponta a zona do rio<br />
Guaporé (alto Madeira) como centro de<br />
difusão dos falantes do tronco Macro-Tupi<br />
há 5000 anos A.P., sugerindo que a separação<br />
da família Tupi-Guarani ocorreu ao<br />
redor de 2500 anos A.P. 3 .<br />
Apoiados na análise comparativa das<br />
características da cerâmica amazónica e<br />
tupi-guarani e em estudos de natureza linguística,<br />
diversos antropólogos e arqueólogos<br />
(Evans, Meggers, Lathrap) defendem<br />
que o centro de diferenciação do tronco<br />
Macro-Tupi deve ser procurado na Amazónia.<br />
O último autor considera acertado<br />
localizar «a zona de origem da comunidade<br />
de idiomas prototupi-guarani na margem<br />
sul do Amazonas, um pouco abaixo da<br />
confluência do rio Madeira» (há cerca de<br />
5000 anos A.P.), apontando a foz do Amazonas<br />
como área de dispersão, ao redor de<br />
2500 anos A.P., dos falantes da «protolíngua<br />
tupi-guarani propriamente dita» 4 .<br />
Uma tese datada de 1982 e baseada<br />
nos métodos da glotocronologia sugere<br />
que o tronco Macro-Tupi teve a sua origem,<br />
por volta de 5000 anos A.P, na região<br />
situada entre os rios Jiparaná e Aripuanã,<br />
tributários da margem direita do rio<br />
Madeira, um dos afluentes do baixo Amazonas.<br />
Os recursos alimentares fornecidos<br />
pela borda meridional amazónica – zona<br />
de florestas entrecortadas de cerrados –<br />
terão possibilitado aos grupos de caçadores-recolectores<br />
do tronco Macro-Tupi, no<br />
período compreendido entre 4000 a 2000<br />
anos A.P., um importante acréscimo da<br />
densidade populacional que esteve na origem<br />
de um primeiro movimento de<br />
expansão geográfica e de diferenciação linguística<br />
que os conduziu a leste até ao alto<br />
Xingu, a oeste ao alto Madeira e a sul ao rio<br />
Guaporé, processo de que resultou a formação<br />
das sete famílias deste tronco e, consequentemente,<br />
a individualização dos<br />
Tupi-Guarani. Nesta fase, é altamente provável<br />
que tenham adquirido e desenvolvido<br />
as técnicas da domesticação de plantas,<br />
da fabricação de cerâmica, da confecção da<br />
rede-de-dormir e da navegação fluvial.<br />
Por volta do início da Era Cristã, o<br />
crescimento demográfico e os efeitos de<br />
um persistente surto de seca que afectava,<br />
desde cerca de 3000 anos A.P., a floresta<br />
equatorial amazónica, bem como a generalidade<br />
do território brasílico, provavelmente<br />
obrigaram os Tupi-Guarani a buscar<br />
novos nichos ecológicos que proporcio-
nassem condições de subsistência adequadas<br />
a horticultores da floresta tropical e<br />
ceramistas: zonas de mata situadas na proximidade<br />
de cursos de água navegáveis;<br />
áreas pouco acidentadas, húmidas, pluviosas<br />
e quentes ou, no mínimo, temperadas.<br />
Pelo contrário, as regiões semiáridas, montanhosas<br />
ou frias nunca despertaram o seu<br />
interesse.<br />
As migrações destas populações levaram-nas<br />
a ocupar, sobretudo, a vizinhança<br />
das terras banhadas pelos mais importantes<br />
rios e a progredir para sul, alcançando,<br />
pelo interior, há cerca de 1800 anos, os férteis<br />
vales do Paraguai, Paraná, Uruguai e<br />
Jacuí, bem como dos seus afluentes. A partir<br />
dessa área, irradiaram, posteriormente,<br />
para leste, ocupando paulatinamente a orla<br />
marítima compreendida entre o Rio Grande<br />
do Sul e o Ceará 5 .<br />
Das importantes movimentações empreendidas<br />
pelos Tupi-Guarani no decurso da<br />
presente Era resultou, por volta dos séculos<br />
VIII-IX, a sua separação em dois grupos linguísticos<br />
distintos: o tupi («pai supremo,<br />
tronco da geração») e o guarani («guerra»).<br />
O primeiro abrange as populações que se<br />
instalaram ao longo da maior parte da<br />
região costeira tropical; o segundo engloba<br />
os grupos que estabeleceram o seu habitat<br />
na área subtropical – Mato Grosso do Sul,<br />
região meridional do Brasil, Paraguai, Uruguai<br />
e Nordeste da Argentina – após expulsarem<br />
os seus primitivos ocupantes, povos<br />
exclusivamente caçadores-recolectores précerâmicos,<br />
tecnologicamente inferiores e<br />
criadores de indústrias líticas designadas<br />
por «Tradição Humaitá» 6 .<br />
Os Prototupi apropriaram-se das terras<br />
mais quentes da faixa atlântica, dedicando-<br />
-se à cultura da mandioca amarga, enquanto<br />
os Protoguarani colonizaram as terras temperadas,<br />
especializando-se no cultivo do<br />
milho 7 . O processo de diferenciação dos<br />
Tupiguarani repercutiu-se, também, nas<br />
tradições cerâmicas, tendo os Tupi desenvolvido<br />
a «subtradição pintada», e os Guarani<br />
a «subtradição corrugada».<br />
Uma proposta de reconstrução das<br />
migrações Tupi-Guarani – elaborada a partir<br />
dos resultados de investigações linguísticas,<br />
etnográficas e arqueológicas – adian-<br />
ta que a separação entre os Prototupi e os<br />
Protoguarani se terá verificado, há cerca de<br />
2500 anos A.P., numa área situada entre a<br />
foz do rio Madeira e a ilha de Marajó. Uma<br />
forte pressão demográfica teria impelido<br />
os Protoguarani para sul, através dos cursos<br />
dos rios Madeira e Guaporé, chegando, por<br />
volta do início da presente Era, ao sistema<br />
fluvial Paraná-Paraguai-Uruguai. Os Prototupi,<br />
por seu turno, estabelecidos na bacia<br />
amazónica, ter-se-iam fragmentado em<br />
vários subgrupos que, entre os séculos VI-XI,<br />
ocuparam paulatinamente o litoral até às<br />
proximidades do Trópico de Capricórnio,<br />
onde depararam com os Guarani. Iniciaram,<br />
então, a penetração no planalto meridional,<br />
estabelecendo-se a fronteira entre<br />
os dois grupos linguísticos ao sul do curso<br />
do Tietê 8 .<br />
O modelo explicativo mais recente<br />
sobre a origem e dispersão do tronco<br />
Macro-Tupi – que utiliza o método da<br />
reconstrução desenvolvido na linguística<br />
comparativa para determinar as relações<br />
genéticas entre as línguas e, desse modo,<br />
elaborar as respectivas árvores genealógicas<br />
– defende a hipótese de que este tronco<br />
linguístico teve o seu berço algures na<br />
região delimitada pelos afluentes orientais<br />
do Madeira e as cabeceiras dos rios Tapajós<br />
e Xingu, em áreas de altitudes da ordem<br />
dos 200 a 1000 metros e, em média, acima<br />
dos 500 metros, eventualmente o chapadão<br />
dos Parecis. No período compreendido<br />
entre 5 a 3000 anos A.P., ter-se-á iniciado o<br />
processo de dispersão dessas populações,<br />
numa área localizada aproximadamente<br />
entre as nascentes dos rios Madeira e<br />
Xingu, de que resultou a individualização<br />
das sete famílias do tronco Macro-Tupi,<br />
entre as quais assumiu posição de relevo a<br />
Tupi-Guarani.<br />
Há cerca de 2000 a 3000 anos, ter-se-á<br />
verificado a primeira grande movimentação<br />
expansionista da família Tupi-Guarani,<br />
que provocou a migração dos Cocama e<br />
dos Omágua para norte, rumo à região<br />
amazónica, dos Guaiaqui para sul, em<br />
direcção ao Paraguai, e dos Xirionó para<br />
sudoeste, onde penetraram em território<br />
actualmente pertencente à Bolívia. Seguidamente,<br />
eclodiu a fase de separação do<br />
5 Cf. Ernest C. MIGLIAZZA,<br />
«Linguistic Prehistory and the<br />
Refuge Model in Amazonia»,<br />
in Biological<br />
Diversification in the<br />
Tropics, ed. de G.T. Prance,<br />
Nova Iorque, 1982,<br />
pp. 497-519.<br />
6 Cf. Arno Alvarez KERN,<br />
«Les Groupes Préhistoriques<br />
de la région Sud-brésilienne<br />
et les changements des<br />
páleo-milieux: une analyse<br />
diachronique», in <strong>Revista</strong><br />
de Arqueología<br />
Americana<br />
(Cidade do México), 4 (1991),<br />
pp. 101-121.<br />
7 Cf. Pedro Ignácio SCHMITZ,<br />
«Migrantes da Amazónia:<br />
a tradição tupiguarani»,<br />
in Arqueologia<br />
Pré-Histórica do Rio<br />
Grande do Sul,<br />
pp. 301-302.<br />
8 Cf. José Proenza BROCHADO,<br />
«A Expansão dos Tupi e da<br />
Cerâmica da Tradição<br />
Policrômica Amazónica»,<br />
in Dédalo (São Paulo),<br />
27 (1989), pp. 65-82.
9 Cf. GREG URBAN, «A História<br />
da Cultura Brasileira segundo<br />
as Línguas Nativas»,<br />
in História dos Índios<br />
no Brasil, dir. de Manuela<br />
Carneiro da Cunha,<br />
São Paulo, 1992, pp. 92-100.<br />
10 Cf. Estêvão PINTO,<br />
Os Indígenas do<br />
Nordeste, vol. I,<br />
São Paulo, 1935, pp. 115-117.<br />
11 Cf. Idem, ibidem,<br />
pp. 136-137.<br />
A INVENÇÃO DA AMÉRICA 62<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
63<br />
núcleo central, que levou os Pauserna e os<br />
Cauaib para oeste, os Oiampi para as Guianas,<br />
os Caiabi e os Camaiurá para o curso<br />
do Xingu, os Tapirapé e os Teneteára para as<br />
imediações da foz do Amazonas, e os Xetá<br />
para o extremo sul do Brasil. Depois do ano<br />
1000 da nossa Era, ter-se-á verificado a<br />
última cisão da família Tupi-Guarani,<br />
dando origem aos grupos Tupi e Guarani 9 .<br />
Quando os tripulantes da armada de<br />
Cabral desembarcaram na Terra de Santa<br />
Cruz, os Tupi e os Guarani efectuavam<br />
denodados esforços para completar a conquista<br />
do litoral. Os seculares conflitos que<br />
se verificaram entre os vários grupos indígenas<br />
pela posse da faixa costeira foram<br />
provocados pela imperiosa necessidade de<br />
procurar dominar um nicho ecológico que<br />
fornecia alimentos abundantes, designadamente<br />
peixe, tartarugas, moluscos, crustáceos<br />
e sal, imprescindíveis para a dieta aborígene,<br />
sobretudo se se atender ao facto de<br />
que os recursos cinegéticos eram insuficientes<br />
para fornecer a quantidade de proteínas<br />
indispensável à sua conveniente<br />
nutrição.<br />
A ambição de uma comunidade ameríndia<br />
em exercer o domínio sobre uma<br />
região favorecida teria de se traduzir na<br />
conquista de uma parte da várzea amazónica<br />
ou da orla marítima. Naturalmente,<br />
ganhavam a disputa os grupos tribais mais<br />
coesos, numerosos e tecnologicamente<br />
mais bem apetrechados.<br />
Em 1500, osTupi ocupavam a mais significativa<br />
parcela da zona costeira compreendida<br />
entre o Ceará e a Cananeia (São<br />
Paulo), e os Guarani, estabelecidos exclusivamente<br />
a sul do Trópico de Capricórnio,<br />
dominavam a faixa litorânea situada entre a<br />
ilha da Cananeia e a lagoa dos Patos (Rio<br />
Grande do Sul), além de importantes<br />
regiões no interior desse espaço.<br />
A reconstituição da distribuição espacial<br />
dos grupos tribais aborígenes ao longo<br />
do litoral brasílico, no final do século XV-<br />
-início do século XVI, apresenta-se como<br />
uma tarefa problemática devido à escassez<br />
de elementos de origem indígena, à imprecisão<br />
dos testemunhos dos autores quinhentistas<br />
e à mobilidade das áreas fronteiriças<br />
decorrente do estado de guerra endé-<br />
mica existente entre os diferentes grupos<br />
autóctones. Conjugando as informações<br />
fornecidas por várias fontes, é, contudo,<br />
possível traçar um quadro geral aproximativo<br />
das diversas «nações» ameríndias que<br />
controlavam a costa e os sertões adjacentes<br />
nos primórdios de Quinhentos.<br />
A orla marítima era ocupada, no sentido<br />
norte-sul, pelos seguintes grupos tribais:<br />
o Aruaque habitava o Norte desde a foz<br />
do Oiapoque (Amapá) até à costa paraense,<br />
incluindo o delta amazónico e as respectivas<br />
ilhas, designadamente a de Marajó (território<br />
do grupo aruã, «pacífico») 10 ;o Tremembé<br />
(«alagadiço»), pertencente à família<br />
Cariri e ao tronco Macro-Jê, por seu lado,<br />
estava sobretudo fixado no Meio-Norte<br />
(Maranhão-Piauí), estendendo-se a sua<br />
área de influência das desembocaduras dos<br />
rios Gurupi (no limite sul do Pará) ao<br />
Camocim ou ao Mucuripe (Ceará) 11 .<br />
A partir, grosso modo, da foz do rio Jaguaribe<br />
(Ceará), entrava-se em território<br />
maioritariamente Tupi: os Potiguar («comedor<br />
de camarão») dominavam a zona costeira<br />
localizada entre aquele rio e o Paraíba;<br />
os Tabajara («senhor da taba») viviam no<br />
litoral situado entre o estuário deste curso<br />
de água e Itamaracá, e os Caeté («mata verdadeira»)<br />
predominavam no trecho de<br />
costa compreendido entre este marco geográfico<br />
e a margem norte do rio de São<br />
Francisco (Alagoas).<br />
Nos sertões nordestinos (serras da<br />
Borborema, dos Cariris Velhos e dos Cariris<br />
Novos e vales do Acarajú, do Jaguaribe, do<br />
Açú, do Apodi e do baixo São Francisco),<br />
refugiaram-se os Cariri («silencioso»), pertencentes<br />
ao tronco Macro-Jê, após terem<br />
sido expulsos do litoral pelos Tupi. Numa<br />
parcela do interior cearense (sobretudo na<br />
serra de Ibiapaba), do Rio Grande do Norte<br />
e da Paraíba imperavam os tabajaras.<br />
Os Tupinambá («descendentes dos Tupi»)<br />
ocupavam a costa desde a margem direita<br />
do São Francisco até à zona norte de Ilhéus,<br />
depois de terem vencido os seus anteriores<br />
habitantes; no entanto, a sua divisão em<br />
dois grupos rivais – o primeiro abarcando<br />
a área enquadrada pelos rios de São Francisco<br />
e Real (Sergipe), e o segundo senhoreando<br />
o litoral desde aí até ao Camamu –
deu origem a um estado de guerra permanente.<br />
Por outro lado, os moradores da<br />
região onde veio a ser edificada a vila do<br />
Pereira e, posteriormente, a cidade do Salvador<br />
eram inimigos dos habitantes das<br />
ilhas de Itaparica e Tinharé e da costa norte<br />
de Ilhéus, situação que provocava acesos<br />
combates entre aqueles bandos.<br />
Nos sertões baianos fixaram-se os<br />
Tapuia, os Tupina e os Amoipira («os da outra<br />
banda do rio»), um ramo segregado dos<br />
Tupinambá, após terem sido derrotados em<br />
sucessivas guerras quer entre si, quer com<br />
os Tupinambá. Aí viviam, também, os Ibirajara<br />
(«senhor do pau»), pertencentes ao<br />
grupo Caiapó da família Jê.<br />
Do estuário do Camamu (a norte de<br />
Ilhéus) até ao do Cricaré ou São Mateus<br />
(Espírito Santo), as zonas litorâneas pertenciam<br />
aos Tupiniquim («colaterais dos<br />
Tupi») que, contudo, se debatiam com as<br />
duras investidas dos Aimoré (vocábulo tupi<br />
que designa uma espécie de macacos), pertencentes<br />
à família Botocudo (Macro-Jê),<br />
que lhes disputavam o território. Nos sertões<br />
de Porto Seguro e do Espírito Santo<br />
viviam os Papaná, que foram forçados a<br />
abandonar o litoral devido aos ataques dos<br />
Tupiniquim e dos Aimoré. Os Goitacá<br />
(«nómadas») provinham do tronco Macro-<br />
-Jê e viviam no trecho de costa compreendido<br />
entre o rio Cricaré e o cabo de São<br />
Tomé, ocupando também o interior dessa<br />
região.<br />
A área costeira fluminense, delimitada<br />
pelo cabo de São Tomé e Angra dos Reis, era<br />
controlada pelos Tamoio («avô») – outro<br />
ramo dos Tupinambá – que dispunham,<br />
ainda, de algumas povoações mais a sul:<br />
Ariró, Mambucaba, Taquaraçu-Tiba, Ticoaripe<br />
e Ubatuba. Todavia, ainda restavam<br />
nessa área alguns núcleos de Temiminó<br />
(«netos do homem»), designadamente na<br />
ilha de Paranapuã ou dos Maracajá (actual<br />
ilha do Governador, na baía da Guanabara),<br />
que resistiam às constantes investidas dos<br />
seus implacáveis inimigos.<br />
O domínio do litoral paulista, localizado<br />
entre Caraguatatuba e Iguape-ilha Comprida,<br />
pertencia aos Tupiniquim que também<br />
viviam numa parcela do sertão. Os Guaianá<br />
(«gente aparentada») predominavam na<br />
Das importantes<br />
movimentações<br />
empreendidas<br />
pelos Tupi-guarani<br />
no decurso da presente<br />
Era resultou, por volta<br />
dos séculos VIII-IX,<br />
a sua separação em dois<br />
grupos linguísticos<br />
distintos: o tupi<br />
(«pai supremo,<br />
tronco da geração»)<br />
e o guarani («guerra»).
A INVENÇÃO DA AMÉRICA 64<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
65<br />
zona de matas de pinheiro, a 300 metros<br />
de altitude, e na área de planalto correspondente<br />
à faixa que se estende de Angra<br />
dos Reis à Cananeia. Pertenciam à família<br />
Jê, devendo ser considerados antepassados<br />
dos actuais Caingangues.<br />
A partir da Cananeia, entrava-se no<br />
espaço dos Guarani e dos autóctones por eles<br />
assimilados ou «guaranizados» – conhecidos<br />
por diversas designações locais, nomeadamente<br />
Carijó, Tape, Patos e Arachã – que se<br />
estendia até à lagoa dos Patos, numa extensão<br />
de cerca de 80 léguas de costa. Estes<br />
tinham como vizinhos e adversários populações<br />
pertencentes aos grupos pampeanos:<br />
os Charrua, no Sudoeste, fixados em<br />
ambas as margens do rio Uruguai e respectivos<br />
afluentes, e os Minuano, no Sudeste,<br />
que detinham a posse do trecho de costa<br />
que se iniciava na lagoa dos Patos e alcançava<br />
o estuário platino (nas imediações do<br />
local onde, no século XVIII, viria a ser edificada<br />
a cidade de Montevideu).<br />
No decurso da longa luta pelo domínio<br />
do litoral, os Tupi-guarani – mais bem<br />
organizados, mais bem armados, dispondo<br />
das técnicas da agricultura de coivara e da<br />
cerâmica, bem como da construção de<br />
habitações, estruturas defensivas e canoas –<br />
derrotaram e expulsaram as populações<br />
que habitavam o litoral. Estas foram apodadas<br />
de Tapuia, vocábulo tupi que significa os<br />
«outros ou selvagens» e que era utilizado<br />
depreciativamente pelos vencedores com o<br />
sentido de «inimigos bárbaros». Esta denominação<br />
foi atribuída aos membros de<br />
todos os outros troncos linguísticos –<br />
sobretudo Jê – que ainda não tinham atingido<br />
o seu estádio civilizacional.<br />
Quando entraram em contacto com os<br />
portugueses, os Tupi transmitiram-lhes o<br />
seu menosprezo pelos povos Jê, tendo<br />
aqueles perfilhado idêntica posição e adoptado,<br />
inclusivamente, a expressão tapuia<br />
para designar todas as populações não pertencentes<br />
à família Tupi-Guarani. Os tapuias<br />
correspondiam, pois, na generalidade dos<br />
casos, às populações Jê.<br />
Os autores quinhentistas tinham clara<br />
consciência de que – anteriormente à chegada<br />
dos portugueses ao Brasil e até já<br />
depois do início da colonização – os gru-<br />
pos tribais do ramo tupi, constituídos<br />
por sociedades de horticultores-caçadores-<br />
-recolectores-pescadores, tinham derrotado<br />
e expulsado de grande parte do litoral brasílico<br />
os seus primitivos ocupantes, na sua<br />
maioria comunidades de caçadores-recolectores<br />
pertencentes ao tronco Macro-Jê,<br />
instalando-se nesses territórios.<br />
Estas sociedades caracterizavam-se pela<br />
prática de uma horticultura de raízes, pela<br />
importância vital da caça e da pesca, pela<br />
mudança periódica dos povoados, pela<br />
menor densidade populacional comparativamente<br />
com as sociedades de agricultura<br />
sedentária, bem como pela inexistência, na<br />
generalidade dos casos, de diferenciações<br />
sociais significativas, de tipos coercivos de<br />
organização do poder, do pagamento de<br />
tributos ou de formas institucionalizadas<br />
de religião.<br />
As populações que desenvolveram este<br />
modelo civilizacional estavam estabelecidas<br />
em largas faixas do Leste da América do<br />
Norte, no Norte do México, em algumas<br />
zonas da Colômbia e do Chile, nas ilhas<br />
ocupadas pelos Caribe e em grande parte da<br />
América do Sul, da Venezuela ao Paraguai.<br />
No litoral sul-americano – da costa<br />
caribenha da Colômbia até ligeiramente a<br />
sul do estuário platino (Argentina) – predominavam<br />
as sociedades semi-sedentárias,<br />
ou seja, comunidades de horticultores-caçadores-recolectores-pescadores<br />
que<br />
baseavam o seu modo de subsistência no<br />
cultivo intensivo de raízes, sem recurso à<br />
utilização do arado ou de adubos que são<br />
característicos da agricultura sedentária, na<br />
caça, na pesca, na colecta de animais, vegetais<br />
e matérias-primas, adoptando um<br />
padrão cultural chamado «cultura da floresta<br />
tropical».<br />
A generalidade dos grupos tribais da<br />
floresta tropical especializou-se na horticultura<br />
de raízes ou agricultura de coivara<br />
(«ramos secos que ficam nas terras depois<br />
de roçadas») caracterizada pelo cultivo<br />
através de mudas e não por semeadura.<br />
Na escolha das terras destinadas ao<br />
cultivo, davam preferência aos solos argilosos<br />
e a áreas com declives, de modo a permitir<br />
a drenagem da água e a evitar o apodrecimento<br />
das raízes.
As tarefas de preparação da mata para o<br />
cultivo exigiam grande esforço. Na época<br />
da estiagem, efectuava-se a limpeza preliminar,<br />
recorrendo-se a machados de pedra<br />
para cortar os arbustos. A etapa seguinte –<br />
passados dois meses para secar a lenha –<br />
consistia na queimada, geralmente em<br />
forma de círculo, fazendo fogueiras em<br />
torno das grandes árvores. Esta etapa ocorria<br />
antes das primeiras chuvas. Seguidamente,<br />
empregavam-se «bastões de cavar»<br />
(paus pontiagudos) para rasgar o solo e<br />
cavavam-se buracos, onde eram enterradas<br />
as mudas, recobrindo-os de terra.<br />
A área desmatada era dividida em parcelas<br />
distribuídas pelas famílias nucleares e<br />
cultivada, em média, durante três a quatro<br />
anos, sendo abandonada ao fim desse<br />
tempo. Deixava-se à natureza a tarefa de<br />
regenerar a cobertura vegetal destruída<br />
(processo que demorava entre 20 e 100<br />
anos), repetindo-se o mesmo procedimento<br />
noutro trecho da floresta.<br />
As espécies cultivadas variavam conforme<br />
as condições ecológicas. Os Tupi,<br />
que habitavam na faixa tropical, optaram<br />
pela mandioca, os Guarani, que colonizaram<br />
as terras subtropicais, preferiram o<br />
milho, e, nas regiões de planalto, os Jê cultivavam<br />
o amendoim. Além destes alimentos<br />
básicos, plantavam feijão, batata-doce, cará<br />
(inhame), jerimum (abóbora) e cumari<br />
(pimenta). Entre as plantas não alimentares,<br />
destacavam-se a purunga (cabaça), o<br />
jenipapo e o urucu (corantes), o algodão e<br />
o tabaco.<br />
A caça era mais abundante e diversificada<br />
nas proximidades de rios e lagoas – devido<br />
à abundância de alimentos – do que nas<br />
matas afastadas de cursos de água, relativamente<br />
pobres, pelo que os Ameríndios<br />
caçavam, nas zonas mais ricas, uma grande<br />
variedade de animais, nomeadamente antas,<br />
pacas, capivaras, cutias, caititus, queixadas,<br />
veados, preguiças, tamanduás, tatus, além<br />
de onças, macacos, aves e répteis.<br />
Entre os métodos de caça utilizados,<br />
figurava o mutá, posto de observação construído<br />
em árvores altas, até cerca de 15<br />
metros do solo, onde se instalavam os caçadores,<br />
aguardando a passagem dos animais<br />
para os atingir com flechas. Outra das téc-<br />
nicas empregues era o mundéu, armadilha<br />
que consistia em covas escavadas nos trilhos,<br />
recobertas de ramos e folhas, ou numa<br />
estacada de pau a pique, com uma só entrada<br />
dotada de um dispositivo que se fechava<br />
quando a presa lá entrava. Destinava-se a<br />
capturar as espécies de maior porte, designadamente<br />
a onça-pintada. Recorriam,<br />
ainda, à caça com laço e à utilização do<br />
fogo para forçar os animais a sair das tocas.<br />
Os aborígenes procuravam atrair a<br />
benevolência dos seres sobrenaturais, com<br />
o objectivo de garantir o sucesso da caçada.<br />
Utilizavam práticas mágicas como, por<br />
exemplo, esfregar o corpo com determinados<br />
vegetais ou ingerir infusões adequadas<br />
ao tipo de fauna que pretendiam abater.<br />
Os guerreiros Tupi apreciavam sobremaneira<br />
a ingestão da carne de espécies<br />
velozes, pois acreditavam que, ao comê-la,<br />
absorveriam a agilidade do animal abatido,<br />
rejeitando incluir na sua alimentação carne<br />
de espécies lentas.<br />
Quando habitavam na faixa costeira ou<br />
nas margens dos rios e das lagoas, os Ameríndios<br />
preferiam as actividades piscatórias<br />
que lhes davam abundantes e concentradas<br />
quantidades de peixe, moluscos e crustáceos,<br />
obtidas com menor dispêndio de energia<br />
e em menos tempo do que os exigidos<br />
pela caça.<br />
Os Tupi tinham predilecção pelo parati<br />
(tainha), que desova nos rios no mês de<br />
Agosto, época que aproveitavam para o<br />
capturar em grandes quantidades. Pescavam<br />
numerosas espécies de água salgada e<br />
doce e abatiam baleias e tubarões quando<br />
estes penetravam nos rios ou encalhavam<br />
na costa.<br />
Desenvolveram várias técnicas de<br />
pesca, que se revestiam de carácter essencialmente<br />
colectivo. Uma das mais eficientes<br />
consistia em utilizar venenos vegetais,<br />
nomeadamente o timbó, que atordoa e asfixia<br />
os peixes, solução que se transformou<br />
num hábito cultural profundamente arraigado<br />
nas populações indígenas da América<br />
do Sul. A eficácia deste método é atestada<br />
por um testemunho quinhentista que<br />
informa que, numa única operação desse<br />
tipo, eram «apanhados mais de doze mil<br />
peixes grandes».
A INVENÇÃO DA AMÉRICA<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
66 67<br />
Em 1500, os Tupi<br />
ocupavam a mais<br />
significativa parcela<br />
da zona costeira<br />
compreendida entre<br />
o Ceará e a Cananeia<br />
(São Paulo), e os Guarani,<br />
estabelecidos<br />
exclusivamente a sul do<br />
Trópico de Capricórnio,<br />
dominavam a faixa<br />
litorânea situada<br />
entre a ilha da Cananeia<br />
e a lagoa dos Patos<br />
(Rio Grande do Sul),<br />
além de importantes<br />
regiões no interior<br />
desse espaço.<br />
Uma variante mais complexa assentava<br />
na organização de pescarias nocturnas,<br />
atraindo os cardumes com archotes de<br />
facheiro, atordoando-os, em seguida, com<br />
essas plantas.<br />
Outra das técnicas consistia na construção<br />
de armadilhas nos perequês («estuário<br />
onde os peixes se reúnem para a desova»).<br />
Na época da piracema, em que os grandes<br />
cardumes migratórios penetravam nos rios,<br />
vedavam o piraiquê («entrada do peixe»),<br />
local de confluência das águas doce e salgada,<br />
e edificavam, com varas e esteiras, na<br />
altura da maré vazante, um pari (barragem<br />
com 3 metros de altura e 40 de comprimento).<br />
Cercavam o peixe, que era obrigado<br />
a vir à tona pela acção dos venenos,<br />
sendo, então, capturado em larga escala.<br />
Individualmente, os Tupi pescavam nas<br />
margens dos rios de águas claras e à beira-<br />
-mar, utilizando arco e flechas, algumas das<br />
quais com ponta de osso, e a pindaíba<br />
(«vara de pescar»).<br />
Utilizavam matérias-primas vegetais<br />
na confecção de cordões, cordas, fios,<br />
espremedores de polpa de mandioca (tipiti),<br />
peneiras, abanadores de fogo, esteiras,<br />
diversos tipos de cestos, gaiolas e armadilhas<br />
de pesca.<br />
Usavam os frutos da purunga que,<br />
depois de secos, serviam para o fabrico de<br />
cuias (cabaças) e de maracás (objectos mágico-religiosos).<br />
Seleccionaram variedades<br />
de algodão sul-americanas para a confecção<br />
da rede-de-dormir, difundindo o seu<br />
uso em todas as regiões por onde se expandiram.<br />
A cerâmica desempenhou um papel<br />
essencial na evolução civilizacional dos<br />
grupos indígenas, permitindo-lhes a preparação<br />
e conservação de alimentos. Dominavam<br />
a técnica da manufactura (com<br />
cozedura efectuada a céu aberto, sendo os<br />
objectos colocados directamente sobre a<br />
fogueira). A cerâmica tupi-guarani caracterizava-se<br />
pela técnica do alisado simples e<br />
pela pintura policroma com linhas vermelhas<br />
e pretas sobre fundo branco. Entre os<br />
utensílios produzidos, destacavam-se as<br />
grandes igaçabas (potes).<br />
Escolhiam madeiras leves para a feitura<br />
de jangadas e canoas. Algumas destas eram
de grandes dimensões (mais de 30 metros),<br />
sendo escavadas em troncos de árvore.<br />
Recorriam sobretudo ao ipê para fazer<br />
arcos, confeccionando as cordas com fibras<br />
vegetais longas de folhas de tucum ou<br />
casca de embaúba. Para as flechas, usavam<br />
normalmente ubá, sendo as pontas feitas<br />
de taquara (uma espécie de bambu), osso<br />
ou dentes aguçados (preferencialmente de<br />
tubarão), e o tacape (semelhante a uma<br />
clava ou maça) com madeira dura de jucá.<br />
Com o objectivo de tornar comestível a<br />
raiz da mandioca amarga, os Tupi sujeitavam-na<br />
a um complexo tratamento destinado a eliminar<br />
o ácido cianídrico.A polpa era espremida<br />
no tipiti (prensa destinada a extrair a<br />
água que continha a substância venenosa),<br />
amassada e, depois, assada ou torrada em<br />
grandes recipientes circulares de barro.<br />
A mandioca doce (aipim) era normalmente<br />
comida depois de descascada e assada<br />
directamente nas brasas. Os Guarani preferiam<br />
o milho, ingerindo-o cozido ou assado,<br />
procedendo também à secagem do<br />
grão maduro e inteiro.<br />
Comiam normalmente peixe fresco,<br />
depois de fervido em água. No entanto,<br />
podiam também consumi-lo moqueado,<br />
ou seja, cozinhado numa grelha confeccionada<br />
com varas de madeira verde (moquém).<br />
A carne era geralmente grelhada, constituindo<br />
excepção a da anta, que era cozida.<br />
Misturavam sal com pimenta e tomavam<br />
uma pitada dessa massa (juquiraí) sempre<br />
que ingeriam uma porção de alimento.<br />
Confeccionavam uma bebida – o<br />
cauim – a partir do aipim, do milho, da<br />
batata-doce, de seiva de palmeiras e de<br />
frutas (ananás e caju). Esta tarefa era<br />
cometida às moças que, após a cozedura<br />
da matéria-prima, a mastigavam, desencadeando,<br />
através da saliva, o processo de<br />
fermentação. Apresentava um aspecto<br />
turvo e espesso como borra, sendo consumida<br />
morna.<br />
Da dieta alimentar tupi-guarani faziam,<br />
ainda, parte frutos silvestres como maracujá,<br />
jabuticaba, araçá, cajá e mangaba,<br />
além de mel, ovos de pássaros, larvas, gafanhotos,<br />
abelhas e formigas.<br />
Nas sociedades ameríndias da floresta<br />
tropical, em que imperava a nudez, o corpo<br />
era interpretado como uma marca, sendo,<br />
por conseguinte, objecto de uma particular<br />
atenção.<br />
As pinturas protegiam dos raios solares<br />
e das picadas dos insectos. Além disso, a<br />
ornamentação corporal possuía uma linguagem<br />
simbólica, sendo certos padrões<br />
específicos do género e de grupos de<br />
idade, facto que revelava o estatuto do seu<br />
detentor.Acrescentavam, assim, uma segunda<br />
«pele» ao indivíduo: a social, que se sobrepunha<br />
à biológica. Os corantes mais usados<br />
eram o jenipapo (azul-escuro que, com a<br />
exposição ao sol, se torna preto) e o urucu<br />
(vermelho).<br />
Como o corpo humano era o lugar<br />
privilegiado para inscrições, os guerreiros<br />
eram escarificados no peito, nos braços,<br />
nas coxas e na barriga das pernas, marcas<br />
visíveis da sua valentia na guerra e na execução<br />
ritual de prisioneiros.<br />
A arte plumária constituía a mais importante<br />
expressão artística das populações da floresta<br />
tropical, tendo funções míticas, estéticas<br />
e rituais e contribuindo para a personalização<br />
do corpo. Os guerreiros prestavam particular<br />
atenção aos adornos plumários (diademas,<br />
coroas, toucados e coifas), cujos pássaros doadores<br />
(papagaios, araras, tucanos, canindés,<br />
etc.) e respectivas cores continham importantes<br />
cargas simbólicas. Os grandes chefes usavam,<br />
por vezes, mantos de penas, sendo<br />
conhecidos os de guará (íbis-rubra).<br />
As sociedades indígenas da floresta<br />
tropical adoptaram normalmente padrões<br />
de estabelecimento modestos, construindo<br />
núcleos pequenos e dispersos.<br />
A taba («aldeia») tinha, em geral, entre<br />
4 e 8 ocas e 30 a 60 famílias nucleares. Nos<br />
aglomerados costeiros residiam, em média,<br />
600 a 700 indivíduos, havendo, no entanto,<br />
variações regionais e tribais. Algumas<br />
dispunham de estruturas defensivas: as caiçaras<br />
(«paliçadas»).<br />
A oca («morada actual»), grande casa<br />
comunitária, era edificada em círculo, disposta<br />
à volta de um terreiro, a algumas<br />
dezenas de metros das vizinhas, abrigando<br />
uma família extensa. Aí viviam, em média,<br />
entre 85 a 140 pessoas.<br />
Os padrões de fixação eram condicionados<br />
pelas condições de subsistência.
A INVENÇÃO DA AMÉRICA 68 69<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Uma vez que a permanência das populações<br />
num local era temporária (cerca de<br />
três a quatro anos), a precariedade da instalação<br />
determinava, naturalmente, o tipo de<br />
materiais utilizados na edificação das habitações:<br />
madeira, cipós e folhas de árvore<br />
para as coberturas.<br />
Os Tupi construíam estruturas habitacionais<br />
elípticas ou rectangulares, sendo as<br />
ligações entre os troncos feitas com trançados<br />
de embira. Dispunham de três pequenas<br />
aberturas, sendo duas localizadas nas<br />
extremidades e uma no centro que dava<br />
para o terreiro. O comprimento variava<br />
entre 40 metros para as menores e mais de<br />
160 para as maiores, oscilando a largura<br />
entre os 10 a 16 metros.<br />
Nas sociedades ameríndias, vigorava a<br />
divisão sexual do trabalho. Os homens executavam<br />
tarefas que implicavam esforço intenso,<br />
bem como actividades arriscadas. Às<br />
mulheres competiam os trabalhos produtivos,<br />
de recolecção, domésticos e de apoio<br />
nas expedições guerreiras terrestres ou<br />
marítimas.<br />
As bases da organização das comunidades<br />
ameríndias assentavam na família<br />
extensa, constituída por várias famílias<br />
nucleares que estavam ligadas entre si por<br />
laços de parentesco. Encontravam-se subordinados<br />
ao patriarca da oca: o principal.<br />
Verificava-se a existência da poligamia.No<br />
entanto, somente um reduzido número de<br />
indivíduos (o chefe, o feiticeiro e os grandes<br />
guerreiros) possuía várias mulheres, constituindo<br />
o seu número sinal de prestígio.<br />
O casamento avuncular, ou seja, do tio<br />
materno com a sobrinha, era a modalidade<br />
preferida pelos Tupi, sendo também comum<br />
entre primos cruzados.<br />
A regra residencial mais difundida era<br />
a da patrilocalidade (a esposa ia viver na oca<br />
do marido ou do sogro), favorecendo,<br />
assim, a forma patrilinear de descendência.<br />
Estas sociedades desenvolveram uma<br />
estrutura social com um reduzido grau<br />
de diferenciação, tendo, todavia, gerado<br />
alguns tipos de hierarquias.Verificava-se a<br />
existência de acentuadas tendências comunitárias<br />
e de fortes laços de solidariedade.<br />
Os Tupi-guarani adoptaram como<br />
forma de organização dominante o grupo<br />
local (correspondente a uma taba), que se<br />
situava numa posição intermédia entre a<br />
menor unidade vicinal (a oca) e o agrupamento<br />
territorial mais abrangente (o grupo<br />
tribal).<br />
Uma das características essenciais das<br />
sociedades tupi residia na falta de poder<br />
dos morubixabas («chefes»), bem como na<br />
inexistência de métodos coercivos. Os líderes<br />
desempenhavam as suas funções com<br />
base na persuasão, não podendo recorrer à<br />
ameaça do uso da força.<br />
Para o exercício da função de morubixaba,<br />
exigiam-se diversos requisitos, entre<br />
os quais se contavam a valentia, a ponderação,<br />
a generosidade, a posse de dotes oratórios<br />
(«senhor da fala»), a pertença a uma<br />
parentela poderosa e a aceitação favorável<br />
junto dos guerreiros da aldeia. As atribuições<br />
dos chefes eram muito reduzidas em<br />
tempo de paz, ganhando maior relevo em<br />
período de guerra.<br />
A instituição política básica era o<br />
«conselho dos chefes», formado pelo<br />
morubixaba, pajé, chefes das ocas e guerreiros<br />
prestigiados. Este órgão, frequentemente<br />
designado por «roda de fumadores»,<br />
tomava as decisões mais importantes<br />
referentes à taba: mudança de local de residência,<br />
organização de expedições guerreiras,<br />
definição da rede de alianças e fixação<br />
da data para a execução ritual dos prisioneiros.<br />
Nas sociedades Tupi-guarani, o complexo<br />
guerra-vingança-antropofagia desempenhava<br />
papel central, sendo a guerra a sua instituição<br />
fundamental.<br />
As decisões sobre a realização de expedições<br />
guerreiras destinadas a conquistar<br />
habitats privilegiados, superar tensões internas<br />
ou capturar inimigos eram alvo de cuidada<br />
ponderação.<br />
Os atacantes percorriam grandes distâncias<br />
por terra, rio ou mar até encontrarem<br />
uma taba inimiga. Escolhiam, normalmente,<br />
a lua cheia para efectuar o último<br />
trecho do percurso ao luar, desencadeando<br />
a investida ao alvorecer.<br />
Recorriam a diversos métodos para<br />
forçar os defensores a abandonar as paliçadas.<br />
Um deles consistia em atar mechas<br />
incendiárias (feitas de algodão embebido
em cera) às flechas que eram disparadas<br />
contra as coberturas das ocas. Outra táctica<br />
consistia em acender fogueiras onde lançavam<br />
pimenta, formando nuvens de gases<br />
tóxicos.<br />
Nos combates só podiam participar os<br />
homens pertencentes ao grupo Ava (a partir<br />
dos 25 anos). Primeiro, disparavam nuvens<br />
de flechas e, seguidamente, atacavam com<br />
grande algazarra, batendo com os pés e<br />
tocando buzinas ou instrumentos confeccionados<br />
com ossos humanos (braços e<br />
tíbias), tanto para excitar o ânimo dos atacantes<br />
como para amedrontar os defensores.<br />
Na luta corpo a corpo, utilizavam<br />
sobretudo o tacape, arma com que procuravam<br />
esmagar o crânio do inimigo.<br />
A antropofagia era uma prática corrente<br />
entre os Ameríndios, designadamente entre<br />
os Tupi-guarani.<br />
O cativo desempenhava um papel primordial<br />
nas relações interaldeias, devendo<br />
ser exibido nas povoações vizinhas. Geralmente,<br />
as tabas aliadas eram convidadas a<br />
participar no banquete canibal, transformando-o<br />
numa manifestação colectiva que<br />
consolidava as alianças.<br />
Na data aprazada, dava-se início à cauinagem,<br />
que geralmente durava três dias,<br />
acompanhada de cantos e danças. Este acto<br />
festivo antecedia o ritual antropofágico.<br />
Ao alvorecer do dia escolhido, o prisioneiro<br />
era lavado, enfeitado e amarrado<br />
pela cintura com a mussurana (corda grossa<br />
de algodão), sendo seguidamente conduzido<br />
ao centro do terreiro, onde se encontravam<br />
reunidos os convivas.<br />
Chegado o executor, profusamente<br />
enfeitado, recebia cerimonialmente o ibirapema<br />
(tacape cerimonial) com o qual iniciava<br />
uma dança junto do cativo, imitando as<br />
evoluções de uma ave de rapina.Terminada<br />
a gesticulação, o algoz e a vítima travavam<br />
um curto diálogo, findo o qual o executor<br />
esmagava o crânio do inimigo.<br />
Abatido o prisioneiro, escaldavam-no<br />
para lhe retirar a pele e esquartejavam-no.<br />
Algumas partes do corpo (braços e pernas)<br />
eram moqueadas, sendo as vísceras aproveitadas<br />
para fazer um cozinhado. Existiam<br />
regras para a distribuição do corpo da vítima,<br />
que era integralmente aproveitado.<br />
A visão cosmológica dos Tupi-guarani<br />
não atribuía a formação do Universo a um<br />
ser supremo, concebendo, antes, esse processo<br />
como resultante de sucessivas acções<br />
parciais e incompletas.<br />
As actividades criadoras de Monan e<br />
Maír teriam sido prosseguidas por heróis-<br />
-civilizadores – poderosos pajés e ancestrais<br />
míticos detentores de poderes transformadores<br />
especiais – transmissores de técnicas,<br />
ritos e regras sociais que permitiram aos<br />
homens ultrapassar o estado de bestialidade.<br />
Entre estes, destacava-se Sumé, a quem<br />
era atribuída a instituição da agricultura de<br />
coivara e da organização social. Outra personagem<br />
mitológica importante era Tupã,<br />
associado ao raio e ao trovão.<br />
Davam particular ênfase aos mitos cósmicos<br />
de sucessivas destruições do Mundo,<br />
pelo fogo ou pela água, conhecendo-se<br />
diversas versões do dilúvio.<br />
Acreditavam na possibilidade de uma<br />
parcela do ser encontrar, após a morte, o<br />
Guajupiá («aldeia das almas»), situado para<br />
além das altas montanhas.<br />
Um papel fulcral era desempenhado<br />
pelos homens que desempenhavam funções<br />
mágico-religiosas. Os pajés, munidos<br />
do maracá (cabaça decorada que imitava o<br />
rosto humano, atravessada por uma vareta,<br />
com sementes ou pedras que serviam de<br />
chocalho, funcionando como receptáculos<br />
das vozes dos espíritos e reproduzindo-as<br />
através do seu ruído), tratavam os doentes<br />
com ervas medicinais e com esconjuros,<br />
nomeadamente através do bafejo com tabaco,<br />
para afastar os espíritos. Efectuavam,<br />
também, profecias, recorrendo ao transe<br />
induzido pela intoxicação com tabaco.
Vasco Fernandes<br />
e a visão do Índio Bom:<br />
sinais de antropocentrismo<br />
no Calvário da Sé de Viseu<br />
Vítor Serrão<br />
A INVENÇÃO DA AMÉRICA 70 71<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Calvário, de Vasco Fernandes, c. 1535-40, óleo sobre madeira, 2423 x 2393 mm. Museu de Grão Vasco, Viseu, Portugal
A INVENÇÃO DA AMÉRICA 72 73<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Generalizou-se a ideia de que a imagem<br />
com que os europeus do século XVI<br />
viram os índios americanos foi sempre<br />
negativa. Na realidade, e pesem os termos<br />
com que Pêro Vaz de Caminha se lhes refere<br />
na sua célebre carta ao rei de Portugal, em<br />
Abril de 1500 (mas só no século XIX dada a<br />
conhecer à comunidade científica), o índio<br />
cedo deixaria de ser entreolhado como essa<br />
pessoa afável, solidária e, em consequência,<br />
cristianizável, com que o cronista da viagem<br />
de Pedro Álvares Cabral o descreveu.<br />
Assim, o índio seria, por natureza, um primitivo,<br />
isto é, um indomável bárbaro, antropófago<br />
e poligâmico, vivendo em estado de<br />
nudez, ou seja, um ser não integrável e sem<br />
alma. As estampas abertas nos livros quinhentistas,<br />
ou divulgadas por séries de gravados<br />
um pouco por toda a Europa, multiplicaram<br />
essa imagem do índio como selvagem<br />
preso a ritos tribais e a práticas troglodíticas<br />
e quase uma espécie de demónio.<br />
O grande painel do Calvário, exposto no<br />
Museu Grão Vasco em Viseu, vem contrariar<br />
de maneira taxativa esta visão do índio brasileiro<br />
e, ao integrar na simbologia do Bom<br />
Ladrão uma figuração de índio, mostrar<br />
que uma outra imagem, radicalmente<br />
oposta àquela, tinha espaços de adesão e<br />
ganhara foros de credibilidade nos meandros<br />
do Humanismo português. Trata-se<br />
por isso, também, de um dos aspectos que<br />
mais valoriza essa peça, já de per se uma das<br />
pinturas fundamentais para a compreensão,<br />
não só do universo artístico do seu<br />
autor, Vasco Fernandes (c. 1475-1542),<br />
mas um dos mais significativos testemunhos<br />
da plena adesão da cultura portuguesa<br />
do segundo quartel do século XVI aos<br />
valores clássicos italianos.<br />
Como é timbre das melhores obras do<br />
Renascimento internacional, trata-se de uma<br />
pintura eloquente, isto é, de uma peça de culto<br />
que visava tocar diversos públicos, assumir<br />
vários discursos e intervir num debate<br />
intemporal, projectado em outros tempos.<br />
O modo flagrante como a personagem do<br />
Bom Ladrão representado neste quadro se<br />
transmuda em índio brasileiro, ou seja,<br />
como uma espécie de elemento positivo que<br />
encarna a bondade inata e a possibilidade de<br />
missão evangélica à escala dos Novos Mun-<br />
dos, revela os propósitos de afirmação ideológica<br />
no seio das humanae litterae que, sob<br />
estímulo da Renascença e dos princípios<br />
neoplatónicos, viam nos povos primitivos<br />
contactados pelo processo das Descobertas<br />
portuguesas uma marca de dignidade da<br />
Criação e uma forma eficaz de, através do<br />
achamento de novas terras, se alargar a família<br />
cristã a outras comunidades de povos.<br />
Neste quadro pintado cerca de 1535, o<br />
artista representou o Gólgota, a cena mais<br />
transcendente da Paixão de Cristo, em composição<br />
de escala monumental, estruturada pela<br />
distribuição vertical das três cruzes. Ao centro,<br />
uma admirável figuração de Jesus Cristo<br />
sofredor, à hora de expirar, aparece ladeado<br />
por um Mau Ladrão, à direita, visto como um<br />
rebelde praguejador e, à esquerda, sofrendo<br />
de igual modo o suplício da crucifixão, um<br />
sereno e benfazejo Bom Ladrão, representado<br />
por um índio brasileiro, imagem obviamente<br />
alusiva à bondade inata dos povos pré-<br />
-colombianos, desprovidos da mancha do<br />
pecado original. A ocupar o espaço envolvente,<br />
duas dezenas de figuras dispostas em<br />
vários planos e formando grupos autónomos,<br />
desde os soldados romanos, a cavalo, à<br />
Virgem Maria, com as Santas Mulheres e o<br />
apóstolo São João, chorando em desespero,<br />
aos soldados romanos, de joelhos, que disputam<br />
a túnica de Jesus, jogando-a aos dados, a<br />
figurações de judeus assistentes, um deles<br />
bebendo vinho de um pichel. Num plano<br />
afastado à direita, o suicídio de Judas Iscariotes,<br />
com um diabo voador prestes a tomar-lhe<br />
a alma. Num segundo plano, à esquerda,<br />
desenha-se uma cidade acastelada com altas<br />
torres e cúpulas de arquitectura fantasista. O<br />
céu é representado com nuvens carregadas,<br />
ameaçando tempestade iminente.<br />
A presença do índio como Bom Ladrão<br />
mostra que o pintor Vasco Fernandes, e<br />
quem lhe encomendou a obra, dispunham<br />
de uma sólida visão humanística em relação<br />
aos povos antediluvianos, na crença de<br />
que se tratava de «gentes desprovidas de<br />
pecado original» e, por isso, sinal benfazejo<br />
de sentimentos apropriáveis para a causa<br />
do cristianismo. O cuidado com que o painel<br />
explora níveis múltiplos de leitura é<br />
deveras significativo. Dir-se-ia que estamos<br />
a ouvir as palavras de Caminha: «Parece-me
gente de tal inocência que se os homens entendessem, e<br />
eles a nós,que seriam logo cristãos,porque eles não têm,<br />
nem entendem em nenhuma crença, segundo parece<br />
(…), que se hão-de fazer cristãos e crerem em nossa<br />
santa fé porque (...) esta gente é boa e de boa simplicidade.<br />
E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer<br />
cunho que lhes quiserem dar. E porque Nosso Senhor,<br />
que lhes deu bons corpos e bons rostos como a bons<br />
homens». A verdade é que, cerca de 1535,<br />
Vasco Fernandes e o encomendante da obra<br />
fizeram valer esta visão humanística do<br />
índio, espécie de bom selvagem avant la lettre,<br />
num reflectido assomo de renovação. Esse<br />
princípio já se manifestara, três decénios<br />
antes, num dos quadros do retábulo do<br />
altar-mor da Sé de Viseu (c. 1502-1505),<br />
onde um índio tupinambá emplumado<br />
surge na figura do Rei Mago negro, Baltazar,<br />
na Adoração dos Magos (Museu Grão Vasco),<br />
uma presença que pode ter sugerido ao<br />
artista esta provocatória solução carregada<br />
de intenções humanísticas.<br />
Trata-se de uma das mais cuidadas criações<br />
da antiga pintura portuguesa, e não é<br />
de estranhar, por isso, que o discurso ideológico<br />
deste Calvário fosse estudado ao pormenor.<br />
À organização segura do espaço<br />
acresce um grande domínio da ciência<br />
perspéctica e, sobretudo, uma capacidade<br />
de tratar expressões humanas, num pathos<br />
inflamado de sentimentos contraditórios<br />
que oscilam entre o drama e a indiferença,<br />
tocando ora a mágoa do sacrifício, ora a<br />
crueza dos homens e a intolerância dos<br />
poderes instituídos. O desenho é excelente,<br />
a paleta quente e luminosa, o naturalismo<br />
dos tecidos e adereços concorre para a força<br />
transcontextual que faz deste quadro um<br />
unicum, permanente revitalizável para a<br />
encantação dos nossos olhares. Mesmo que<br />
as suas funções primeiras tenham sido<br />
modificadas desde que os novos gostos do<br />
século XVIII alteraram a decoração da Capela<br />
de Jesus, mudando o quadro para a<br />
sacristia da Sé e, muito depois, para o<br />
Museu criado no contíguo Paço Episcopal, a<br />
pintura de Vasco Fernandes continua a desafiar<br />
o tempo com a sedução das suas formas<br />
e a convicção da sua doutrina imaginizada.<br />
A encomenda desta grandiosa obra<br />
deve-se a D. Miguel da Silva, bispo de Viseu<br />
designado em 1525 e que dirigirá a dioce-<br />
se até 1540. Este bispo humanista, protector<br />
de Vasco Fernandes, é o responsável<br />
pelo ímpeto renovador que levou a velha<br />
cidade beirã a assumir-se como cenário de<br />
eleição para um desenvolvimento arquitectónico<br />
e urbanístico e para círculos de práticas<br />
de reflexão e debate humanístico,<br />
como o que se reunia nos jardins do palácio<br />
de Fontelo, sob inspiração do cultíssimo<br />
bispo, ele mesmo um amigo de Baldassare<br />
Castiglione, que não por acaso lhe<br />
dedicou o célebre Il Cortegiano. No âmbito<br />
da reforma que promove na Sé, D. Miguel<br />
da Silva levou a cabo a construção do novo<br />
claustro renacentista, em 1528, empregando<br />
um arquitecto por ele trazido de Itália,<br />
que pudera escolher quando assumira o<br />
cargo de embaixador de Portugal junto da<br />
Cúria romana. Francesco da Cremona, o<br />
autor do projecto, foi, de acordo com<br />
Rafael Moreira, muito inspirado na traça<br />
deste claustro da Sé de Viseu pelo famoso<br />
cortile do Palácio Ducal de Urbino, de Laurana<br />
e Francesco di Giorgio Martini.<br />
Obra de contradições e intensidades<br />
fulgurosas, o Calvário do Grão Vasco reúne<br />
em si o melhor do catecismo directo da tradição<br />
medieval, violenta e apocalíptica, que<br />
se revela na crueza com que é representado<br />
o suicídio de Judas e no pormenor em que a<br />
sua alma é tomada pelo demónio, e a força<br />
da novidade humanística no modo como o<br />
índio brasileiro incorpora, pleno da bondade<br />
e fraternidade cristãs, a figura do Bom<br />
Ladrão. Públicos distintos entendiam uma e<br />
outra mensagem e, por certo, as integravam<br />
nos seus discursos, debates e reflexões. Era<br />
um tempo em que o Humanismo cristão<br />
ainda tinha espaço para usar suportes figurativos<br />
de renovação nas práticas litúrgicas, ao<br />
contrário do que os ventos da Contra-Reforma<br />
iriam, a breve trecho, trazer. É por isso<br />
que o Calvário é uma das mais fortes peças da<br />
pintura portuguesa de todos os tempos: a<br />
expressividade das poses e o patetismo da<br />
expressão do sentimento religioso concorrem<br />
para captar uma dimensão de arrebatamento<br />
cósmico cheia de referências humanizadoras<br />
e de traços de tolerância. O pintor<br />
quis que a sua obra servisse como modelo<br />
para uma reflexão profunda sobre os mistérios<br />
da criação à luz da boa prática cristã.<br />
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:<br />
-- Maria José GOULÃO,<br />
«Do Mito do Homem<br />
Selvagem à Descoberta<br />
do “Homem Novo”:<br />
a representação do negro<br />
e do índio na escultura<br />
manuelina», Portugal<br />
e Espanha entre a<br />
Europa e Além-Mar,<br />
Actas do IV Simpósio<br />
Luso-Espanhol de<br />
História da Arte,<br />
Coimbra, 1988.<br />
-- Sylvie DESWARTE-ROSA,<br />
Imagens e Ideias em<br />
Portugal na Época dos<br />
Descobrimentos,<br />
Lisboa, Difel, 1992.<br />
-- Joaquim Veríssimo<br />
SERRÃO (intr.), Carta de<br />
Pero Vaz de Caminha,<br />
ed. Mar de Letras e ICEA<br />
(Instituto de Cultura<br />
Europeia e <strong>Atlântica</strong>),<br />
Ericeira, 2000.<br />
-- Manuel BATORÉO,<br />
«O índio na arte portuguesa<br />
do Renascimento»,<br />
Actas do Colóquio<br />
Da Visão do Paraíso<br />
à Construção<br />
do Brasil,<br />
II Curso de Verão da<br />
Ericeira, Mar de Letras,<br />
2001, pp. 123-133.<br />
-- Dalila RODRIGUES,<br />
Grão Vasco. Pintura<br />
portuguesa del<br />
Renacimiento<br />
(c. 1500-1540),<br />
Salamanca Ciudad<br />
Europea de Cultura, 2002.<br />
-- Vitor SERRÃO,<br />
O Renascimento e o<br />
Maneirismo, vol. 3<br />
da História da Arte em<br />
Portugal, Ed. Presença,<br />
Lisboa, 2002.
CEM ANOS DE SOLIDÃO 74 75<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Doriselma. San Marcos, Guatemala (2006)<br />
Doriselma<br />
fotografia de Grau Sierra Espriu<br />
texto de Roger Sogues Marco<br />
Doriselma tem nove anos e passa parte do seu tempo livre a brincar no interior de uma velha casa, da qual<br />
apenas restam as paredes, correndo de um lado para o outro com os seus irmãos ou desenhando as coisas<br />
que a rodeiam: a sua família, a sua casa ou os campos em redor, mas grande parte do seu tempo é dedicado<br />
a ajudar a mãe nos trabalhos domésticos.<br />
Telma é a mãe de Doriselma e dos seus três irmãos e uma irmã. Sozinha, tem a seu cargo toda a família.<br />
Desde que o marido a deixou há três anos, teve de se desenvencilhar sozinha para poder alimentar e criar os<br />
filhos. Na comunidade onde vive, La Grandeza, no interior da Guatemala, as oportunidades de encontrar trabalho<br />
para sobreviver eram bastante escassas e, durante algum tempo, vendeu os pêssegos que as pessoas da<br />
aldeia lhe deixavam apanhar.<br />
Como Telma, muitas mulheres têm dificuldades em encontrar um trabalho que as ajude a sustentar as suas<br />
famílias. São poucas as oportunidades que surgem e são ainda menores para pessoas sem formação e com<br />
escassos recursos para obtê-la. Muitas destas mulheres, tal como Telma, foram abandonadas à sua sorte pelos<br />
maridos e todos os dias têm de fazer um enorme esforço para sustentarem os seus familiares.<br />
Os filhos de Telma passaram grandes dificuldades após a saída do pai. A família teve de se mudar para um<br />
outro sítio e construir uma pequena casa para albergar os cinco miúdos. Foram os seus filhos e a vontade de<br />
lhes dar uma vida melhor que levaram Telma a participar no programa de produção de alimentos da ONG espanhola<br />
Intervida, que actua na zona.
Douro<br />
José Manuel Fajardo<br />
Uma viagem que é também a descida de um rio paralelo de<br />
vinho, ao longo de quase mil quilómetros, onde se oferece ao<br />
paladar o carácter dos néctares da Ribera del Duero, Rueda,Toro,<br />
Tierra de Vinos, Los Arribes, Douro e Porto. Vinhos e gastronomia<br />
das terras de dois países unidos pela corrente do Douro, em torno<br />
da qual se enlaça também a vida dos seus habitantes.<br />
Rio Douro. Fotografia de Paulo Barata<br />
RIOS PROFUNDOS 76<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
77
RIOS PROFUNDOS 78<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
79<br />
Há um silêncio de igreja no bosque. A<br />
furgoneta branca, amparada pelos ramos<br />
de um pinheiro majestoso, confunde-se<br />
com a neve que cobre as ladeiras dos Picos<br />
de Urbião. Não se pode avançar mais, o<br />
caminho é intransitável e à frente do carro<br />
só se vêem as pegadas do fotógrafo e<br />
outras mais pequenas, à beira do caminho,<br />
que parecem de casco de corço. Que procuram<br />
dois jornalistas e um cozinheiro em<br />
plena serra de Sória, debaixo de neve, nesta<br />
manhã cinzenta do primeiro frio invernal?<br />
A resposta parece simples: a nascente do<br />
rio Douro.<br />
É um velho projecto. Há muito tempo<br />
que Mitxel Vega, um palentino robusto<br />
radicado há mais de trinta anos na Biscaia,<br />
proprietário e cozinheiro do restaurante<br />
Mas como todos os desejos,<br />
ao tornar-se realidade,<br />
este sonho viajante<br />
tem as suas surpresas<br />
e dificuldades<br />
Egoki, sonha descer o rio Douro, desde os<br />
picos onde nasce até à foz, no Porto.<br />
Essa viagem é também a descida de<br />
um rio paralelo de vinho, ao longo de<br />
quase mil quilómetros, onde se oferece ao<br />
paladar o carácter dos néctares da Ribera<br />
del Duero, Rueda,Toro,Tierra de Vinos, Los<br />
Arribes, Douro e Porto.Vinhos e gastronomia<br />
das terras de dois países unidos pela<br />
corrente do Douro, em torno da qual se<br />
enlaça também a vida dos seus habitantes.<br />
Mas como todos os desejos, ao tornar-<br />
-se realidade, este sonho viajante tem as<br />
suas surpresas e dificuldades. A primeira<br />
está aqui, no meio desta paisagem coberta<br />
de neve: é impossível encontrar a nascente<br />
do rio. A pequena bacia dos Picos de<br />
Urbião alimenta-se de uma infinidade de<br />
riachos, arroios e cascatas que acabam por<br />
formar um leito, sem que se possa determinar<br />
qual deles é o principal.<br />
Como um desafio, o Douro anuncia,<br />
assim, que não está disposto a facilitar-nos<br />
a vida. Não foi em vão que o seu curso foi,<br />
outrora, fronteira, separando as terras cristãs<br />
das muçulmanas durante a Reconquista,<br />
sendo-o ainda hoje entre Espanha e<br />
Portugal. Na serra, o vinho ainda não está<br />
presente; é o bosque com os seus carvalhais<br />
e pinheirais que alimenta a indústria<br />
madeireira de vilas como Doruelo de la<br />
Sierra. E um pouco mais abaixo, antes de<br />
empreender a descida até às planícies do sul<br />
de Sória, Mitxel Vega recolhe na margem do<br />
rio uma estaca pintada de vermelho na<br />
ponta e atira-a à corrente a partir de uma<br />
das pedras que fazem de ponte rústica, na<br />
zona de Salduero. Enquanto a vê afastar-se,<br />
rio abaixo, murmura: «Recolho-a no Porto.»<br />
Desafio aceite.<br />
Depois de traçar uma ampla curva,<br />
para contornar a serra de Hinodejo, e passando<br />
a cidade de Sória, o Douro dirige,<br />
então, as suas águas para poente, pela planície<br />
que conduz aos vinhedos de El Burgo<br />
de Osma. Ali, no restaurante Virrey Palafox,<br />
uns feijões de El Burgo e um prato de<br />
lombo de cerdalí em escabeche («um cruzamento<br />
de porca e javali», como explica o<br />
criado de mesa) protegem os ossos do frio<br />
das neves dos Picos de Urbião. Um tinto de<br />
Penafiel, Ciancas crianza 1989, vem completar<br />
o trabalho calefactor e serve de breve<br />
apresentação dos vinhos da terra.<br />
Poucos quilómetros depois, a «buena<br />
ciudad» de San Esteban de Gormaz, como<br />
foi apelidada no Cantar del Mío Cid, emerge<br />
da névoa, à beira do Douro. Junto à ponte,<br />
um canal do século XII, o primeiro de<br />
Castela, acalma as suas águas perante o que<br />
parece ser um velho moinho, mas o ruído<br />
de maquinaria que dele emana revela que<br />
continua activo. Jaime García de Cárdenas,<br />
um economista descontraído e conversador,<br />
moleiro por tradição familiar, conta-<br />
-nos que o moinho é fábrica de farinha<br />
desde 1916 e mostra-nos como o rio alimenta<br />
a turbina eléctrica da empresa.<br />
Falámos da Primeira Guerra Mundial, «que<br />
foi muito boa para a fábrica», das máquinas<br />
alemãs que utiliza e, claro, dos vinhos<br />
da Ribera del Duero: «Antes não tinham<br />
muita fama porque eram demasiado áspe-
os, mas isso mudou. O único mal é que os<br />
preços subiram um pouco.»<br />
Não muito longe do moinho, abre as<br />
suas portas a Adega San José, a cooperativa<br />
da terra que é a primeira com denominação<br />
de origem Ribera del Duero que se<br />
encontra na província de Sória. Uma adega<br />
com vinte anos de idade, «a grande desconhecida»,<br />
como lamenta o seu gerente,<br />
Carlos de la Rica. Nela se oferece um cenário<br />
que a partir daqui irá acompanhar-nos<br />
em quase toda a viagem: o espectáculo dos<br />
grandes e modernos depósitos metálicos<br />
onde se fermenta a uva da última colheita,<br />
e os barris de carvalho americano onde o<br />
vinho forma o seu carácter, pacientemente,<br />
à espera de se converter «em vinho de<br />
crianza, de reserva ou grande reserva, consoante<br />
o tempo que passe guardado no<br />
barril e na garrafa antes de ser posto à<br />
venda», segundo explica Jerónimo Saez, o<br />
presidente da cooperativa.<br />
Um processo útil, pelo qual o vinho<br />
envelhece graças à lenta oxidação através<br />
da porosidade da madeira de carvalho. A<br />
produção desta cooperativa são os vinhos<br />
comercializados com o nome de Doce<br />
Linajes: crianzas e um reserva de 1991.<br />
Seguir o curso do rio é mergulhar<br />
num vasto reino vinícola que submerge as<br />
suas raízes no tempo. Do século XIII ao<br />
século XVI, Ribera del Duero abasteceu de<br />
vinho todo o reino de Castela, e o seu vestígio<br />
preserva-se, ainda, nas entranhas das<br />
suas cidades. Assim se passa em Aranda del<br />
Duero, sob cujas ruas e edifícios existe um<br />
labirinto de adegas antigas, verdadeiras catacumbas<br />
do vinho.<br />
Uma delas estende-se por baixo do<br />
restaurante El Lagar, e Carlos, o empregado<br />
de mesa, acede mostrá-la depois de termos<br />
ajustado contas com uma espetada de rins<br />
de cordeiro, uma salada de pimentos assados<br />
com atum e anchovas, uns enchidos<br />
ibéricos e duas garrafas de tinto: um<br />
Emílio Moro, crianza 1992, e um Tierra de<br />
Aranda, crianza 1989, este último tocado<br />
pela mão generosa da colheita de um ano<br />
que recebeu a classificação de Excelente na<br />
Ribera del Duero.<br />
A adega que se retorce por baixo do El<br />
Lagar é, na realidade, a antiga adega de um<br />
dos vinhos veteranos da região, El Torremilanos,<br />
de D. Pablo Peñalba, um dos adegueiros<br />
que, com mais insistência, defende<br />
a necessária irmandade entre todos os<br />
vinhos do Douro, particularmente entre os<br />
da Ribera e os do Porto. Corredores estreitíssimos,<br />
escadas abismais, antigos depósitos<br />
de pedra para a fermentação, tudo nesta<br />
adega, agora desactivada, evoca outros<br />
tempos em que os operários arrastavam os<br />
pesados odres cheios de vinho até àquelas<br />
profundezas, em busca da sua conversão<br />
alquímica em delícia. E, à superfície, a con-<br />
Corredores estreitíssimos,<br />
escadas abismais,<br />
antigos depósitos de pedra<br />
para a fermentação,<br />
tudo nesta adega,<br />
agora desactivada,<br />
evoca outros tempos<br />
em que os operários<br />
arrastavam<br />
os pesados odres<br />
cheios de vinho<br />
até àquelas profundezas,<br />
em busca da sua conversão<br />
alquímica em delícia.<br />
tinuação da história leva-nos, esta noite, ao<br />
moderno pub El Bulevar, onde, também, o<br />
vinho é tema de conversa, e Mitxel Vega<br />
recorda, desta vez à volta de umas taças de<br />
crianza de Torremón de 1992, as excelências<br />
de outro vinho que fez história na região e<br />
que hoje é raro encontrar: o crianza Callejo<br />
de 1989, elaborado em Sotillo de la Ribera.<br />
No dia seguinte, saímos a caminho de<br />
La Horra, passando pelas casas de adobe de<br />
Villalba del Duero, tão características da<br />
região. Sucedem-se vastos vinhedos em<br />
ambos os lados da estrada. São os «domínios»<br />
de D.Alejandro Fernández, o produtor
RIOS PROFUNDOS 80<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
81<br />
do tinto Pesquera que, conjuntamente com<br />
o clássico Vega Sicilia e o veterano Protos,<br />
formam o triunvirato que deu fama à<br />
Ribera del Duero. Boa parte da uva<br />
Pesquera é oriunda destes vinhedos.<br />
Mesmo antes de chegar a La Horra,<br />
um cartaz anuncia a propriedade La<br />
Ventosilla. Por detrás do seu discreto<br />
nome, esconde-se uma das mais prósperas<br />
explorações agrárias da região, exemplarmente<br />
alimentada pelas águas do Pai<br />
Douro, como familiarmente lhes chamam<br />
alguns moradores. O seu administrador,<br />
Alfonso Velasco, um engenheiro de «montes»,<br />
alto e musculado, de rosto definido e<br />
curtido pelo vento, propõe-nos que troquemos<br />
a nossa furgoneta pelo seu todo-o-<br />
-terreno para visitar a propriedade. Sábia<br />
decisão porque a água formou uma pista<br />
deslizante que faz avançar o veículo, de<br />
escorregão em escorregão, como sobre<br />
uma pista de gelo.<br />
Nos mais de mil hectares da propriedade<br />
há de tudo. Desde os altos choupais,<br />
que alguns trabalhadores podam com a<br />
ajuda de braços mecânicos, até às colinas<br />
onde «se esconde o javali, que depois se<br />
mete nos milheirais e não há quem o faça<br />
sair deles, por mais cães que lhes aticem»,<br />
queixa-se Velasco. Nada se desperdiça na<br />
Ventosilla: onde se plantou milho, agora há<br />
forragem para as três mil ovelhas da propriedade;<br />
e, na época de caça, soltam-se<br />
perdizes de criação, para organizar batidas.<br />
Junto à estrada podem ver-se os estábulos<br />
de 450 vacas leiteiras. E, no mesmo rio, lá<br />
em baixo, uma central eléctrica aproveita a<br />
água retida por uma pequena represa<br />
(«construiu-a o meu avô, que era delegado<br />
régio da Confederação do Douro»,<br />
explica Velasco), alimenta a propriedade de<br />
energia e ainda sobra para vender à<br />
Iberdrola.<br />
E o vinho, claro. Quatrocentos e cinquenta<br />
hectares de vinhedos plantados<br />
segundo a moderna técnica de espaldeira,<br />
em filas sustentadas por dois cabos, o que<br />
permite maior exposição ao sol e facilita a<br />
colheita mecânica de uvas Tinta del País, a<br />
uva utilizada tradicionalmente na elaboração<br />
do Ribera del Duero, e algumas outras<br />
uvas para experimentar, como as francesas<br />
Merlot e Cabernet Sauvignon, rainhas dos<br />
vinhos de Bordéus. «Este ano, vendi meio<br />
milhão de quilos de uva ao Alejandro através<br />
do Pesquera), mas fiquei com um<br />
milhão porque vamos fazer o nosso próprio<br />
vinho», explica Alfonso Velasco,<br />
enquanto nos mostra a moderna adega de<br />
Real Sitio de la Ventosilla, onde se trabalha<br />
na elaboração do vinho, sob a vigilância de<br />
Javier, um enólogo riojano que deve assistir<br />
ao parto deste primeiro néctar.<br />
A outra face desta aventura encontramo-la<br />
em La Horra, cuja velha cooperativa<br />
comercializa os vinhos Viña Valera.<br />
Fundada em 1957, é um expoente do cooperativismo<br />
vinícola da região, que coexiste<br />
com florescentes adegas privadas, como<br />
Viñedos e Bodegas, de Valbuena de Duero,<br />
onde a cantora Rocío Jurado e o toureiro<br />
Ortega Cano têm interesses, e cujo vinho<br />
Matarromera obteve os maiores galardões<br />
internacionais, segundo nos conta Pedro<br />
Ronda, vice-presidente da cooperativa de<br />
La Horra.<br />
Mas existe também uma terceira<br />
dimensão do vinho, da qual Pedro Ronda é<br />
também o expoente: a particular. A boa<br />
recordação da cozinha de Mitxel Vega faz<br />
com que Ronda abra as portas da sua<br />
”bodeguita” «como a de Felipe González,<br />
mas mais modesta», sorri. Nela, Pedro<br />
Ronda guarda o vinho que ele mesmo produz<br />
em casa, artesanalmente: um vinho<br />
jovem com uma leve cintilação carbónica<br />
que o torna vivo e alegre na boca e que<br />
provamos com alguns enchidos, rodelas de<br />
morcela frita e um salmão que ele mesmo<br />
defuma. É a irmandade do vinho, a que<br />
ultrapassa marcas e prestígios, a mesma<br />
que permite que se desfrute de um grande<br />
vinho ainda que não ostente o selo de<br />
denominação de origem, como acontece<br />
com o Mauro, elaborado por ele, em Tudela<br />
de Duero, ele que fora enólogo de Vega<br />
Sicilia, mas cuja localização se encontra<br />
fora do território demarcado para a denominação<br />
Ribera del Duero; uma irmandade<br />
que se prolongou no almoço que fizemos<br />
em Roa de Duero, no estupendo restaurante<br />
El Chuleta, cujo filho do proprietário<br />
é distribuidor de um clube de vinhos<br />
da Ribera.
Em Roa del Duero encontra-se precisamente<br />
a sede do Conselho Regulador da<br />
Denominação de Origem Ribera del<br />
Duero, um edifício moderno que abriga a<br />
instituição que mais tem contribuído para<br />
a modernização dos vinhos da região. Aqui<br />
se provam os vinhos das diferentes adegas,<br />
se classificam as colheitas segundo a sua<br />
qualidade, se autorizam as variedades de<br />
uva que podem ser utilizadas para conservar<br />
o carácter dos vinhos da região e se<br />
controla a produção. É o coração da Ribera<br />
del Duero, um coração que controlará e<br />
dará garantia de qualidade à torrente de<br />
litros de vinho que os quarenta milhões de<br />
quilos de uva colhidos este ano, na região,<br />
haverão de produzir.<br />
A cidade de Tordesilhas, que se situa<br />
já fora da Ribera, em terras de Valladolid,<br />
é um bom lugar para pernoitar e começar<br />
a perceber a presença portuguesa que presidirá<br />
ao último troço do trajecto do<br />
Douro. Aqui, em 1494, os reis de Portugal<br />
e de Castela dividiram o mundo, depois<br />
dos Descobrimentos, mediante um célebre<br />
tratado; tal como hoje, os dois países<br />
dividem os vinhos do rio que os separa e<br />
os une.<br />
Castronuño, pouco antes de chegar a<br />
Toro, ergue-se sobre a penha de La Muela,<br />
na majestosa curva do Douro, tudo choupais<br />
e patos. E a seus pés, precisamente<br />
sobre um toco de choupo, Mitxel Vega<br />
encontra uma colónia de cogumelos cuja<br />
colheita se dispõe a saltear na cozinha de<br />
um qualquer bar condescendente. O Pai<br />
Douro sabe mostrar-se generoso, embora<br />
os farelhões da cidade de Toro já anunciem,<br />
também, a violenta mudança do seu leito<br />
que nos espera.<br />
Se, outrora, os vinhos do Douro tiveram<br />
fama de ser duros e ásperos, essa fama<br />
continua, ainda hoje, a perseguir os vinhos<br />
de Toro. Contra ela lutam adegueiros como<br />
Manuel Fariña, homem inquieto e aberto<br />
às novidades do mundo do vinho, que<br />
coloca sobre a mesa o seu melhor argumento<br />
para acabar com a lenda de «vinhos<br />
para dar esfregas»: o seu jovem vinho<br />
«Fariña», um vinho que, por milagre climático<br />
raro, é o primeiro vinho de 96 que já<br />
se pode degustar.<br />
«Aqui utilizamos as variedades de uva<br />
Tinta de Toro, que é uma variedade da<br />
Tempranillo e da Garnacha, mas o terreno é<br />
muito quente, com muita pedra que conserva<br />
o calor», explica Fariña. «Isso faz<br />
com que a uva amadureça muito cedo, mas<br />
como a colheita se fazia ao mesmo tempo<br />
que no resto da Espanha, no final de<br />
Setembro, a uva chegava já com um elevado<br />
grau de álcool e por isso saíam uns<br />
vinhos tão fortes. Nós adiantámos a colheita<br />
um mês, de modo que a colhemos agora<br />
em plena maturação, mas mais suave. Além<br />
disso, ganhamos tempo, o que nos permite<br />
obter, em Novembro, o primeiro vinho<br />
do ano, um vinho jovem que entre nós se<br />
chama «Beaujolais de Toro». Apelido profético<br />
porque precisamente o ano passado,<br />
com o boicote internacional aos produtos<br />
O Pai Douro sabe mostrar-se<br />
generoso, embora os<br />
farelhões da cidade de Toro<br />
já anunciem, também,<br />
a violenta mudança<br />
do seu leito que nos espera.<br />
franceses pelos testes nucleares em Muroroa,<br />
Fariñas recebeu encomendas da Holanda<br />
para fazer chegar quantas garrafas pudesse<br />
de «beaujolais de Toro», em substituição<br />
do boicotado beaujolais francês. O resultado<br />
foi cem mil garrafas vendidas o ano<br />
passado e um bom gosto nas bocas holandesas,<br />
o que implicou o pedido de 200 mil<br />
garrafas para este ano.<br />
Apenas sete adegas têm a denominação<br />
de origem de Toro, mas na região produzem-se<br />
também outros vinhos chamados<br />
«Tierra del Vino», onde os adegueiros<br />
(inclusive alguns dos que fazem os vinhos<br />
de Toro, como Fariñas) se permitem experimentar<br />
outras variedades de uvas, como<br />
moscatel e albillo, para vinhos brancos doces.<br />
Para lá de Zamora e acrescentado pelas<br />
sucessivas barragens, o rio Douro colide
RIOS PROFUNDOS 82 83<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
com a serra do Mogadouro e desvia-se<br />
para sul, convertendo-se, durante cem quilómetros,<br />
em fronteira natural entre<br />
Portugal, situado na sua margem direita, e<br />
as terras espanholas que se estendem à sua<br />
esquerda. O terreno torna-se abrupto e,<br />
pouco a pouco, o rio interna-se num desfiladeiro<br />
sem fim que o acompanhará até à<br />
foz. Assim avança, encaixado e distante,<br />
fundido na paisagem e rodeado de solidões<br />
vertiginosas.<br />
Nessa fronteira, do lado espanhol e por<br />
entre as províncias de Zamora e Salamanca,<br />
produzem-se os vinhos de Los Arribes<br />
(Fermosella e a chamada Ribera de<br />
Salamanca), duros e agressivos. Pernoitámos<br />
em Vitigudino, onde um vinho de<br />
Valladolid, um Yllera de 1992, acompanha<br />
um leitão assado, e Mitxel Vega propõe<br />
abandonar a estrada de Portugal para nos<br />
aproximarmos do desfiladeiro do rio, em<br />
busca dos vinhedos que geram os violentos<br />
néctares da região.<br />
Não há maneira de ver o rio. Para lá<br />
das pastagens, é só barrancos, em cujas<br />
encostas e cumes se alinham vinhedos, varridos<br />
pelo vento, entre oliveiras e inesperadas<br />
laranjeiras, porque o microclima da<br />
região possibilita uma insuspeitada variedade<br />
de culturas. Nas imediações de<br />
Corporario, um cartaz que diz «A la playa»<br />
fez-nos seguir uma estrada infernal que<br />
termina num alto penhasco onde se vêem<br />
os restos do que deve ter sido um posto<br />
militar com troneiras. Ao lado, a base de<br />
um mastro de bandeira e um vinhedo já<br />
abandonado. Duas galinholas escapam de<br />
uma moita, com voo atordoado, para<br />
desespero de Mitxel, em cujo olhar brilha,<br />
por um instante, a cobiça do caçador veterano.<br />
E ali em baixo vê-se, por fim, o<br />
Douro serpenteante que espelha o sol frio<br />
da manhã. Do outro lado do abismo, as terras<br />
de Portugal.<br />
Quando, por fim, encontramos o desvio<br />
de «la playa», um caminho ziguezagueante<br />
conduz-nos directamente até à margem do<br />
rio, um retiro silencioso e imponente, ocasionalmente<br />
sobrevoado por cormorões,<br />
onde há uma minúscula praia de areia, amarelada<br />
de choupos, e um pequeno cais, promessa<br />
dos verões na fronteira.<br />
Mais a sul, na confluência com o rio<br />
Águeda, o Douro torna-se navegável e, em<br />
território espanhol, erguem-se as instalações<br />
desertas do porto de Vega de Terrón,<br />
que estão há um ano e meio à espera de<br />
serem inauguradas. Na margem portuguesa<br />
vêem-se tangerineiras e vinhedos vermelhos,<br />
mas não se vê vivalma. Falso.<br />
Vemos agora um homem apeado na berma<br />
da estrada. É o guarda do porto, Gabriel<br />
Hernández Berrocal, um antigo trabalhador<br />
da Iberduero que viveu, durante<br />
alguns anos, em Basauri e que ficou coxo e<br />
famoso porque uma árvore lhe caiu em<br />
cima («apareci no programa de televisão<br />
“Valor e Coragem”», explica com naturalidade).<br />
De momento, é o único beneficiário<br />
deste porto, chamado a facilitar o tráfego<br />
fluvial de mercadorias no dia em que as<br />
autoridades decidirem dar-se conta da sua<br />
existência. Mas semelhante privilégio não<br />
parece afectá-lo: «No Verão, vêm aqui os<br />
de Madrid e dizem-me: que bonito! Bom,<br />
mas eu não gosto!» E a paisagem, imponente<br />
e silenciosa, não parece ter nada a<br />
objectar à indiferença do seu guardião.<br />
No outro lado do rio, a povoação de<br />
Barca de Alva dá-nos as boas-vindas a<br />
Portugal, com um vinho da terra, um<br />
Vinha Lamedo rosado de 1992, que não<br />
tem nada que invejar, em virulência, os<br />
seus irmãos salamanquinos. Aqui começa<br />
uma tremenda viagem, uma espécie de<br />
montanha-russa interminável onde só ocasionalmente<br />
conseguimos avistar o Douro<br />
(assim se chama el Duero, em português),<br />
comprimido entre as inúmeras montanhas<br />
do Norte de Portugal. Os vinhedos galgam<br />
alturas inconcebíveis, assomam-se em terraços<br />
laboriosamente trabalhados para formar<br />
as quintas que haverão de alimentar as<br />
adegas dos vinhos do Douro e do Porto.<br />
Nesta região acontece um raro fenómeno.<br />
Entre Freixo de Espada à Cinta e<br />
Mesão Frio estende-se uma região vinícola,<br />
que tem o Douro como espinha dorsal,<br />
dividida em três partes: Baixo Corgo (a mais<br />
ocidental, de clima mais temperado e<br />
húmido), Douro superior (a mais oriental,<br />
mais quente, menos húmida e com vinhedos<br />
de maior altura) e Cima Corgo (a parte<br />
central, mais equilibrada em humidade e
temperatura). Nela se produzem ambos os<br />
tipos de vinho, porque os vinhedos do<br />
vinho do Porto não estão no Porto mas a<br />
cem quilómetros para o interior, nesta<br />
terra do Douro que tem a cidade de Peso<br />
da Régua como capital do vinho.<br />
Nela encontramos o enólogo da Casa<br />
do Douro (equivalente ao Conselho<br />
Regulador da Ribera del Duero), Eduardo<br />
Abade, um português de quarenta anos,<br />
nascido em Angola, que nos mostra as instalações<br />
da Casa enquanto nos fala dos<br />
vinhos da terra: «Os vinhos do Douro são<br />
vinhos normais, brancos e tintos, enquanto<br />
os do Porto são os vinhos con solera,envelhecidos,<br />
dulcificados e misturados com<br />
aguardente.» A região produz 10% dos<br />
vinhos portugueses e, desses 10%, 50%<br />
destina-se a «portos», cerca de 30% a<br />
vinhos do Douro e 20% ao que se chama<br />
vinhos da região, o equivalente aos vinhos<br />
sem denominação de origem que se fazem<br />
em Zamora ou em Valladolid. No total: 130<br />
milhões de litros de vinho de produção em<br />
1996. Todo um império, o que não é de<br />
estranhar se se pensar que esta região vinícola<br />
foi a primeira do mundo, delimitada e<br />
regulamentada no ano de 1756.<br />
Da sua valia, registe-se, durante o jantar<br />
no restaurante Varanda da Régua (sobranceiro<br />
à cidade), dois excelentes vinhos brancos<br />
frutados: um Quinta de Santa Júlia de<br />
1995 e um Quinta da Gaivosa do mesmo<br />
ano, mistura de uvas Malvasia e Códega, o<br />
primeiro,Vio Sinho e Ravigato, o segundo,<br />
que acompanham uma clássica caçarola de<br />
arroz de marisco.<br />
Por fim, sexta-feira pela manhã chegamos<br />
à cidade do Porto, empoleirada labirinticamente<br />
nas colinas que tutelam o<br />
Douro. Abaixo, na margem do rio, as<br />
velhas adegas dos vinhos do Porto alinham-se<br />
com solenidade britânica (não foi<br />
em vão o comércio destes vinhos com<br />
Inglaterra, a origem de tão frutífera indústria).<br />
Numa delas, governada no século<br />
passado pela chamada Rainha do Douro, a<br />
Senhora D. Antónia Ferreira, e que tem<br />
uma exótica avestruz como símbolo, recebe-nos<br />
Fernando Xavier, chefe de serviços<br />
da adega, homem baixo, magro, com um<br />
pequeno bigode e elegantemente vestido,<br />
que caminha com uma mão no bolso do<br />
casaco, como se se tratasse de um diligente<br />
funcionário da Coroa britânica na Índia,<br />
circunspecto e amável, anfitrião oportuno<br />
e preciso da visita às suas adegas frescas e<br />
formosas, onde os vinhos aprendem definitivamente<br />
o significado do verbo envelhecer.<br />
«Quando Felipe González era presidente,<br />
veio visitar-nos e demos-lhe a provar<br />
um vinho de 1815, em memória da<br />
Constituição de Cádis», comenta, sem que<br />
o abismo do tempo pareça incomodá-lo.<br />
Da adega, os vinhos do Porto saem<br />
como Tawny, a sua versão menos envelhecida,<br />
Ruby, com mais anos no barril, e portanto<br />
mais amadeirados, ou Vintage: aqueles<br />
vinhos de colheitas especialmente boas<br />
que são engarrafados aos dois anos e guardam,<br />
com o tempo, o seu primeiro e frutado<br />
aroma.<br />
À saída, à beira-rio, Mitxel Vega parece<br />
ter esquecido a estaca que lançou à água<br />
em Salduero, certamente vencido pela prodigalidade<br />
sábia do Douro, enquanto a<br />
recordação do Porto de 1937, que provámos<br />
à noite, ainda me fala no paladar das<br />
delícias de um tempo em que eu ainda não<br />
tinha nascido. É o milagre do vinho.<br />
Rio Douro. Fotografia de Paulo Barata
Aconcágua,<br />
a Rainha das Américas<br />
João Garcia<br />
ALTAS SOLIDÕES 84 85<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007
ALTAS SOLIDÕES 86<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
87<br />
Já foi há muito tempo, mas, pela quantidade<br />
de vezes que repeti esta viagem,<br />
parece-me que foi apenas ontem que de lá<br />
cheguei. É assim que me acontece com os<br />
destinos de que gosto muito. Quem corre<br />
por gosto não cansa, diz o ditado. Com o<br />
Aconcágua acontece-me isso. E, sempre que<br />
lá volto, aprofundo mais um pouco, acrescento<br />
histórias e marcos à minha memória.<br />
Já escalei tanto na Patagónia argentina,<br />
como na Cordilheira Branca, no Peru.Volto<br />
sempre ao Aconcágua, o ponto mais perto<br />
do céu em que se pode estar no Continente<br />
Americano.<br />
Esta ascensão efectua-se durante o<br />
Verão local, Inverno na Europa. Nem sequer<br />
faz frio, mas a época natalícia ajuda a criar<br />
ambiente e quase nos faz crer que está frio.<br />
Enfim, chegamos a uma terra onde as<br />
pessoas vivem e se vestem de forma diferente<br />
e, assim, nos ajudam a despirmo-nos<br />
de preconceitos e a ser abraçados por uma<br />
cultura diferente. Bem podem dizer que<br />
somos «latinos», mas este nosso modo de<br />
estar quase fatalista, que o fado tão bem<br />
sabe retratar, faz-me admirar quem simplesmente<br />
canta canções alegres, apenas<br />
por ser alegre…<br />
Visto do ar, o Aconcágua sobressai<br />
como um monólito imponente. É a Rainha<br />
das Américas, tem mais de 6946 m de altitude,<br />
uma montanha de quase 7000 m,<br />
Visto do ar, o Aconcágua sobressai<br />
como um monólito imponente.<br />
É a Rainha das Américas, uma montanha<br />
de quase 7000 metros, mais alta do que<br />
qualquer outra no continente americano.<br />
mais alta do que qualquer outra no<br />
Continente Americano.<br />
A viagem propriamente dita começa<br />
em Santiago do Chile, onde após um breve<br />
período para descanso e aprovisionamentos<br />
nos deslocamos a La Parva, 50 km a norte da<br />
capital. É uma estação de esqui e, neste<br />
Verão tórrido, o nosso pedido de transporte<br />
espanta o motorista de táxi.<br />
A 50 km a norte de Santiago, já avistamos<br />
neves eternas. Aqui, a um dia de distância<br />
desta estância de esqui, escalamos o<br />
Cerro Plomo, de mais de 5000 m de altitude.<br />
São cinco dias que servem de aclimatação,<br />
em que damos tempo ao organismo para<br />
se adaptar ao ar rarefeito, devido à baixa de<br />
pressão atmosférica, ao frio, ao chão duro<br />
e ao desconforto de uma mochila pesada.<br />
Ao chegarmos ao seu cume, compreendemos<br />
o sentido do nome da montanha: plomo,<br />
chumbo, é o que sentimos nas pernas…<br />
Regressamos a Santiago, que agora já<br />
não nos é estranha e nos acolhe numa passagem<br />
de ano um pouco tardia, e apanhamos<br />
depois um autocarro para Mendonza,<br />
na Argentina. Embora o monte Aconcágua<br />
esteja praticamente na fronteira entre estes<br />
dois países, o acesso à montanha faz-se pelo<br />
lado argentino. É aqui que temos de pagar<br />
para entrarmos no seu Parque Nacional.<br />
Na viagem podemos admirar vales áridos,<br />
céu azul-escuro e, com sorte, talvez o
voo de um condor-de-colarinho-branco.<br />
No final das tortuosas curvas e contracurvas<br />
dos caracoles, podemos ver por breves<br />
momentos a majestosa face Sul do Aconcágua,<br />
desde a estrada que iremos refazer.<br />
Se Santiago é quente, então Mendonza<br />
está a escaldar em todos os sentidos… Na<br />
rua faz muito calor e toda a gente procura<br />
as sombras para passear à tarde. Aqui tratamos<br />
da logística e da burocracia para<br />
seguirmos viagem.<br />
Este intervalo na viagem também vale<br />
pelo repouso mental pois, ao contrário do<br />
que se pensa, escalar montanhas faz-se não<br />
só com as pernas, mas também com a força<br />
da mente. Se a mente não está bem, as pernas<br />
não correspondem…<br />
Seguem-se mais umas horas de viagem<br />
nos autocarros locais, económicos e pitorescos,<br />
e voltamos às grandes paisagens áridas<br />
e belas das montanhas. O grosso da<br />
bagagem é transportado por mulas e controlado<br />
por muleiros que seguram uma<br />
faca atrás das costas, presa numa faixa de<br />
tecido na cintura. O chicote que usam<br />
impõe respeito, e o seu chapéu típico protege<br />
do sol tórrido.<br />
Ao chegarmos ao Campo-Base, revejo<br />
amigos de todos os anos, alpinistas profissionais<br />
que, tal como eu, fazem regularmente<br />
expedições ao Aconcágua. Revejo a<br />
montanha, naturalmente bela, e sinto a<br />
Subimos com João Garcia<br />
ao tecto das Américas<br />
e como Neruda avistámos o mundo.<br />
refrescante temperatura da altitude. Os ventos<br />
da montanha nem sempre são amigos,<br />
mas a perseverança do homem ultrapassa as<br />
dificuldades e os elementos.A força de vontade<br />
para subir, mas também para descer.<br />
Porque o cume é apenas um ponto de<br />
retorno, a descida é o mais importante.<br />
Os ventos têm de estar connosco, as<br />
frágeis tendas onde pernoitamos são a<br />
nossa salvação em caso de mau tempo, de<br />
intempérie e instabilidade meteorológica,<br />
factores próprios das montanhas com os<br />
quais temos de estar preparados para lidar.<br />
Chegar lá acima é uma sensação incrível!<br />
Tenho casa em todas as montanhas<br />
deste Planeta e, quanto mais alto, mais belo<br />
é o pôr do Sol visto de minha casa.<br />
O regresso ao vale, esse, é a felicidade.<br />
Podemos respirar fundo, descansar e<br />
gozar em pleno. Temos ainda tempo,<br />
vamos ver o Pacífico, Valparaíso, Viñas del<br />
Mar… A suavidade do mar contrasta com<br />
a agressividade da montanha, a viagem<br />
está assim completa!
BESTIÁRIO 88 89<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
O Ovo do Pinguim<br />
ou Crónica<br />
de um Amor Maior<br />
Maria Adelina Amorim<br />
Oi filhote! Esse aí não é o Erich? Ilustração de Daniel Barraco
BESTIÁRIO<br />
Meu filhote,<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
90<br />
91<br />
Agora que te vais iniciar na grande viagem das<br />
neves eternas, ao lugar em que só os nossos casacos<br />
pretos polvilham de negro a brancura primacial<br />
dos tempos, quero contar-te uma história, a<br />
nossa história.<br />
Há muito, muito tempo, olhei para um grupo<br />
de pinguinas – era assim que carinhosamente tratávamos<br />
as mulheres da nossa tribo – e dei de<br />
caras, que é como quem diz, de bicos, com um<br />
pestanejar de olhos meio envergonhado, com um<br />
rosto discretamente inclinado sobre os ombros.<br />
Fiquei petrificado naquele corpo luzidio, fusiforme,<br />
naquelas penas sedosas, naquelas asas-barbatanas<br />
perfeitas. Finalmente, vi-a afastando-se com<br />
as amigas pinguinas, sob o poente coado do Pólo.<br />
Que porte, que elegância e que bom gosto: um<br />
vestido branco com um fraque negro, que lhe<br />
dava um ar de ambiguidade sedutora… Hoje<br />
todos querem copiá-la, e até vieram cá das terras<br />
quentes do Norte para tirar fotografias ao modelo.<br />
Dizem que nas capitais da moda é muito chique<br />
vestir à pinguim, uma espécie de ton sur ton, tão ao<br />
jeito da capital parisiense (sim, que por cá vemos<br />
o National Geographic, que sintonizamos directamente<br />
dos satélites com que resolveram poluir os nossos<br />
gelos, e sabemos muito bem onde ficam essas<br />
terras de selvagens, animais estranhos metidos em<br />
gaiolas de cimento e a correr de um lado para o<br />
outro dentro de máquinas que deitam muito<br />
fumo, umas bestas… a que chamam homens,<br />
parece).<br />
Contava-te eu que fiquei completamente congelado<br />
com aquele olhar. Naquele momento, congelei<br />
também uma ideia: aquela era a pinguina da<br />
minha vida, e andaria milhas atrás dela até a convencer<br />
a darmos as asas. E assim foi, anos depois<br />
casámos numa madrugada brilhante junto às<br />
águas frias onde nos conhecêramos e partimos de<br />
lua-de-mel para a Antárctida profunda. Foi assim<br />
que começámos a pensar em ti, a acalentar a ideia<br />
de pormos um ovo para nele depositarmos uma<br />
cria, que seria o espelho daquele amor austral.<br />
Nem sabes como eram lindas as noites consteladas<br />
em que caminhávamos, de barbatanas dadas,<br />
ouvindo o silêncio das estrelas. Um dia ela, a tua<br />
mãe, tornou a olhar para mim como da primeira<br />
vez e disse-me «estamos grávidos». Senti um<br />
arrepio na coluna – nunca devemos dizer espinha<br />
para não nos confundirem com os peixes – e dei-<br />
-lhe um beijo no bico. Abraçando-nos muito ternamente,<br />
fomos sentar-nos nas rochas a observar<br />
os leões-marinhos que tinham acabado de ter<br />
filhotes.<br />
Foi aí que começou a grande aventura, tínhamos<br />
de nos preparar para te levar para longe dos<br />
predadores e, numa espécie de peregrinação<br />
colectiva, iniciámos a longa viagem até ao interior<br />
gélido do continente. Eras um belo ovo, e era preciso<br />
levar-te cuidadosamente ao colo para não caíres,<br />
para te manteres quentinho junto às nossas<br />
penas e aos nossos corações. Assim andámos quilómetros<br />
adentrando os desertos das lonjuras infinitas.<br />
A meio da marcha, a tua mãe, com as outras<br />
pinguinas, tiveram de regressar aos mares para se<br />
alimentarem, e aí foi o momento crucial desta<br />
cruzada: era preciso trocarmos o ovo de um colo<br />
para o outro, mantendo-te sempre apoiado nas<br />
nossas asas-barbatanas. Finalmente, tinha-te agarradinho<br />
ao meu peito para continuarmos a jornada.<br />
Eu e os outros pais caminhávamos incessantemente<br />
em longas filas até ao sítio onde os nossos<br />
pais, avós, trisavós, enfim, tinham poisado os seus<br />
próprios ovos. Ao mesmo tempo, tu ias crescendo<br />
e ganhando força para quebrares a casca num dia<br />
dourado e róseo. Foi assim que, numa madrugada,<br />
aquele ovo, que eu e a tua mãe tanto cuidámos,<br />
abriu-se para deixar ver um pequeno pinguim<br />
preto todo dobradinho. Que susto quando te vi<br />
naquele aspecto: onde estavam as penas sedosas<br />
da tua mãe, o claro-escuro que nos identifica e dá<br />
carácter no meio daquela brancura sempre igual,<br />
as vestes elegantes que nos distinguem dos vulgares<br />
leões-marinhos, das focas, ou até das orcas<br />
que vemos passar ao longe, e das outras primas<br />
baleias que nos cumprimentam sempre com um<br />
jorro de água?<br />
Lentamente, enquanto te ensinávamos os<br />
elementares princípios da sobrevivência, foste<br />
ganhando cores e tomando o porte nobre e incon-
fundível da nossa espécie: repara como nas passereles<br />
da moda nos tentam imitar, pata aqui, pata<br />
acolá, tira casaco, põe casaco… e nas cerimónias<br />
que os homens fazem nos salões de festas, elas<br />
todas de preto comprido, eles vestimentando-se<br />
com casacas negras e camisas brancas… uma<br />
beleza.<br />
Era preciso avisar toda a família espalhada<br />
pelo mundo, o ramo hispânico que vive nas<br />
Galápagos (da ilha de San Cristóbal a Santa Cruz,<br />
da Genovesa à Fernandina, de Santa Fé a Santa<br />
Maria), o ramo australiano que se instalou na<br />
Nova Zelândia, e até o grupo mais exótico que<br />
vive na Namíbia, a sul de Angola. Eu e a tua mãe<br />
recorremos a toda a parafernália de técnicas de<br />
comunicação marítima, aérea, terrestre, e todos os<br />
amigos se disponibilizaram a levar os telegramas,<br />
das gaivotas aos albatrozes, dos ursos polares às<br />
tartarugas (não sorrias porque elas são verdadeiras<br />
campeãs de natação e conhecem os mares como<br />
ninguém, senão como teríamos avisado os primos<br />
africanos?), e até o tubarão-martelo participou<br />
fazendo sinais de morse.<br />
Foi assim que todos ficaram convidados para<br />
o grande dia do teu registo no mapa austral. Eras<br />
então um descendente do grande Reino da Animalia,<br />
Filo da Chordata, da Classe das Aves, da Ordem dos<br />
Ciconiiformes, da Família dos Spheniscidiae, e eras,<br />
como os orgulhosos dos teus pais, um pinguim-<br />
-imperador, ou seja, um Aptenodytes forsteri. Sim,<br />
porque para além do nosso Género, ainda há o<br />
pinguim-rei ou, mais propriamente, o Aptenodytes<br />
patagonicus e outros, como o pinguim-de-barbicha,<br />
o pinguim-saltador-da-rocha, o macaro, o das<br />
barbatanas, o real, o azul... e outros com nomes<br />
daquelas pessoas que não deviam ter mais nada<br />
para fazer e vieram dividir-nos, subdividir-nos,<br />
catalogar-nos, seleccionar-nos, como aquele Darwin<br />
ou o Humboldt. Imagina um pinguim chamado<br />
Sphenicus Magellanicus ou Sphenicus Humboldti, ou até o<br />
mendiculus e o demersus, que ficaram com estes<br />
nomes por viverem ali para o lado do Equador, e<br />
os outros no Continente Africano. Mas quem deu<br />
ordem àqueles mamíferos hominídeos para nos<br />
desenharem em árvores genealógicas (nem vejo<br />
quem foi o génio) cheias de ramos onde penduram<br />
os nossos retratos? Antigamente, só havia o<br />
avô e a avó pinguins, a mãe e o pai pinguins, os<br />
irmãos, filhos, tios e por aí adiante. Agora, a confusão<br />
é tão grande que já nem sabemos se perten-<br />
cemos à mesma família ou se somos parentes afastados.<br />
O que vale é que sabemos falar uma língua<br />
que eles, por mais estelas que descodifiquem,<br />
jamais conseguirão aprender. Pensam que sabem<br />
tudo, os vaidosos.<br />
Na verdade, não precisamos deles para nos<br />
ensinarem a nadar, a caminhar, a comer, a ficar<br />
grávidos e a pôr ovos. Por causa disso é que fugimos<br />
para muito longe daqui quando as pinguinas<br />
acham que os ovos que têm nas bolsas estão prontos<br />
(até nisso eles nos imitaram com aqueles cestos<br />
onde põem os filhos às costas, que compram<br />
naquelas lojas de instrumentos estranhíssimos<br />
onde deitam os filhos, que abanam, que têm rodinhas,<br />
chapéus de chuva, plásticos, cobertores,<br />
biberões, fraldas descartáveis, leite postiço, chuchas<br />
para calarem as crias… eu sei lá, têm-me<br />
contado coisas muito esquisitas daqueles animais<br />
humanos). Nós, ao menos, não precisamos de<br />
nada para além de amor, de vontade e de peixe no<br />
mar para vivermos e criarmos os nossos bebés-<br />
-pinguins. Até o que nós comemos tiveram de<br />
nomear, sim, porque têm a terrível obsessão de<br />
pôr nomes às coisas, aos lugares, aos bichos… não<br />
deixam nada sossegado com aqueles latinismos,<br />
que agora com a mania da era informática transformaram<br />
em inglesismos: à nossa comidinha<br />
chamam Kril, imagina bem. O que é que eles<br />
sabem daquela mistura que só nós conseguimos<br />
preparar tão bem, para lhe chamarem aquele<br />
nome feio? Vá lá a pinguinada entendê-los.<br />
Bom, filhote, agora que já fechei o guarda-jóias<br />
da família onde guardamos as nossas<br />
memórias, fico à espera do neto que hás-de trazer<br />
caminhando ao teu lado, quando regressares<br />
da grande viagem. Que os bons ventos protejam<br />
o teu ovo para o veres transmudado em pinguim.<br />
Mais um imperador para continuar a<br />
nossa história.<br />
Dá cá essas asas…
Erotismo e gula<br />
na América,<br />
desde o tempo colonial - I<br />
Virginia Vidal<br />
SABORES PRINCIPAIS 92 93<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Aqui, no Novo Continente, nesta terra minha sem nome,<br />
sem América, como lhe chamava Neruda, achava-se a mais<br />
esplêndida reserva de aves, peixes e animais desconhecidos,<br />
de frutas, hortaliça e especiarias, não só para saciar a fome,<br />
mas também como ritual amoroso e oferenda às divindades.<br />
Morning Grace, óleo de Martin Maddox, 1991 © Todos os direitos reservados ao autor
SABORES PRINCIPAIS 94<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
95<br />
Como os cozinheiros devem bater, coar e<br />
pisar, para transformarem a substância em<br />
deleitoso acidente para que assim satisfaça a<br />
vossa gulosa degustação! Dos duros ossos<br />
extraem o tutano e não desperdiçam nada que<br />
possa ser doce e suave para a garganta. De<br />
casca e picantes, de raízes e folhas se compõe o<br />
delicioso molho para o glutão,para lhe despertar<br />
um fresco apetite.<br />
[Chaucer, El cuento del perdonador]<br />
As receitas ou os segredos de cozinha<br />
dão o seu pequeno contributo para a felicidade<br />
humana, como proclama Pablo<br />
Neruda:<br />
Procuremos no mundo a mesa feliz.<br />
Procuremos a mesa onde se aprenda a comer.<br />
Onde se aprenda a comer, a beber, a cantar!<br />
A mesa feliz.<br />
A qualquer momento, a azáfama de<br />
Eros com as panelas permite inferir que<br />
erotismo e gula são caminhos de sabedoria,<br />
e não hesito em afirmar que boa parte<br />
do engenho humano se esmerou para<br />
encontrar elementos – alimentos – que<br />
outorguem juventude e poderes afrodisíacos<br />
a quem os ingerir.A procura da rota das<br />
especiarias não foi outra coisa senão isso,<br />
por exemplo, o cravinho ou giroflé, a<br />
pimenta em todas as suas fases, a noz-moscada<br />
com a sua delicada casca, para citar<br />
apenas algumas que conservariam as carnes<br />
nos longos invernos e animariam o<br />
corpo.<br />
Aqui no Novo Continente, nesta «terra<br />
minha sem nome, sem América», como lhe<br />
chama Neruda, havia a mais esplêndida<br />
reserva de aves, peixes e animais desconhecidos,<br />
de frutas, hortaliças e especiarias,<br />
não só para saciar a fome, mas também<br />
como ritual amoroso e oferenda às divindades.<br />
Semelhante sentido religioso estava<br />
incorporado no trigo para a farinha das<br />
hóstias e na videira para fabricar o vinho de<br />
consagração que os sacerdotes recém-chegados<br />
usavam na missa.Também traziam o<br />
azeite de oliveira, só para manter a luz,<br />
que, além de se usar para acender as lamparinas<br />
votivas e como santo óleo na admi-<br />
nistração dos sacramentos do baptismo,<br />
confirmação e extrema-unção, permitia<br />
temperar as saladas e dar-lhes um aroma<br />
celestial.<br />
Ah!, também traziam os citrinos que<br />
os árabes lhes ensinaram a cultivar, de<br />
modo que as saladas foram temperadas<br />
com limão e se acalmou a sede com sumo<br />
de laranja, e plantaram as amendoeiras a<br />
cuja semente o poeta cubano Lezama Lima<br />
prestou homenagem:<br />
Encanecida e escultórica serenidade da amêndoa<br />
Que recebe a embriaguez do mel feito escarcha<br />
de ambrosia.<br />
Os conquistadores – os senhores – da<br />
arte culinária tinham uma tradição que<br />
remontava ao grego Entidimo. Eles trouxeram,<br />
além dos cavalos, reses, porcos e aves<br />
de capoeira com a galinha como rainha,<br />
porque os ovos se converteram de imediato<br />
num alimento delicioso. Com o afã de<br />
cuidar das poedeiras, raramente se matava<br />
uma ave, de modo que este acontecimento<br />
só ocorria em ocasiões memoráveis e a sua<br />
canja era reservada para as mulheres depois<br />
de darem à luz, os convalescentes, os doentes<br />
com gripe, para festas de aniversário e<br />
outros acontecimentos especiais.<br />
Os naturais pescavam em mares e rios,<br />
caçavam na selva aves e mamíferos e obtinham<br />
as necessárias proteínas, mas os conquistadores<br />
trouxeram algo de novo: os<br />
animais domésticos que podiam ser criados<br />
pelos homens e estar ao alcance da<br />
mão. Assim proliferam as reses, os caprinos,<br />
os cordeiros, os porcos e as aves de<br />
capoeira, então as galinhas foram criadas e<br />
tratadas com muito amor, evitando matá-<br />
-las, para poderem dispor dos seus ovos.<br />
Também os escravos africanos contribuíram<br />
grandemente para a rica cozinha<br />
mágica americana com uma grande audácia<br />
para combinar produtos diversos e a<br />
incorporação de frutos que, sem serem<br />
necessariamente originários de África, ali<br />
tinham proliferado, como diversas espécies<br />
de bananas. Algo semelhante aconteceu<br />
com os cocos e o café. Este delicioso grão<br />
converteu-se na indispensável matéria que<br />
se serve à sobremesa. A poetisa mexicana
Rosario Castellanos soube evocar magistralmente<br />
esses tempos idos:<br />
Depois de comerem ainda ficam<br />
À volta da mesa. E ali fumam<br />
Os homens o seu charuto; as mulheres<br />
Prosseguem um labor paciente, cuja origem<br />
Mal se recorda. Un negro café fumega<br />
Em chávenas amiúde requeridas<br />
…………<br />
para sua plenitude este instante mais não quer<br />
que ser e passar.<br />
Quanto à cana-de-açúcar indiana, o seu<br />
cultivo viria a desenvolver-se apenas aqui.<br />
Dizer cana é dizer açúcar escuro, papelón,<br />
panela, chancaca. Quer dizer, uma infinidade<br />
de doces e geleias que vão desde os figos<br />
recheados ao manjar branco, do maçapão às<br />
amêndoas, e amendoins carapinhados, da<br />
doce marmelada aos chocolates de todas as<br />
formas e com todos os recheios possíveis.<br />
Isto é, guarapo e sumo doce destilado e envelhecido<br />
para convertê-lo em rum.<br />
Com razão, Brillat Savarin, o mestre da<br />
gastronomia, afirma na sua Fisiología del<br />
Gusto: «É precisamente nas colónias do Novo Mundo<br />
que o açúcar tem a sua origem.»<br />
DANÇA DO FOGO<br />
Não é exagerado afirmar que apetites<br />
nutritivos e venéreos andam de mãos dadas.<br />
Para despertá-los, procuram-se desde tempos<br />
imemoráveis fórmulas mágicas que se<br />
vão transmitindo de mães para filhas. No<br />
que concerne a cozer os alimentos, uma<br />
parte da humanidade descobriu que em terras<br />
americanas se conservavam todas as formas<br />
inventadas desde a descoberta do fogo.<br />
Não há homem que não goste de assar<br />
carne, entranhas e enchidos, aves e peixe na<br />
grelha (barbaboa, que é uma palavra taína, tal<br />
como tomate).<br />
Sobre um budare, que primeiro foi uma<br />
placa de argila para assar as tortilhas de cassabe<br />
e com o tempo se fundiu em ferro, cozem-<br />
-se as arepas do pequeno-almoço caribenho,<br />
amazónico e venezuelano.<br />
Nos campos chilenos, assa-se a tortilha<br />
de borralho, depois de amassada com farinha<br />
de trigo, salmoura, levedura e manteiga,<br />
entre cinzas resultantes do cisco de carvões<br />
vegetais queimados. Um pano alvo limpá-<br />
-la-á do seu véu cinzento antes de ser partida<br />
em fatias suculentas.<br />
Em Aysen, espeta-se um bom pedaço de<br />
rês num assador com forma de espada e<br />
põe-se num quincho 1 . Esta é uma tarefa de<br />
homens e cada aysenino cuida com desvelo<br />
do seu espeto e regula a distância do seu<br />
assado plantado para que não chegue a tocar a<br />
chama da lenha. Se é cordeiro plantado, o cachaço<br />
vai ora para baixo ora para cima, para que<br />
asse de forma igual e não se queime a pele.<br />
Dentro de um buraco com pedras a<br />
escaldar cozem-se mariscos, carnes e peixe<br />
no curanto 2 chilote.<br />
Al-Garib, o califa de Pirque, segue as<br />
indicações da sua esposa Lenka e traz<br />
pedras redondas e bem lavadas do rio Clarillo<br />
e aquece-as ao rubro num buraco<br />
cavado no chão. Depois, vão-se colocando<br />
sobre as pedras os pedaços de diversas carnes,<br />
as presas de ave, as linguiças, as prietas,<br />
até que a sua pele dourada sue. Entretanto,<br />
ela colocou sobre a mesa uma infinidade<br />
de saladas de todas as cores, aromas e sabores<br />
inimagináveis.<br />
Nas margens do lago Maracaibo, assam-<br />
-se sobre uma grelha os peixes recheados,<br />
bem envoltos em folhas de bananeira.<br />
Um forno de barro, montado tijolo a<br />
tijolo, com forma de iglô, por cuja pequena<br />
boca entra a lenha que arde até se converter<br />
em cinza para depois ser varrida e na<br />
obscura e ardente cavidade se ir assando<br />
nas minas a galleta minera; nos campos,<br />
assam-se a galleta camponesa, empadas, pães<br />
amassados, pastéis de milho e, no final,<br />
alfajores [doce típico feito de uma pasta de<br />
mel e amêndoas], biscoitos e outras delícias.<br />
Os melhores feijões 3 guisam-se numa<br />
panela de barro, e o pastel de milho assa-se<br />
em recipiente do mesmo material. Convém<br />
lembrar que as caçarolas, as bacias, as panelas<br />
e as platas de barro têm um efeito especial<br />
por serem amassadas, sobretudo por<br />
mão de mulher, com a mesma terra, de<br />
modo que fiquem impregnadas de energia,<br />
sonhos e aura.<br />
Nestas terras, tal como na longínqua<br />
China, ainda se assam os frangos no barro<br />
1 «Quincha», palavra quechua<br />
que designa quer um<br />
entramado de juncos<br />
com que se reforça um tecto<br />
ou parede de canas,<br />
quer uma parede feita<br />
de canas ou outro material<br />
semelhante que se costuma<br />
cobrir de barro.<br />
2 Na Argentina e no Chile,<br />
comida à base de legumes,<br />
marisco ou carne, cozida<br />
sobre pedras muito quentes<br />
num buraco que se cobre<br />
com folhas.<br />
3 «Poroto», do quechua<br />
purutu, designa uma<br />
espécie de feijão<br />
ou o seu guisado.
4 «Mazamorra»: doce de<br />
milho, na América do Sul.<br />
5 «Coyacucho», do quechua<br />
kocha, alga marinha<br />
comestível cujo talo pode<br />
atingir mais de três metros<br />
de comprimento e dois<br />
decímetros de largura.<br />
6 «Huesillo»: pêssego seco<br />
ao sol.<br />
7 «Mote», do quechua mutti,<br />
milho cozido com sal.<br />
SABORES PRINCIPAIS 96<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
envolvidos em penas, e tudo numa armadura<br />
de espessa lama que se ressequirá<br />
como couraça ao calor do lume e, quando<br />
for quebrada, deixará ver a ave cheirosa,<br />
bem cozida e sem penas e pele.<br />
Não faltam os pescadores que colocam<br />
sobre as brasas o seu peixe envolto em<br />
folhas de jornal bem molhadas em água do<br />
mar, ficando, depois, pegada ao papel a<br />
pele com escamas, enquanto brilha em<br />
todo o seu esplendor o excelente pitéu.<br />
A incorporação do azeite de oliveira e<br />
da banha de porco deu origem à fritura e às<br />
correspondentes fritadas. Esta forma de cozimento<br />
obriga o peixe a mergulhar e a chiar<br />
no líquido a ferver para cobrir-se de crosta<br />
crocante. De igual modo, fritam-se empadas,<br />
diversas frutas de sertã [pasta de farinha à<br />
qual se junta ovos e açúcar ou sal, feita de<br />
diferentes formas e frita depois em manteiga<br />
ou azeite], couve-flor e outras verduras<br />
panadas, diversas tortilhas e sopaipillas [massa<br />
que, bem amassada, frita e emelada, forma<br />
uma espécie de holueja grossa] amassadas<br />
com abóbora dourada e farinha de trigo.<br />
Antes da chegada dos espanhóis, existiam<br />
na nossa terra óleos excelentes que se<br />
destinavam a uso ritual, como o de uma ave<br />
chamada guácharo na Venezuela.<br />
OS DESTERRADOS<br />
97<br />
Entre os sucessivos exílios que nos foi<br />
dado viver, não esqueçamos o dos jesuítas.<br />
Essas ausências, às vezes, consolavam-se<br />
por vezes sentindo saudades das maravilhas<br />
perdidas, entre as quais sabores e cheiros.<br />
Isto consta na obra de frei Juan Ignacio<br />
Molina que evoca intensas algas marinhas:<br />
luche e cochachuyo, sem esquecer peixes e<br />
mariscos como os piures, o sempre americano<br />
milho para as humitas [no Chile, guisado<br />
feito com milho tenro], chuchoca e ulpo [no<br />
Chile, espécie de mazamorra 4 feita com farinha<br />
tostada e água fria] nem frutas como a<br />
murtilla [fruto chileno] para licor, mel de<br />
palma e lúcumas. Também o padre Manuel<br />
Lacunza, quando se distrai da escrita de La<br />
Venida del Mesías en Gloria y Majestad, sente uma<br />
intensa nostalgia e imagina-se numa viagem<br />
imaginária de retorno: após a chegada<br />
a Valparaíso onde se enfarta de peixes-rei e<br />
caranguejos, de ouriços e loucos, galopa<br />
até Santiago.Visita a sua avó, Dona Rafaela,<br />
e, enquanto conta as suas aventuras em Itália<br />
e fascina parentes e conhecidos com feitos<br />
reais e imaginários, come frangos, charquicán,<br />
caixinhas de doce, pão-de-ló e<br />
outras sobremesas que as suas tias freiras<br />
preparam nos respectivos conventos. Esse<br />
ensopado também está presente nas recordações<br />
de frei Molina: essa saborosa combinação<br />
de charqui [carne seca] ou tasajo [pedaço<br />
de qualquer carne] torrado e picado com<br />
batatas, abóbora, verduras da época, orégãos,<br />
cominho, ají de color.<br />
Não é, pois, de estranhar que, no<br />
decurso dos anos setenta e oitenta do século<br />
XX, os chilenos desterrados clamassem<br />
por esses mesmos condimentos, sem<br />
esquecer cochayuyo 5 , huesillo 6 , mote 7 , maçãs<br />
autênticas, sem faltar o utensílio de cobre<br />
para estrelar os ovos do pequeno-almoço,<br />
que dificilmente se en-contra em lojas de<br />
ferragens estrangeiras.<br />
SORTILÉGIOS ERÓTICOS<br />
À beira-mar ou nas faldas andinas, em<br />
vales e quebradas, homens e mulheres<br />
procuram, afanosos, os elementos para as<br />
nutrições de amor.Todo-poderoso e digno<br />
das mil e uma noites é o alajú no qual se<br />
combinam, em iguais proporções, amêndoas,<br />
nozes, pistáchios, pinhões, mel e pão<br />
ralado e torrado, como também os torrões<br />
de sésamo ou gergelim e o amendoim ou<br />
cacahuate, o caju, merey ou anacárdio que,<br />
juntamente com os pistáchios e as amêndoas,<br />
contribuirão com a sua secreta<br />
potência, incitando com as suas cores e<br />
sabores, sem esquecer as sementes de abóbora,<br />
nozes e amêndoas, favas e outros<br />
legumes torrados para renovar as capacidades<br />
amatórias.<br />
Todo o caraquenho que se preze toma<br />
o pequeno-almoço com um olho-de-boi, o<br />
cristalino, diluído em sumo de laranja e<br />
suco de beterraba crua; e é surrealista a<br />
imagem da caçarola cheia de olhos-de-boi<br />
entre parchitas leitosas, rodelas de ananás e<br />
outras delícias frutais dos trópicos.
Para os mesmos efeitos, bebem-se<br />
tanto o inocente vinho de missa com gema<br />
de ovo, como a urina de víboras embebida<br />
em conhaque: esta mistela é acompanhada<br />
com pedacitos de víbora crua, numa espécie<br />
de guisado, receita com a qual alguma<br />
cidade da China se celebrizou.<br />
O fervor afrodisíaco unido à ânsia de<br />
conseguir inextinguível potência não hesitou<br />
em extrair a bílis dos ursos malaios, em<br />
comer, directamente do crânio, os miolos<br />
de macacos vivos, em engolir um coração<br />
verdadeiro de cobra num copo de vinho,<br />
em beber como sopa o sangue de búfalo.<br />
Nem sequer o pão-nosso de cada dia,<br />
símbolo da comunhão e da partilha, do<br />
próprio alimento, se livra de aplicações<br />
eróticas; tanto assim é que, durante a Idade<br />
Média, em Inglaterra, havia mulheres que<br />
amassavam o seu pão, e o destinado ao seu<br />
amante passavam-no pela sua fonte venérea<br />
antes de o meterem no forno…<br />
Mas são os habitantes do Novo Mundo<br />
os possuidores da máxima sabedoria luxuriante,<br />
os conhecedores das subtis propriedades<br />
de plantas, flores, frutos e sementes e<br />
deram esse presente a todo o mundo.<br />
Frutas perfumadas e gloriosas como a<br />
anona, a parchita e a papaia.<br />
O que é que é mais usado para despertar<br />
os apetites e exprimir o amor? Os bombons!<br />
Sim, de cacau, originário das terras<br />
dos caracas que se implantou no México,<br />
cuja amêndoa torrada, triturada e misturada<br />
com açúcar e especiarias proporciona o<br />
estranho chocolate, a mais popular oferenda<br />
de amor, seguido pelo incomparável aroma<br />
da baunilha da orquídea que se utiliza em<br />
sobremesas, gelados e até em perfumes de<br />
mulher.<br />
Não vale a pena falar das propriedades<br />
do saboroso abacate nem do tomate que os<br />
sábios de Itália baptizaram de poma de oro e<br />
que, devido às suas espantosas propriedades,<br />
decidiram utilizar em todos os molhos imagináveis<br />
para acompanhar não só pastas, mas<br />
também frutos do mar e da terra.<br />
A abóbora, calabaza ou auyama, nas suas<br />
inúmeras variedades, cresce opulenta em<br />
todas as hortas do continente e esbanja<br />
cores na sua atractiva e dura casca para<br />
encobrir a tenra e abundante polpa de<br />
veludo amarela, famosa porque «engorda<br />
as pernas» às meninas e é o alimento mais<br />
são para os recém-nascidos que, depois do<br />
leite materno, começam por comer bananas<br />
e continuam com a sopinha de abóbora,<br />
outras verduras bem cozidas em caldo<br />
de posta ou peixe.<br />
O milho, dourado filho do Sol, é aproveitado<br />
tenro, tanto cozido para «o fecundo<br />
ofertório das maçarocas», no dizer de<br />
César Vallejo, com barbas e tudo, como sob<br />
a forma da infinita variedade de tamales, as<br />
hallacas, as humitas, e do incomparável pastel<br />
de milho à chilena. O grão seco serve para a<br />
chuchoca que engrossará o guisado de peru<br />
ou para a farinha que fará a massa das arepas<br />
ou a variedade incomparável da polenta.<br />
A batata 8 , originária de Chiloé, o território<br />
da magia, com as suas quatrocentas<br />
variedades começou por estender-se a toda<br />
a região andina, onde também se foi desidratando<br />
devido ao gelo para se transformar<br />
em chuño altiplânico, ainda que também<br />
se chame chuño à alva e fina fécula de<br />
batata que substitui a do milho. Depois<br />
partiu para o ultramar e apoderou-se do<br />
território europeu, tornando-se indispensável,<br />
quer fosse cozida, assada nas brasas<br />
ou no forno, frita, amassada com farinha<br />
ou convertida em matéria-prima para inúmeros<br />
pratinhos. Para os chilenos, a batata<br />
(papa) é o alimento por excelência, a tal<br />
ponto que a mãe diz ao seu filho, antes de<br />
amamentá-lo, «vou dar-te a papa», enquanto<br />
os homens que gostam de dizer piropos<br />
fazem corar uma mulher dizendo-lhe: «Qué<br />
papa!». Então, o fruto subterrâneo converte-<br />
-se em sinónimo de feminidade.<br />
O ají, com as suas inúmeras variedades,<br />
é o símbolo do picante e exaltante.<br />
Erótico por excelência, em tempos foi mais<br />
caro e apreciado que o sal.Todas as variedades<br />
deste luxurioso descarado têm por<br />
pátria os países da América, e no México<br />
chamam-lhe chile, nome de país. Seja verde,<br />
roxo, vermelho deslumbrante, amarelo,<br />
azulado, é sempre fonte de vitamina C. Há-<br />
-os pequenos, mas terrivelmente picantes,<br />
como o famoso ají de Cayena ou a variedade<br />
peruana de nome impublicável a que as<br />
vendedoras do mercado chamam colita de<br />
mono; vermelhos com sementes negras,<br />
8 Papa, do quechua, designa<br />
batata. Papa, em português,<br />
deriva do latim pappa<br />
e designa comida<br />
(para crianças).
9 Virginia Vidal, Oro,<br />
Veneno, Puñal, Brosquil<br />
Ediciones, Valência, 2002.<br />
SABORES PRINCIPAIS 98<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
como o rocoto; largos, estreitos, chatos, sempre<br />
saborosos, mais ou menos picantes.<br />
Existem chireles, pasillas, cachos de cabra, nomes<br />
que nunca mais acabam.<br />
Com o tempo, veio a constatar-se que<br />
os habitantes das diversas regiões americanas<br />
conferiam poderes afrodisíacos tanto às<br />
formigas culonas, apanhadas com um palito<br />
untado com mel e fritas, como à cobra-<br />
-cega macerada em rum.<br />
É claro que também se recorre a elementos<br />
menos drásticos e se atribui grande<br />
poder à sopa dourada, à pisca andina, às aboborinhas<br />
italianas com cebola, às bananasmacho<br />
fritas ou assadas, à salada de agriões<br />
e cebolas. São indiscutíveis os méritos do<br />
propoleo ou borra de favos de abelhas, ingerido<br />
em jejum.<br />
BRUXARIA<br />
99<br />
Em questões de bruxaria, era sábia a<br />
Quintrala, uma cruel personagem feminina<br />
exaltada pela sua imagem de erotismo<br />
superlativo: «A Quintrala transformava<br />
todas as suas comezainas no cúmulo do<br />
conduto erótico: desde as pantrucas servidas<br />
em alguidar de barro preto aos famosos<br />
feijões em travessa de prata das monjas<br />
dominicanas, passando pelos testículos<br />
rebuçados e por umas olorosas costeletas<br />
de cordeiro polvilhadas com salsa, menta,<br />
tomillo, alecrim e uma infinidade de ervas<br />
de cheiro, acompanhadas com batatas douradas<br />
e saladas de alface, Feijão verde, favas<br />
descascadas, aipos com abacate e nozes e<br />
outras frutas e outra guarnição de rodelas<br />
de tomate e corações de alcachofra envolvimos<br />
em folhas de agrião. 9 »<br />
Quando a Quintrala, a cruel feudatária<br />
colonial que entre os seus mortos conta<br />
uns quantos amantes, encostava ao seu<br />
peito de pele cor de canela a tortilha de rescoldo<br />
e começava a cortá-la em fatias e a oferecê-las<br />
a cada um dos seus admiradores,<br />
estes quase desmaiavam. Enquanto comia,<br />
«todos a olhavam deleitando-se com a<br />
visão dessa mão delicada no movimento de<br />
três dedos para pegar em cada pedaço de<br />
alimento e levá-lo à boca sem pressa. Ela,<br />
de vez em quando, deslumbrava-o com um<br />
cintilar dos seus olhos faladores e continuava<br />
muito comedida, preocupada em dar<br />
atenção a todos os seus hóspedes. Depois<br />
de saborearem uns deliciosos peixes-rei, a<br />
criada oferecia a cada um, para lavarem os<br />
dedos, uma tigela de barro preto cheia de<br />
água onde flutuavam rosas».<br />
A sacerdotisa crioula de Eros e Thanatos<br />
era fanática do afrodisíaco ají, grande<br />
consumidora de mistelas confeccionadas<br />
pelas freiras, às quais fornecia a sua própria<br />
aguardente, e não se coibia à hora das<br />
sobremesas, pois oferecia aos seus admiradores<br />
anonas que encobriam a sua alva<br />
polpa com um inquietante veludo verde,<br />
manjar dos deuses cujo nome índio quer<br />
dizer teta de mulher.<br />
Se de poderes revitalizantes se trata, por<br />
estas terras americanas também se enaltecem<br />
os poderes dos ovos crus de coruja, tão<br />
bons para manter um homem como para<br />
conservar a pureza da cútis, da tortilha de<br />
ovos de pomba, dos órgãos genitais de<br />
raposa, das iguanas e da pata de veado.<br />
Para conquistar e manter o ser amado,<br />
não se hesita em utilizar o coração da<br />
andorinha e o fígado de coelho, o sangue<br />
de novilho, diluído em aguardente, os testículos<br />
assados e a sopa de rabo de boi<br />
negro, os miolos e os testículos, o olho-de-boi<br />
cru cujo cristalino se dissolve em suco de<br />
frutas, em rum ou em vinho, o leite de ají,<br />
as tartarugas de mar e rio guisadas com<br />
alho, ají e cebola.<br />
CRUELDADE?<br />
E isto não é nada, pois se de paixão se<br />
trata, não há limites e não se sabe se por<br />
magia simpatética, aplica-se ao ser comestível<br />
o tratamento que se quereria dar ao objecto<br />
do desejo. Não se poderá afirmar que é<br />
mera crueldade, mas nisto das artes culinárias<br />
dá-se a transmutação da morte para a<br />
vida a fim de fortalecer debilidades, reparar<br />
energias, saciar a fome, tal como é indispensável<br />
sacrificar a rês, degolar o cordeiro,<br />
torcer o pescoço à galinha ou embebedar<br />
o peru ou guajolote (considerado por Brillat<br />
Savarin «um dos mais bonitos presentes
que o Novo Mundo ofereceu ao Velho Continente»),<br />
para que aquele adquira o seu<br />
máximo poder, sendo mantido sem comer<br />
nem beber durante um dia inteiro e dando-<br />
-se-lhe, finalmente, nozes e conhaque na<br />
véspera do seu sacrifício.<br />
O pato da ñusta apaixonada, de acordo com<br />
a antiga tradição de Huánuco, deve ser<br />
enterrado vivo, com a cabeça de fora, em<br />
pleno sol, para que a sua carne fique muito<br />
tenra e seja mais fácil depená-lo. Depois é<br />
degolado, esquartejado e fritam-se as presas<br />
em muita manteiga, temperam-se com<br />
um refogado consistente com muito ají<br />
rocoto, alhos, pimenta e cebolinhas picadas,<br />
deixando-o suar durante meia hora, antes<br />
de o servir com batatinhas cozidas.<br />
Mas no sul do sul do mundo, onde se<br />
ergue a selva sombria em torno dos lagos,<br />
na zona de Futrono ou Chihuío ou na ilha<br />
grande de Chiloé, preparam-se em misterioso<br />
ritual os guisados proibidos, a degustar<br />
só por homens. Em primeiro lugar, o<br />
ñachi. Escolhe-se o cordeiro, corta-se a<br />
jugular. Brota o sangue e vai a coalhar no<br />
picado de cebola, coentros e ají picado no<br />
alguidar. Mexe-se esse sangue temperado,<br />
ainda morno e já coalhado. Para preparar o<br />
apol, escolhe-se outro cordeirinho novo, de<br />
leite; dá-se-lhe um golpe no gasganete,<br />
abrindo a traqueia, e deitam-se pela abertura<br />
temperos idênticos, sem esquecer o ají.<br />
O animalzinho está vivo e pareciam não<br />
cessar esses estertores quase humanos que<br />
facilitam o tempero dos seus pulmões, e<br />
também do coração. Depois, abre-se a vítima<br />
de cima a baixo e arrancam-se-lhe os<br />
bofes, o fígado e o coração que se colocam<br />
sobre uma tábua de cortar ou sobre uma<br />
bancada rústica, saem as facas das suas bainhas<br />
e vão-se cortando as entranhas sanguinolentas<br />
em fatias e provando-as. Em<br />
alguns lugares existe uma ligeira variante:<br />
quando a água com sal já está a borbulhar<br />
numa caldeira, submergem-se e escaldam-<br />
-se as entranhas, sem soltá-las, na água a<br />
ferver, por uns instantes, sendo cortadas e<br />
comidas de imediato.<br />
Não se pense que se trata de uma<br />
crueldade do Novo Mundo, pois antes de<br />
sacrificarem, ao terceiro mês de vida, o<br />
famoso pato de Pequim, pregam-lhe as<br />
membranas das patas numa tábua e alimentam-no<br />
enfiando-lhe a comida pelo<br />
bico, para que o seu fígado se desenvolva e<br />
se torne um delicioso petisco e a sua carne<br />
fique muito tenra porque a imobilidade<br />
impede o seu endurecimento. Só se lhe dá<br />
de beber água da Fonte de Jade da Colina<br />
Perfumada. Depois de sacrificado e depenado,<br />
tiram-se-lhe as vísceras, cuidadosamente,<br />
sem o abrir, enche-se da mesma<br />
água e tapa-se o buraco com um pau, pincela-se<br />
com água açucarada, o que lhe dará<br />
o magnífico lacado e vai ao forno onde<br />
arde a madeira de uma árvore chinesa aromática<br />
que lhe dará um aroma subtil.<br />
Quando o chefe de cozinha leva a obra<br />
de arte à mesa, primeiro oferece-se ao ser<br />
predilecto o melhor pitéu, os miolos do<br />
pato; depois, o fígado hipertrofiado serve-<br />
-se assado e envolto em pimenta triturada<br />
(esta receita foi-nos dada no Restaurante El<br />
Pato de Pekín, pelo último cozinheiro da<br />
Imperatriz Viúva, homem idoso mas que<br />
em plena infância se tinha iniciado como<br />
ajudante na cozinha imperial).<br />
Para já não falar da sopa de tartaruga<br />
em que o animal é metido em água fria<br />
para ser cozinhado em fogo lento e, quando<br />
estica o focinho clamando por ar, frescura<br />
e água, vai sendo saciado com colheradas<br />
frescas do líquido elemento…
ALGUM CHEIRINHO A ALECRIM 100<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Portugal, sempre<br />
Luís Antônio de Assis Brasil<br />
101<br />
Quando o avião da TAP aterrou no aeroporto<br />
de Ponta Delgada, na primeira de minhas tantas<br />
viagens aos Açores, senti-me voltando<br />
para minha outra casa, depois de 250 anos<br />
de ausência. É este o sentimento do escritor brasileiro<br />
Luís Antônio de Assis Brasil que, neste texto, respira<br />
algum cheirinho a alecrim.<br />
Lisboa. Fotografia de Paulo Barata
ALGUM CHEIRINHO A ALECRIM 102<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
103<br />
Por que Portugal tanto interessa a nós, brasileiros,<br />
em meio à Babel da Europa? Por que não Bósnia<br />
ou Andorra? «Porque ali se fala português», é<br />
uma resposta. No entanto, essa língua portuguesa,<br />
com a qual mantemos identidade, não é rigorosamente<br />
a falada nas ruas de Lisboa ou de Évora. Identificamo-nos<br />
com uma língua mítica, fixada e enobrecida<br />
por Camões, romantizada por Eça e elevada<br />
ao mais expressivo patamar poético por Fernando<br />
Pessoa. Mesmo quem ignora os primeiros versos de<br />
Os Lusíadas sabe que a sedução linguística faz com<br />
tenhamos um vínculo extra-nacional e supra-étnico<br />
com Portugal.<br />
Há algo, porém, menos tangível, mas muito<br />
mais intenso, que edifica essa ponte de cumplicidade<br />
transoceânica. Refiro-me à História. País de raras<br />
instituições duradouras, em que os restaurantes<br />
morrem na adolescência e as revistas literárias<br />
sofrem da peste do sétimo número, o Brasil experimenta<br />
uma inegável nostalgia pelo passado. Necessitamos<br />
de mais séculos para além desses escassos<br />
500 anos de História escrita. É certo que temos os<br />
índios, que poderiam substancializar alguma estrutura<br />
arquetípica respeitável em nosso imaginário,<br />
mas a rarefação de seu legado material – ocorrida<br />
por culpa dos não-índios, diga-se – faz-nos sonhar<br />
com fortalezas, castelos e palácios. Nossas representações<br />
simbólicas mais eloquentes reiteram<br />
bordões principescos que chegam ao disparate de<br />
ungirmos mais de um rei para um único reino. Pelé<br />
e Roberto Carlos são os mais notáveis de uma série<br />
sem fim.<br />
Se o gaúcho que descende de alemães<br />
sonha em viajar ao Hunsrück,<br />
sua escala obrigatória e sentimental<br />
será Lisboa.<br />
Lisboa. Fotografia de Paulo Barata<br />
Essa saudade inata, saudade daquilo que não<br />
tivemos, nos faz voltar os olhos para o passado<br />
épico português, incorporando-o à nossa própria<br />
História coletiva e, por que não, à nossa minúscula<br />
história individual: quando o avião da TAP aterrou<br />
no aeroporto de Ponta Delgada, na primeira de<br />
minhas tantas viagens aos Açores, senti-me voltando<br />
para minha outra casa, depois de 250 anos de<br />
ausência. E esse é um sentimento comum a todos os<br />
brasileiros que visitam Portugal. Estando-se em Lisboa,<br />
na Praça da Figueira, o primeiro olhar vai para<br />
o Castelo de São Jorge, lá em cima, vigiando as eras.<br />
E respiramos, aliviados, porque ele existe e nos vincula<br />
a uma tradição que não é de hoje.<br />
Afirmei que esse sentimento é superior às<br />
etnias; é-o porque pertence a uma instância maior,<br />
relativa à cultura. Se o gaúcho que descende de alemães<br />
sonha em viajar ao Hunsrück, sua escala obrigatória<br />
e sentimental será Lisboa. Foi Regis Conte,<br />
um gaúcho ítalo-brasileiro, quem, com a sua Flávia,<br />
me apresentou, e à Valesca, os melhores vinhos do<br />
Alentejo, num memorável almoço no Solar dos Presuntos,<br />
às Portas de Santo Antão.<br />
Milton Nascimento, sem abdicar de suas generosas<br />
raízes afro-brasileiras, vai sempre a Lisboa e<br />
tem ali um imenso público.<br />
Assim, ao lembrarmos Portugal, estamos saudando<br />
não apenas a cultura sólida, não apenas a terra<br />
de nossos avós genéticos ou afetivos, mas estaremos<br />
comemorando também a nós mesmos, por possuirmos<br />
uma imaginação tão rica e criadora em relação a<br />
nosso passado – e nem por isso menos verdadeira.
Cuiabá<br />
José Luís Peixoto<br />
O QUE FAÇO EU AQUI 104 105<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Aqui não é o escritor que quer<br />
desaparecer, mas antes os outros<br />
que o dão como desaparecido numa<br />
pequena cidade perdida à beira<br />
do Pantanal. Ou como uma viagem<br />
de José Luís Peixoto não o levou<br />
a lado nenhum.
Eram os últimos dias de setembro. Ainda<br />
estava calor de verão em Lisboa, quando subi as<br />
escadas do avião que me iria levar a Cuiabá. No<br />
Rio de Janeiro, mudança de aeroporto, táxi,<br />
malas e, à noite, num avião pequeno, cheguei a<br />
Cuiabá. Fui levado ao hotel. Tudo perfeito? Tudo<br />
perfeito. Chegava para duas semanas de Brasil,<br />
das quais passaria uma em Cuiabá e a outra seria<br />
repartida entre Brasília e Rio de Janeiro. Da janela<br />
do meu quarto, olhava a avenida nocturna, de<br />
carros permanentes, e tentava recordar-me do<br />
pouco que tinha conseguido aprender sobre<br />
Cuiabá na internet, não muito. Apesar de toda a<br />
incerteza sobre aquele que poderia ser o meu<br />
destino na semana que começava, tinha um bom<br />
pressentimento, uma vez que vinha para participar<br />
num evento de literatura latino-americana, e<br />
o melhor lugar para encontrar literatura latino-<br />
-americana é, até prova em contrário, na América<br />
Latina. Acreditava que deveria existir alguma<br />
razão para Cuiabá ter o mesmo valor de Brasília<br />
somada ao Rio de Janeiro. Aquilo que eu ainda<br />
não podia saber era que os organizadores do<br />
evento, apesar de me terem comprado bilhete de<br />
avião e reservado quarto no hotel, não contavam<br />
com a minha presença, não me tinham colocado<br />
como participante de nenhum debate ou palestra<br />
e comportavam-se como se nunca me tivessem<br />
visto, lido ou imaginado.<br />
Admiro-me por estar a falar de Cuiabá há já<br />
várias linhas e ainda não ter referido que Cuiabá<br />
é, hiperbolicamente, o lugar mais quente do<br />
mundo. Nas suas ruas de cimento, o calor escorre<br />
através da pele em gotas grossas de óleo. A<br />
humidade vê-se no ar.A distância é menos nítida,<br />
os contornos da paisagem são esbatidos e a respiração<br />
é mais difícil. O ar é espesso, como se alimentasse.<br />
A gastar duas ou três T-shirts por dia,<br />
fiquei em Cuiabá, Mato Grosso, durante sete dias<br />
demasiado longos. Aquilo que me incomodava<br />
não era o calor ou a cidade, à qual dei poucas<br />
oportunidades. Aquilo que me incomodava era<br />
não ter conseguido continuar o trabalho que<br />
aqueles dias tinham vindo interromper, um<br />
romance. Incomodava-me também o ter de viajar<br />
quase clandestino, olhado de lado, conversando<br />
com ninguém, nos autocarros que transportavam<br />
pessoas do hotel para a feira do livro, única distracção.<br />
Era também assim na ocasião das refeições.<br />
Para chegar à hora e ao lugar correcto, tinha<br />
de andar sempre a ouvir conversas porque, ao<br />
contrário do que acontecia com os outros escri-<br />
tores, ninguém me informava de nada. Assisti a<br />
dois debates dos escritores presentes. Todos eles<br />
eram publicados exclusivamente na internet e<br />
anunciam, para os vinte desinteressados que se<br />
juntavam ali, que todos os grandes escritores<br />
actuais, os mais ousados, os mais vanguardistas,<br />
apenas publicavam na internet. Esses eram os<br />
escritores que estavam sempre – nos pequenos-<br />
-almoços, nos autocarros entre o hotel e a feira<br />
do livro, nos jantares. Além desses, houve dois<br />
que chegaram num dia e que partiram no outro.<br />
Tinham palestras em nome individual. Eram<br />
especiais. Um deles foi o escritor Milton Hatoum<br />
que tive a alegria de reencontrar e que, comigo,<br />
também não conseguiu compreender o que estava<br />
eu a fazer ali. A ele devo um passeio pela Chapada<br />
do Guimarães, depois de ter sido necessário<br />
convencer o distribuidor dos seus livros no Mato<br />
Grosso a levar-me com eles. Tirando isso, durante<br />
uma semana, assisti a programas sobre crimes<br />
na televisão do quarto de hotel, reparei nos chuveiros<br />
que esguichavam água do tecto da Feira do<br />
Livro de maneira a refrescar o ambiente e, finalmente,<br />
tive tempo para realinhar a minha posição<br />
no mundo. Até hoje, ainda não sei ao certo quem<br />
foi que me convidou e para quê.
Pancho regressa ao mar<br />
(Coloane, o mais anfíbio<br />
escritor chileno)<br />
Volodia Teitelboim<br />
CRUZEIRO DO SUL 106 107<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Nasceu na fronteira da terra e do mar, na ilha de Quemchi,<br />
lugar musical e húmido no sul do mundo. Por isso, era um<br />
escritor anfíbio. Na sua geografia austral tão bem mapeada<br />
nos seus livros, entre o silêncio e a natureza, entre a vida<br />
e a morte, entre a amplitude e a finitude, entre a tempestade<br />
e a calma, nessa fronteira do mundo e da alma,<br />
Francisco Coloane nasceu, morreu e regressa em cada maré.<br />
Francisco Coloane. Fotografia de Eric Facon – Le bar Floréal
CRUZEIRO DO SUL 108<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
109<br />
Da sua ilha natal de Quemchi,<br />
até Cabo de Hornos<br />
e à Antárctida, contemplava<br />
o coirón, o pasto<br />
das estepes magalhânicas,<br />
mas também<br />
fixava os olhos<br />
nos astros.<br />
Seu pai, capitão de baleeiro, afirmou no<br />
momento da sua morte: «Voltemos ao mar.».<br />
Quando chegou a hora do filho, este utilizou a<br />
mesma expressão paterna: «Voltemos ao mar.»<br />
Numa segunda-feira, 5 de Agosto de 2002,<br />
despediu-se secretamente de sua mulher Eliana.<br />
Transmitiu-lhe também a sua última vontade: não<br />
digas a ninguém que morri, espera dois dias.<br />
Então, cremem-me discretamente. Em seguida, tal<br />
como meu pai, regressarei ao mar.<br />
Sempre regressou ao mar o mais anfíbio dos<br />
escritores chilenos, com um pé na terra e outro na<br />
água. Renova-se o ciclo da natureza que esse autodidacta<br />
amava e que converteu, muitas vezes, em<br />
alegorias espantosas. Da sua ilha natal de<br />
Quemchi, até Cabo de Hornos e à Antárctida contemplava<br />
o coirón 1 , o pasto das estepes magalhânicas,<br />
mas também fixava os olhos nos astros.<br />
É um dos homens a quem mais ouvi falar das<br />
estrelas. No meio das borrascas da Terra do Fogo,<br />
sempre observou e amou a paisagem interminável<br />
e selvagem. Sabia que, para que este fosse um tema<br />
literário e se revestisse de uma grandeza trágica,<br />
era necessário que o ser humano a percorresse.<br />
Redescobre a aliança entre o homem e a natureza,<br />
mas também navega por dentro do caminhante<br />
dos últimos confins. Realiza a viagem interior,<br />
aventura-se nos nevadas e nos golfos misteriosos,<br />
às vezes inarráveis, na psicologia dos tristes, dos<br />
ternos, dos cruéis e dos solitários.<br />
Francisco Coloane incorporou nas letras universais<br />
as terras do fim-do-mundo. E fê-lo com<br />
uma das prosas mais precisas e cristalinas da literatura<br />
contemporânea. Completou o mapa íntimo<br />
dessas latitudes austrais, como Jack London o fez<br />
com os extremos setentrionais. Ali entraçou também<br />
o nó dramático: não a febre do ouro, mas a<br />
quimera do ouro, como um Chaplin trágico, não<br />
cómico, que concebe a desesperada busca da<br />
riqueza como uma missão titânica quase sempre<br />
infortunada.<br />
É, com Baldomero Lillo, o maior contista chileno<br />
do século XX. Coloane não é um observador<br />
ou recriador fotográfico, mas um homem que em<br />
cada palavra introduz uma entranha, certo estremecimento<br />
que se transmite aos leitores de muitas<br />
línguas. É eloquente e sintomático que, de repente,<br />
em França, quando fez oitenta anos, tenha sido<br />
descoberto como «o milagre Coloane». E que o<br />
saúdem e o façam seu em terras remotas. No futuro,<br />
quem ler as suas páginas sentirá, também, que<br />
está a descobrir algum ângulo desconhecido na
história do coração humano. O que escreveu continua<br />
a ser válido para todos os tempos, e as suas<br />
obras são traduzíveis para todos os idiomas porque<br />
ele falou numa linguagem única e insuperável: a<br />
da verdade, da sinceridade e também da esperança<br />
e da desolação do homem que procura a felicidade<br />
sem a encontrar.<br />
OS PIANOS DO OCEANO<br />
Neruda chamou-lhe «o filho da baleia branca»,<br />
em alusão ao livro de Melville, que Coloane<br />
leu apaixonadamente. Mas a verdade é que ele falava<br />
pouco de literatura. Quando citava livros, tratava-se<br />
de páginas trespassadas pelo sentido, pela<br />
tristeza, pela aventura arriscada, às vezes sombria,<br />
que chocava com o triunfo impossível.<br />
Procurava os amigos para partilhar, falar da vida.<br />
Naquelas conversas surpreendíamo-lo indignado<br />
perante as injustiças do mundo. Era um homem puro<br />
e correcto, ávido de amor.<br />
A sua vontade final de morrer em silêncio e<br />
de ocultar a notícia da sua morte durante quarenta<br />
e oito horas pareceu a muitos estranha. Creio<br />
que nunca antes houve um caso assim na literatura<br />
chilena. Seu pai, o inolvidável capitão de<br />
baleeiro, era desconhecido do grande público, um<br />
anónimo cuja morte quiçá fora registada em poucas<br />
linhas num diário de Magalhães. Ele quis morrer<br />
da mesma forma, em silêncio. Não necessitava<br />
de discursos no seu túmulo a recordar quão extraordinário<br />
escritor ele era. Sempre se sentiu incomodado<br />
com os elogios. Era homem de mar e de<br />
estepe que sempre quis estar em contacto com a<br />
água e dormir finalmente nas suas profundezas,<br />
como mais uma gota ou um grão de sal.<br />
Coincidência das coincidências, a primeira coisa<br />
que viu quando nasceu foi o oceano. Quando chegasse<br />
a sua hora, desejava regressar às suas origens<br />
insondáveis.<br />
Em França, vi-o num desses tormentosos festivais<br />
dedicados aos escritores navegantes. Contava, perante<br />
o deslumbramento do auditório, a história desse<br />
barco cheio de pianos que ia da Europa para o Chile e<br />
naufragou no Estreito de Magalhães.<br />
Com o tempo, o mar tornou-se músico porque<br />
os pianos começaram a falar e a cantar. Era uma<br />
melodia trespassada pelo enigma, executada no<br />
teclado, accionando as cordas interiores sacudidas<br />
pelo movimento oceânico. Ouviam-se sonatas,<br />
patéticas, como lamentos de afogados; allegros,tem-<br />
pestuosos ou insólitos harpejos, ressonâncias inauditas<br />
que cativavam os viajantes que cruzavam essas<br />
paragens de vida ou morte. Ao que parece, o relato<br />
de Coloane é verídico. Não me restam dúvidas de<br />
que, para ele, não era apenas real, considerava-o<br />
também uma expressão da beleza cósmica.<br />
Recordo Coloane como um ser comovido.<br />
Não esqueço o seu pranto incontido quando a sua<br />
esposa Eliana se encontrava na China e ele não<br />
podia viajar para a ver. Fisicamente, tinha traços de<br />
gigante harmonioso. Alguém o comparou a um<br />
touro, mas, na realidade, usava a sua força física<br />
para enfrentar o injusto, o prepotente, o que atropelava<br />
a dignidade das pessoas. Desde muito cedo<br />
que se definiu politicamente, entrando, primeiro,<br />
para o Partido Socialista e, depois, para o Partido<br />
Comunista. Nunca quis ser dirigente nem ocupar<br />
cargos. Considerava-se uma pessoa das bases. Queria<br />
viver, viver em plenitude, escrever, seduzido pela<br />
beleza e animado pela bondade. E há que usar a<br />
palavra bondade porque o define bem.<br />
Para Pancho, não há lugar para um adeus, mas<br />
sim para um até sempre. Nobre Irmão. Incomparável.<br />
Um dos homens mais puros que passaram<br />
entre a terra e os vendavais, para instalar-se agora<br />
na sua morada ancestral, a do pai: o mar de todas<br />
as tormentas e dos mais rasgados horizontes.<br />
1 No Peru e no Chile, designa uma planta gramínea, de folhas duras, muito utilizada para<br />
tectos de cabanas. (N. da T.)<br />
Um dos homens<br />
mais puros<br />
que passaram<br />
entre a terra e os vendavais.
111<br />
Com o coração na boca<br />
(La Bombonera)<br />
Maria Mansilla<br />
ESTÁDIO DE SÍTIO 110<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Há um lugar neste planeta onde, quando se diz boca, não se fala<br />
de anatomia, nem de fome, nem de beijos. No paralelo 56 e abaixo<br />
do Trópico de Capricórnio, a palavra começa com maiúscula.<br />
Pronunciá-la é nomear um bairro de Buenos Aires e, simultaneamente,<br />
um clube de futebol argentino.<br />
La Bombonera. Fotografia de João Ventura
ESTADO DE SÍTIO 112 113<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
[…] Boca revela<br />
a outra face:<br />
boémia, operária,<br />
anarquista,<br />
popular, parecida<br />
à Pequena Itália<br />
que os exilados da<br />
Europa oitocentista<br />
geraram.<br />
Há um lugar neste planeta<br />
onde, quando se diz «boca»,<br />
não se fala de anatomia, nem de<br />
fome, nem de beijos. No paralelo<br />
56 e abaixo do Trópico de<br />
Capricórnio, a palavra começa<br />
com maiúscula. Pronunciá-la é<br />
nomear um bairro de Buenos<br />
Aires e, simultaneamente, um<br />
clube de futebol argentino. Mas<br />
não se trata de um bairro qualquer,<br />
nem de uma equipa qualquer.<br />
A história que os une tem<br />
mais de 100 anos e é necessário<br />
contá-la porque já não a reconhecemos<br />
nas suas ruas.<br />
Da sua rambla é difícil imaginar<br />
que este porto de barcos oxi-<br />
dados fosse outrora um porto<br />
internacional; e que este rio<br />
imóvel, o Riachuelo, tivesse alimentado<br />
a sua gente. Mas quando<br />
alguém se submerge nos seus<br />
«becos», a Boca revela a outra<br />
face: boémia, operária, anarquista,<br />
popular, parecida à Pequena<br />
Itália que os exilados da Europa<br />
oitocentista criaram. As casas de<br />
chapa e madeira são o seu património.<br />
Mas não o único. Hoje, a<br />
popa é o rio, como fonte de trabalho<br />
e horizonte, a sua proa é o<br />
gigante de cimento que a Boca<br />
abraça: o estádio. Boca Juniors é a<br />
sua paixão e, ao mesmo tempo, a<br />
sua anestesia: acelera o pulso dos<br />
43.413 habitantes, cada vez que<br />
joga em casa.<br />
O clube, fundado em 1905<br />
por iniciativa de cinco italianos,<br />
pode contar com Maradona entre<br />
os seus adeptos e ter a celebridade<br />
do Manchester United, mas<br />
existe um segredo que o torna<br />
único: os seus seguidores conservam<br />
um valor de outros tempos,<br />
a incondicionalidade. «Estamos<br />
acostumados a sofrer», é o<br />
seu orgulhoso argumento. Como<br />
poderiam ter outro carácter, se<br />
foram esses estrangeiros determinados<br />
que impuseram o estilo?!<br />
Na Argentina, em cada 10<br />
adeptos de futebol, 4 são do Boca.<br />
Por isso os boquenses agem<br />
como se estivessem num mundo<br />
à parte. Como se vivessem em<br />
Roma na época do Império.<br />
«Ninguém pode morrer sem<br />
ter visto um superclássico entre o<br />
Boca e o River (o seu eterno<br />
rival). Claro que esse último e<br />
necessário acto da existência não<br />
deve concretizar-se em qualquer<br />
cenário, mas sim, infalivelmente,<br />
na Bombonera», sentenciou o<br />
diário inglês The Observer. Ficar no<br />
«peão» deste estádio, em forma<br />
de caixa de chocolates, é uma<br />
experiência inesquecível: os asso-<br />
bios dos fanáticos parecem uma<br />
invasão de gafanhotos. Como eles<br />
explicam melhor: «o estádio não<br />
palpita, vibra». Todos querem<br />
estar ali. Até a Coca-Cola teve de<br />
trocar a camisola vermelha e<br />
branca, coincidente com as cores<br />
do River, por uma preta e branca,<br />
para entrar.<br />
O clube que foi campeão do<br />
mundo tem uma infra-estrutura<br />
à altura das suas circunstâncias.<br />
Como «Shock room» e equipa de<br />
socorristas própria. Habitualmente,<br />
os guardiães da saúde curam<br />
entorses de tornozelo e quedas.<br />
Excepcionalmente… sim: aconteceu.<br />
Uma vez, deram assistência a<br />
um homem a quem tanta emoção<br />
tinha atacado o coração.<br />
«Todos têm medo de vir à<br />
Bombonera», disse o jogador<br />
Martín Palermo, em jeito de<br />
metáfora. É que a Boca é constituída<br />
por bancadas dispostas<br />
frente a frente. À volta de Caminito,<br />
os 100 metros mais turísticos<br />
de Buenos Aires, cortiços restaurados<br />
for export assemelham-se<br />
aos autênticos, que resistem<br />
como podem à ameaça de desmoronamento.<br />
A velha ponte de<br />
ferro une a Capital Federal, o<br />
distrito mais rico, com a província<br />
de Buenos Aires, uma das<br />
mais pobres. O clube brilha com<br />
murais de artistas famosos enquanto,<br />
em frente, pode ver-se<br />
outro mural estampado com<br />
fuligem. Por isso, nos dias de<br />
semana, a realidade do bairro,<br />
declarado, há anos, em emergência<br />
habitacional, suspende-se<br />
e emula dentro da Bombonera:<br />
nas aulas de alfabetização para<br />
adultos, de apoio escolar para<br />
meninos e meninas, de inglês,<br />
de guitarra, de fotografia, de<br />
xadrez. Mundos paralelos convivem<br />
no Boca e gritam, atraem-se,<br />
repelem-se. Mas nem sempre.<br />
Sempre, excepto aos domingos.
Mundos paralelos convivem no Boca<br />
e gritam, atraem-se, repelem-se.<br />
Mas nem sempre.<br />
Sempre, excepto aos domingos.
La Boca. Fotografia de João Ventura<br />
ESTÁDIO DE SÍTIO 114 115<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007
Mar absoluto<br />
António Ramos Rosa<br />
Fotografia de João Mariano<br />
A MARESIA DO MUNDO 116 117<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Que força admirável nos move e nos comove<br />
de puro instinto e de redonda força<br />
tão suave na sua descida de desejo<br />
de que nascente veio e sem história é o mar absoluto<br />
oh gravitação de delícia oh afluência marinha<br />
de vogais deliciosas de lascivos sorrisos<br />
e de melodias de uma só oferenda<br />
oh suave maravilha de que divino vigor<br />
oh mar sem máscaras de tantas bolhas suaves<br />
oh mar sequioso como um rei ébrio<br />
oh mar tão lento e tão lentamente imperador
Mário Cesariny<br />
Duarte Belo<br />
RESIDÊNCIAS NA TERRA 118 119<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
O objectivo era fotografar o universo criado por Mário Cesariny, e por si<br />
habitado, em Lisboa. Num lugar confinado, que pouco excedia um quarto<br />
pequeno, cabiam o espaço e o tempo infinitos. Por todo o lado existiam<br />
objectos que se abriam a uma pluridimensionalidade, que nos transportavam.<br />
Eram como janelas para espaços maiores e mais vastos. Retrato de uma vida<br />
e face de um homem.<br />
Fotografias de Duarte Belo de um trabalho encomendado por João Pinharanda para a Fundação EDP
RESIDÊNCIAS NA TERRA 120<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
121
RESIDÊNCIAS NA TERRA 122<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
123
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Pertença e contradição<br />
Lídia Jorge<br />
OUTRAS INQUIRIÇÕES 124 125<br />
Terão os escritores um lugar de pertença? Poderão eles,<br />
simultaneamente, pertencer ao mundo, mas também a uma terra,<br />
a um lugar? Lídia Jorge transporta a herança de um lugar<br />
que olha o Sul a partir de Sagres. Mas transporta-se também<br />
na literatura onde se funde o segredo do mundo que se derrama<br />
nas páginas da sua escrita.Talvez, por isso, não haja aí<br />
qualquer contradição, antes uma dupla pertença.
1.<br />
Discorrer sobre a noção de pertença, como<br />
sobre a noção de cisma, traição ou singularidade,<br />
significa invocar um estado de lucidez<br />
e exercitar uma capacidade de raciocínio demonstrativo<br />
que, em geral, estão ausentes no<br />
processo que transforma o sujeito num escritor<br />
de ficção. No que me diz respeito, a simples<br />
invocação do tema transporta-me directamente<br />
até aos lugares ambíguos da Literatura, e a ideia<br />
de partilha da pessoa entre si e si mesma, como<br />
ser criador e como criatura, expressão de pertença<br />
para a qual os gregos encontraram definitivamente<br />
a palavra ethos, põe-me diante dos<br />
olhos, em vez de raciocínios, a última página<br />
da Ilíada na qual vejo o enterro de Heitor, o<br />
corpo cremado de Heitor, os seus restos mortais<br />
reunidos dentro duma urna de ouro, amortalhado<br />
sob o olhar dos Aqueus, como anúncio<br />
do enterro inevitável de Tróia. É assim, indo<br />
beber demasiado longe, que me chega a noção<br />
de corpo como metáfora da terra donde se vem<br />
e para onde se vai, porém, terra, porção de<br />
poeira nomeada com letra maiúscula, a que<br />
cada um chama de sua pátria. Como noutras<br />
situações se chama família, comunidade, mito<br />
ou língua.<br />
Contudo, a noção de pertença nem sempre<br />
é servida por imagem tão unívoca nem tão<br />
heróica como a representação do domador de<br />
cavalos, em prol da sua pátria, por mais brilhantes<br />
e rumorosas que sejam essas últimas<br />
viagens. Pelo contrário, este é um território<br />
sem caminhos direitos nem simplicidades<br />
fáceis.<br />
Começa pelo facto de que pertencer pressupõe<br />
antes de mais um génesis, o que significa, à<br />
Antes que nos cubra a pedra<br />
por lavrar<br />
antes que o lavrador perca<br />
a partilha<br />
Um monumento exacto há<br />
que erigir<br />
entre a Batalha e a Bastilha.<br />
Luiza Neto Jorge<br />
partida, que fazemos parte de alguma coisa que<br />
estava feita antes de nós e nos proporcionou o<br />
ser antes da existência. Significa sermos do<br />
mundo dos outros, termos nascido da vontade<br />
ou do desejo dos outros e não podermos ser<br />
independentes deles. A pertença ou, pelo menos,<br />
os grandes mitos da pertença começam aí e, por<br />
isso, para falar deles é inevitável percorrermos o<br />
território involuntário da infância.<br />
Aliás, para quem suspeita que a existência<br />
se desenvolve segundo um panorama de «regiões»<br />
sucessivas que se vão dando-à-luz umas<br />
às outras, a ideia de se descortinar nas vivências<br />
iniciais o indício de todas as metáforas da vida<br />
proporciona, no âmbito de questões como as da<br />
pertença, um munus inestimável de efeitos e causas<br />
legíveis – o nosso corpo como pertença de<br />
vários regaços, entre eles o da família. A segurança<br />
da paisagem como alimento para a concepção<br />
da terra, onde está a pátria. O discurso materno<br />
como alimento da fala onde está a língua. A permanência<br />
dos saberes iniciais transitáveis de<br />
geração em geração, como construção dos mitos.<br />
Ou a magia da vida sincrética, indistinção entre<br />
nome e coisa, relato e facto, como mãe inaugural<br />
da literatura. Tudo isso se pode encontrar a<br />
residir na infância, como lugar fundador onde<br />
as raízes mais fundas estão.<br />
Diz o senso comum que a pertença se fundamenta<br />
na configuração dos primeiros abraços,<br />
nas primeiras viagens através da terra, nas<br />
primeiras ligações ao mundo e à multidão, esse<br />
feixe de actos que nos atam aos outros e às coisas<br />
para sempre. Por isso pertencer, independentemente<br />
do lugar que aí se ocupa, significa<br />
ser do outro, de outra coisa, ser do mundo. E a
OUTRAS INQUIRIÇÕES 126 127<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
escrita vive disso, dessa sopa mágica indistinta<br />
que alimenta a Arte como interpretação do<br />
mundo.<br />
Mas o movimento da escrita, o impulso<br />
que revela o escritor não apenas como transmissor<br />
de heranças, antes como criador de<br />
novas paisagens da alma, bem como a energia<br />
que o pressupõe, é na metáfora da adolescência,<br />
essa outra região mental onde se desenha<br />
em todo o indivíduo a traição à sua tribo, que<br />
se deve procurar. Tenho para mim que é na<br />
repulsa pelo conhecido, repulsa contra a família,<br />
contra a terra natal, os mitos locais, a língua<br />
materna, os livros dos seus avós e da sua<br />
nação, que se faz o adolescente que deseja ser<br />
outro, ser diferente, fundar o seu próprio horizonte<br />
e o seu próprio tempo, ser pai de um<br />
novo mundo, ser patriarca duma nova tribo. À<br />
semelhança do escritor, e vice-versa, o adolescente<br />
quer conhecer os limites do universo<br />
para se auto-avaliar como aquele que deseja<br />
transpor o portal do desconhecido. Aliás, à<br />
imagem do adolescente, todo o escritor deseja<br />
inaugurar um olhar inovador sobre a realidade<br />
e a fantasia, e em geral, confessada ou inconfessadamente,<br />
é corrente vislumbrar o futuro<br />
da sua própria obra não como descendente<br />
mas como fundador. Por isso, em relação à<br />
noção de pertença, a Literatura aparece como<br />
um território armadilhado pela contradição de<br />
nela se negar o que não se pode alienar nem se<br />
consegue perder.<br />
2.<br />
É à luz desse duplo movimento de sedução<br />
pelos territórios da pertença e simultânea<br />
repulsa pelos mesmos que melhor entendo<br />
escritores cuja emoção literária me faz com<br />
frequência revisitar os seus livros. É assim, por<br />
exemplo, que entendo Curzio Malaparte, seu<br />
amor e aborrecimento pelo seu país, seu envolvimento<br />
e ódio pela Europa da sua época, a<br />
que chamou com desespero derradeiro de<br />
«Mãe Apodrecida». Ou Faulkner, do outro lado<br />
do Atlântico, ao mesmo tempo tão adverso e<br />
tão no âmago do seu Sul conservador norte-<br />
-americano, contra o seu meio contemporâneo<br />
ainda meio esclavagista, e em simultâneo rente<br />
à autopunição colectiva de que era parte e com<br />
a qual se confundia. Ou o contemporâneo<br />
Milan Kundera, inseparável do mundo checo<br />
de que se fez crítico, fugitivo e ao mesmo<br />
tempo, na força da sua dissensão, exímio<br />
porta-voz da afasia de um povo dominado de<br />
que na altura se auto-excluía. É assim que<br />
entendo Virginia Woolf, em cuja personalidade<br />
as correntes culturais que agitavam o Ocidente<br />
no princípio do século XX encontraram ressonâncias<br />
extraordinárias. Mas a impetuosidade<br />
criadora mais genial dessa figura singular<br />
parece ter-se formado contra outro tipo de<br />
pertenças – as próximas, as domésticas, as<br />
familiares, as nacionais, as do mundo íntimo<br />
contra o qual se forjou a elite de Bloomsbury.<br />
Antes de mais, uma fuga e um corte com a<br />
convenção inglesa. Aliás, em Portugal, o exemplo<br />
mais eloquente desse cisma continua a corporizar-se<br />
na figura de Eça de Queirós, escritor<br />
realista do século XIX que concretizou toda<br />
uma obra de carácter irónico excepcional, em<br />
torno da contradição entre a pertença negada e<br />
a espectacular fuga fingida em relação ao seu<br />
país. Distantes ou próximos, em todos vislumbro<br />
o mesmo movimento de dissidência, o<br />
mesmo desejo do caminhante incorrigível de<br />
ganhar o largo, ainda que carregando às costas,<br />
sem saber, a soleira da porta donde saiu para<br />
não mais voltar. Em relação à questão da pertença,<br />
é no meio desse tipo de contradição que<br />
me vejo.<br />
Contradição que é feita de múltiplos elementos,<br />
tecida de infidelidades várias e dissidências<br />
complexas em torno do que é a questão<br />
central entre ser e não ser, ou ser e não se<br />
conhecer a natureza do que se é.<br />
Como explicar a pertença, ou mesmo descrevê-la,<br />
se pertencer é uma questão central, e<br />
no entanto cada um começa por não saber definir-se<br />
enquanto pertencido? As próprias áreas da<br />
pertença se cruzam e mesclam indefinindo-se<br />
mutuamente. Muitas vezes tenho a ideia de<br />
que, mais do que à sociedade, pertenço às<br />
ideias. Mais do que à família, pertenço aos que<br />
amo. Mais do que à Língua, pertenço à Literatura.<br />
E, mais do que a mim mesma, pertenço à<br />
dúvida. O que significa que eleger campos de<br />
demonstração simplificados implica torná-los<br />
visíveis, mas ao mesmo tempo traí-los e, na<br />
complexidade da sua raiz, perturbá-los. Mas<br />
não resta outro caminho senão o das simples<br />
evidências.
3.<br />
Assim, a minha primeira ideia, antes de<br />
mais, é que acima de tudo pertenço ao<br />
mundo, ao mundo contemporâneo que me é<br />
dado viver, sendo aí, no seu campo de metamorfose<br />
contínua, que encontro o território<br />
adequado para perguntar e responder, suster e<br />
transformar, acções que mais faço coincidir<br />
com a vida.<br />
Ela própria me diz que pertencer significa,<br />
como primeiro dado, fazer parte do<br />
devir imparável que é o presente, que cada<br />
dia amanhece mais adiante e a cada momento<br />
funda uma nova era, como disse Musil, e cuja<br />
delimitação em termos geográficos não<br />
tem significado, ou pelo menos parece não ter.<br />
O meu campo de pertença, existência e observação<br />
coincide com um novo «admirável<br />
mundo novo», dele fazendo parte e dele aproveitando<br />
os benefícios de comunicação e<br />
conhecimento nunca antes imaginados, mas<br />
também contra ele reagindo no seu excesso<br />
de desumanidades várias. O meu sentido de<br />
pertença e sentimento de ser palpável, antes<br />
de tudo, define-se em função dos obstáculos à<br />
utopia para que aponta o progresso do<br />
tempo, como são os objectos inúteis, os<br />
objectos de fogo, os detritos, os efluentes ou<br />
a imparável pavimentação da terra, sabendo<br />
que lhes pertenço, mas que os combato como<br />
a castelos inimigos inexpugnáveis e ocupo<br />
grande parte dos meus dias em contenda com<br />
isso. Julgo mesmo que, em parte, escrevo<br />
sobre a ansiedade por uma espécie de harmonia<br />
imaginada e integro esses elementos<br />
como partes de um território de incursão e<br />
contenda, perante o mundo que se constrói a<br />
uma velocidade incontrolável e com uma<br />
opacidade ameaçadora. Uma espécie de pertença<br />
contenciosa, gerida sob a iminência do<br />
futuro, em torno duma globalidade genérica<br />
que contém homens lá dentro. Homens que<br />
não sei se vão ser livres. Então surge-me a<br />
ideia de que o território primeiro a que pertenço<br />
é o dos homens, na abstracção do conceito<br />
maiúsculo de Humanidade e na generalidade<br />
do Tempo.<br />
Mas isso não é verdade, ou pelo menos é<br />
apenas uma parte da verdade, no que diz respeito<br />
à profunda pertença.<br />
4.<br />
Quando ocorre ler o que escrevo, percebo<br />
até que ponto, de mistura com os elementos<br />
duma utopia dirigida ao futuro, de carácter<br />
pretensamente universal, transporto comigo o<br />
lastro dum passado histórico determinado e a<br />
raiz duma nação concreta. A própria avaliação<br />
que faço do presente e do futuro não está isenta<br />
dessa informação à qual, de forma involuntária,<br />
pertenço. A escrita, pelos actos involuntários<br />
que envolve, pelos gestos apelativos que<br />
não acautela, revela faces ocultas e indistintas<br />
de que nos julgamos destituídos. Na sequência<br />
da primeira imagem ocorrida, eu diria que,<br />
através dela, o ethos, ou os rostos dos Heitores<br />
que existem amortalhados, desfigurados, ou<br />
mesmo invertidos, dentro de cada um, falam<br />
por si sem auxílio de qualquer voluntariosa<br />
pertença. Ao lado de gestos displicentes ou até<br />
de desprezo propositado contra a nação, sem<br />
querermos,Tróias, na iminência de desaparecerem<br />
sob várias camadas de areia, reluzem dentro<br />
da nossa cabeça, na sua importância de<br />
cidadelas mentais. A escrita revela isso, como se<br />
não pudesse deixar de ser um espelho de faces<br />
que não conhecemos ou que, existindo, não<br />
gostamos de desvendar. Só assim entendo que,<br />
de mistura com o confronto que mantenho<br />
com o presente enquanto sua parte, me encontre<br />
envolvida com os mitos profundos que<br />
governam o imaginário dos portugueses e justaponha<br />
o enigma do tempo que passa ao enigma<br />
que empurra a configuração particular do<br />
meu país.<br />
Percebo, por exemplo, que transporto<br />
desde a infância a notícia duma espécie de<br />
proeza acontecida no dealbar do século XVI, de<br />
que os portugueses foram autores principais<br />
indiscutíveis. Concretamente, transporto um<br />
sentimento próximo da estupefacção, pelo<br />
facto de um pequeno país, na altura com pouco<br />
mais de um milhão de habitantes, ter sido<br />
capaz de entregar à Europa dois continentes até<br />
então desconhecidos e ter aberto por mar caminhos<br />
alternativos para se atingir os outros dois.<br />
Em suma, ter entregue a Terra redonda ao<br />
Mundo tal como ficou para sempre e com tudo<br />
o que se lhe seguiu. Embora rente aos mitos de<br />
grandeza também estejam as perplexidades e os<br />
mitos que lhe são opostos. Dificilmente consi-
OUTRAS INQUIRIÇÕES 128<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
129<br />
go ultrapassar imagens controversas desse tempo<br />
e sempre imagino, quando as nomeio, figuras<br />
como as de António Faria assaltando e pilhando<br />
barbaramente, segundo as páginas da Peregrinação,<br />
ou como as do seu vice-rei,Afonso de Albuquerque,<br />
conhecido pelos orientais como o<br />
«leão dos roubos do mar».Vejo, com a ajuda de<br />
Pessoa, «dedos decepados sobre amuradas» de<br />
barcos portugueses, imagens de crueldade infinita<br />
desencadeadas à sombra da bandeira de<br />
Cristo, abençoadas pela mitologia da época<br />
como uma luta limpa em favor da Fé e da fraternidade<br />
no céu, matéria formidável para a<br />
interminável continuação da «História Universal<br />
da Infâmia». Lados tenebrosos sobre os<br />
quais se estava a construir então uma futura<br />
modernidade saída em simultâneo da coragem<br />
e do abominável. De qualquer modo, mesmo<br />
quando só para visitar os seus lados escuros e<br />
os desdizer, vou lá, vou aos mitos do passado<br />
do meu país, como se eles concorressem de<br />
longe para a compreensão deste presente inapreensível<br />
onde me movo e contra o qual disputo,<br />
porque lhe pertenço.<br />
5.<br />
Então fico a pensar que o enigma dum<br />
tempo e duma nação se assemelha também ao<br />
enigma pessoal como partes infinitamente assimétricas<br />
mas da mesma espécie, e julgo que<br />
afinal, mais do que à questão do território e da<br />
História, pertenço ao enigma da natureza,<br />
sobretudo a comummente designada por natureza<br />
humana.<br />
De facto, interessa-me a pessoa, mais do<br />
que tudo, pertenço ao dilema da pessoa, ao território<br />
da sua intimidade, ocupo-me da sua<br />
composição, suspeitando que a divisão entre<br />
corpo e espírito é uma complexa equação sem<br />
resolução possível. E talvez seja esse o meu território<br />
de incursão e confronto, logo de existência<br />
e de pertença, que mais privilegio. A pessoa<br />
como contra-destino e destino. Nesse<br />
domínio, há muito que me encosto aos olhos<br />
alucinados de Emily Dickinson, proferindo<br />
com a ajuda dos seus lábios vivos palavras de<br />
sedição – «Poeira quieta, tu que foste damas e<br />
cavalheiros» (Cette paisible poussière fut messieurs et<br />
dames). Digo em voz alta. Eu mesma fico quieta<br />
e muda, à espera que a poeira se mova e se<br />
revele. Não revela. As próprias palavras na surpresa<br />
do seu encontro são a revelação. Não há<br />
outra. Então socorro-me dos escatológicos,<br />
aqueles que, desesperados pela ausência de um<br />
nome justo para o habitante do corpo, invectivam<br />
o corpo, o anatomizam e o descrevem<br />
como órfão de uma paternidade inominável, e<br />
o vêem ligado à terra e ao estrume como a<br />
ficha se liga à tomada. O biodegradável corpo<br />
exposto, na expectativa de nomeação, à espera<br />
de um princípio que o salve de ser nada. Ou<br />
penso, com a ajuda do austríaco Ernest Jandl, as<br />
suas próprias palavras – «la machine à merde est pour<br />
l’essentiel en toi/ miracle de la création, merveille chancelante/<br />
tu n’es ni son ingénieur ni son inventeur/ mais son<br />
propriétaire, gardien et profiteur». Pronuncio assim<br />
mesmo essas exactas palavras de abjecção, porque<br />
elas traduzem o sentimento dos que se sentem<br />
sem-terra de tudo ser só terra, se sentem sem-<br />
-corpo, de tudo ser só corpo, a ligação cortada<br />
entre o céu e a matéria. Cortada, como um estado<br />
decepado, um trauma. Eu própria acho que<br />
nunca escrevi nenhuma página que não tivesse<br />
essa inquietação implícita, mesmo quando não<br />
expressa. Mais do que a um lugar ou a uma viagem,<br />
pertenço à região desse ferimento e à<br />
inquietação que o sustenta.<br />
6.<br />
Só que, de novo, atrás do homem está a<br />
História, mesmo quando reduzido ao papel<br />
fantasioso de personagem comum. Na verdade,<br />
mesmo quando julgo o contrário, descubro<br />
que jamais escrevi apenas sobre a fotografia da<br />
mãe antiga colocada sobre a aba da mesa<br />
moderna. Sem o desejar, o mundo donde a mãe<br />
e a mesa procedem arrastam rios de tempo significativo<br />
e lugares habitados por gente histórica,<br />
fazendo confluir atrás de si todos os outros<br />
elementos de pertença. Em ficção, a espera de<br />
um laço salvador que una as metades do corpo,<br />
com a outra parte que o nomeie, toma a forma<br />
de personagens comuns que devem viver só por<br />
si e, em simultâneo, entroncam no destino de<br />
personagens herdadas de há séculos, por estranho<br />
que pareça. Talvez porque dos mitos – aos<br />
quais de novo voltamos – sobejem partes<br />
móveis que caminham activas ao encontro do
presente, desde que o presente ainda os continue<br />
a entender como traumas e coincidam consigo.<br />
É o caso do sebastianismo, entre nós, por<br />
exemplo.<br />
Trata-se da história dum jovem rei lunático,<br />
sem filhos, que desapareceu em luta contra<br />
cinco reis mouros, nos areias do Norte de África,<br />
no final do século XVI, e donde nunca mais<br />
voltou nem vivo nem morto, dando origem a<br />
uma expectativa de regresso salvador que foi<br />
passando de século em século. Figura real<br />
enlouquecida, misto de Quixote e Godot, foi<br />
permanecendo até hoje, no meu país, confundindo-se<br />
com a noção corrente de que o bem e<br />
o bom estão do lado de fora, que tudo o que há<br />
a fazer é deixar a porta aberta para que aquele<br />
que vem possa entrar. O mito é terrível pelo<br />
imobilismo que arrasta. Diria mesmo, aparentemente,<br />
desajustado à realidade actual. No<br />
entanto, como muitos outros, através de algumas<br />
personagens, percebo que eu própria o<br />
transporto, mesmo que deseje fugir do país que<br />
o contém e o renegue por deliberação tomada.<br />
Pois por que razão o não transportaria eu como<br />
os outros, como cada um? O universo duma<br />
população é feito por acaso de números abstractos?<br />
E não é quem escreve uma pessoa<br />
comum? Então por que razão, quando me pergunto<br />
sobre o destino do corpo e a natureza do<br />
seu habitante invisível, hei-de estar a salvo<br />
desse terrível fantasma que habita os cantos do<br />
meu país, alma sem corpo, fantasma no corpo<br />
de gerações e gerações sucessivas de gente que<br />
o perdeu e nunca o encontrou? É vergonha<br />
dizê-lo? – Quando menos me dou conta, percebo<br />
que, esgotado o vocabulário da dúvida, eu<br />
mesma pertenço aos fantasmas.<br />
Mas há mais.<br />
Por exemplo, durante séculos, o corpo geográfico<br />
do império funcionou como uma realidade<br />
descomunal. Desde o século XVI que os<br />
portugueses se gabavam, com a ajuda dos versos<br />
de Camões, de jamais se pôr o Sol nas terras<br />
de Portugal, aquém e além-mar, sendo África,<br />
depois da independência do Brasil, a jóia mais<br />
preciosa da coroa, destino transcendental da<br />
pátria. Mas no final do século XIX, estabelecida<br />
a disputa entre as potências europeias pelos<br />
domínios africanos, Portugal foi vencido pelos<br />
ingleses na contenda da partilha de África.<br />
Ainda hoje o hino nacional português, nascido<br />
na sequência do célebre mapa cor-de-rosa,<br />
mantém os vestígios desse terrível momento de<br />
perturbação. Acaso não se reconhece no refrão<br />
do hino nacional, «Heróis do Mar», a letra primitiva<br />
«Contra os bretões, marchar, marchar...»?<br />
Na altura, uma das formas encontradas<br />
para reagir à perda? Não admira que o ridículo<br />
e a perda sejam comportamentos que passam<br />
para os domínios próprios da Literatura,<br />
mesmo que ela seja, por natureza, muito mais<br />
transfiguração do que retrato.<br />
E setenta anos depois, em relação a esses<br />
mesmos domínios em África, não ficaria envolvido<br />
o país numa Guerra Colonial fora de<br />
horas, tão dolorosa que ameaçava fazer apodrecer<br />
todo o tecido social, e que viria a terminar,<br />
fora de horas também, por uma perda tão grande<br />
que ainda hoje não se consegue gerir com<br />
decência, nem do lado de cá nem do lado de lá?<br />
Pois talvez seja difícil a qualquer escritor da<br />
minha geração falar do corpo e do fluido que o<br />
anima, sem que a referência ao esfacelamento<br />
inglório de contingentes inteiros ocupe um<br />
lugar de destaque. É mesmo capaz de ser difícil,<br />
para uma pessoa que fez a guerra de África ou a<br />
acompanhou, e teve o seu primeiro embate<br />
com a morte desse modo e nessas paragens, de<br />
não perguntar pelo sentido do corpo, vendo<br />
diante de si gente esmigalhada, entregando o<br />
corpo à terra no meio do mato, por uma causa<br />
de nada. E quem diz o sentido do corpo diz o<br />
sentido do dever e do desejo, e do amor, talvez<br />
o da morte em primeiro lugar. A prova de que<br />
uma parcela de nós mergulha no terreno colectivo<br />
de que faz parte, sobretudo se parte das<br />
narrativas que o constroem ainda não estão<br />
fechadas.<br />
7.<br />
No caso do tempo presente, porém, todas<br />
as narrativas se encontram abertas, dispostas à<br />
transfiguração, sobretudo quando o presente<br />
que testemunhamos e vivemos se afigura<br />
enquanto problema. Há momentos e países que<br />
pela sua situação de aceleração histórica, ou<br />
por confluência de factos, se encontram mais<br />
disponíveis à transfiguração do que outros. No<br />
caso português, a própria natureza das mudanças<br />
ocorridas durante os últimos vinte cinco<br />
anos torna inevitável, ou pelo menos propicia
OUTRAS INQUIRIÇÕES 130<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
131<br />
fortemente, a criação do outro relato, o ficcional,<br />
aquele que Carlos Fuentes designa por<br />
«criação de uma segunda história que cega e<br />
diminui a dos historiadores de arquivo», baseada<br />
apenas na memória e nos projectos pessoais.<br />
A propósito da Literatura portuguesa recente, é<br />
corrente referir-se essa coincidência.<br />
Mas aí também, como em tudo o mais,<br />
sempre se pertence às conjunturas históricas<br />
por círculos concêntricos, de intensidade diferente<br />
e de vária natureza. Nesse domínio, mais<br />
do que ao meu país de há vinte cinco anos<br />
atrás, pertenço à determinação e ao acontecimento<br />
que lhe mudou o rumo. Pertenço à<br />
matéria palpável da alegria que aconteceu na<br />
sequência duma revolução que pôs termo à<br />
ditadura de meio século que se havia abatido<br />
sobre a sociedade portuguesa desde os longínquos<br />
anos vinte, até aos anos setenta, ditadura<br />
sustentada por elites sem qualquer noção de<br />
partilha e por um povo iletrado e supersticioso<br />
destituído, na sua generalidade, de qualquer<br />
noção de revolta. Pertenço ao dia em que essa<br />
cadeia de equilíbrio recíproco se quebrou, em<br />
que fui testemunha de como é possível inverter<br />
a marcha do que parece inevitável, pela<br />
força da coragem pessoal de um grupo. Pertenço<br />
a esse momento como a um ponto de<br />
encontro entre a justiça e a inversão do destino,<br />
em forma de gente, milhares de fotografias<br />
a preto e branco, com flores vermelhas. E porque<br />
essa certeza foi adquirida quando a juventude<br />
ainda se assemelhava à adolescência, ela<br />
incorporou-se no sangue, ou no genoma, ou<br />
seja onde for, e transformou-se numa espécie<br />
de segurança que me sustenta o ser. Ou<br />
melhor, esse momento habita comigo como<br />
um ente querido, tem corpo e ocupa espaço e<br />
reivindica gestos, como uma pessoa de família.<br />
Pertenço a esse momento como se pertence a<br />
uma geração, e penso mesmo que a minha<br />
geração, se existe enquanto consciência, está<br />
concentrada em torno desse acontecimento.<br />
Assim como pertenço à sociedade que daí saiu,<br />
a braços com a redefinição dos seus vizinhos,<br />
seus aliados, seus novos valores e duros percursos,<br />
suas metas demasiado altas para serem<br />
atingidas demasiado rápido. Uma sociedade na<br />
generalidade constituída por gente muito pobre<br />
que rapidamente deseja ser muito rica. Mais do<br />
que ser democrática ou estimar os valores da<br />
partilha, do saber e do discorrer livre. Porque<br />
uma parte dela, muito mais do que era suposto<br />
imaginar, continua a desejar prolongar<br />
estruturas mentais que faziam o mundo antigo.<br />
Nesse domínio, pertenço-lhe por repulsa e por<br />
mágoa. Pertenço-lhe por inevitabilidade de lhe<br />
pertencer. Por isso, mais do que à sociedade<br />
dentro da qual sou número e tenho um nome<br />
civil, pertenço ao mundo dos meios que a<br />
reproduzem por palavras, a lêem em termos<br />
críticos ou mais propriamente a alteram e a<br />
transfiguram. Pertenço-lhe com a mesma contradição<br />
com que pertenço ao tempo contemporâneo.<br />
8.<br />
Pertenças várias e inúmeras que funcionam<br />
como laços mas também como destinos e condenações,<br />
ou como matérias-primas, no caso<br />
de se encontrar o veículo que as transporta para<br />
o lugar do não-destino. Por exemplo, a Literatura,<br />
que em si mesma é um espaço de corte e<br />
liberdade. E que dizer sobre isso?<br />
Que pertenço à Literatura, campo das palavras<br />
libertas do real, e dentro dela à ficção, o<br />
terreno da transfiguração dos factos em actos<br />
simulados. Na verdade, a sua natureza e função<br />
consistem em escolher, inverter, desfigurar o<br />
que está dentro da matéria das pertenças, de<br />
modo a produzir-se uma nova realidade verdadeira,<br />
que não se opõe à realidade falsa, e nesse<br />
salto de qualidade e espécie consiste a criação,<br />
isto é, o acrescento de alguma coisa ao mundo<br />
que antes lá não estava. Naturalmente que se<br />
pertence à Literatura e à ficção sem a noção<br />
dessa importância. Começa-se por se pertencer<br />
porque sim, porque acontece, porque se tem a<br />
ideia, como leitor, de que se pode sonhar.<br />
Depois é que se entende que se pertence a uma<br />
matéria que se desprende da prisão do real,<br />
para dizer que ele não é suficiente, impondo-<br />
-lhe uma nova lógica, ou tornando-o visível nas<br />
suas partes vivas, lá onde havia um limbo amalgamado.<br />
E na participação dessa acção de liberdade<br />
consiste nascer o criador que é o leitor e é<br />
o escritor, diferentes, mas irmãos. Nascer e<br />
crescer no espaço de liberdade que permite<br />
abrir uma nova possibilidade entre as outras e,<br />
desse modo, à reprodução de qualquer dilúvio
terrível que esteja em nossa mente, sempre se<br />
pode juntar uma barca. Pelo menos, se outra<br />
não for, que seja a própria barca das palavras, a<br />
que melhor une um a outro.<br />
Ou, por outras palavras, a Literatura, e dentro<br />
dela a ficção, permite que a corrente falada<br />
em todas as direcções como uma matéria optativa<br />
permanente transforme o outro num igual a<br />
mim mesmo e se crie um corpo de afinidades<br />
consentidas, responsabilidades cruzadas e culpas<br />
divididas, já que procura atingir, através de<br />
cada personagem, simulacro de gente, o coração<br />
profundo do homem, esse local onde as<br />
diferenças se esbatem em torno daquilo que faz<br />
cada um dos implicados pertencer a um todo.<br />
Determinada noção profunda de comunidade<br />
só se aprende na Literatura. Nesse sentido, para<br />
alguns leitores da minha geração, o romance Por<br />
Quem os Sinos Dobram acabou por ser muito mais<br />
importante pela epígrafe que permitiu o título<br />
do que pela longa narrativa em si mesma.<br />
Hemingway apenas copiou, como portal da<br />
primeira página desse livro admirável, a invectiva<br />
de John Donne – «Nenhum homem é uma<br />
Ilha isolada; cada homem é uma partícula do<br />
Continente, uma parte da Terra; se um Torrão é<br />
arrastado para o Mar, a Europa fica diminuída,<br />
como se fosse um Promontório, como se fosse<br />
a Casa dos teus Amigos ou a Tua Própria; a<br />
Morte de qualquer homem diminui-me, porque<br />
sou parte do Género Humano. E por isso<br />
não perguntes por quem os sinos dobram; eles<br />
dobram por Ti».<br />
Pertenço à Literatura e dentro dela à ficção,<br />
por esse serviço que presta à totalidade, em<br />
torno dos desejos que nos são comuns, traduzidos<br />
em imaginação pela palavra liberta. Em<br />
Literatura, não há imobilização nem morte de<br />
Heitor. O monumento de pedra que não se<br />
ergueu entre a Batalha e a Bastilha está sempre<br />
a erguer-se. Um e outro são válidos sem a fronteira<br />
das palavras das línguas, agarradas à circunstância<br />
geográfica. Aliás, na contradição<br />
entre pertencermos e libertarmo-nos daquilo<br />
que pertence à Língua, que sempre escreve o<br />
modo do nosso pensamento antes de nós próprios<br />
podermos escrever, e connosco se confunde<br />
como parte do nosso corpo, a língua<br />
materna é uma liberdade e ao mesmo tempo<br />
uma condição insuficiente.<br />
Neste campo, seria mesmo uma falta não<br />
dizer que pertenço à Língua portuguesa. É com<br />
ela que estabeleço a minha luta e o meu confronto<br />
e os meus actos mais livres que são os de<br />
dizer. A exaltação das suas virtudes e possibilidades<br />
não pode ser regateada. Existem monumentos<br />
infindáveis de elogio à minha língua e<br />
concordo com todos eles. Mas por vezes dou<br />
por mim à procura de nuances que não apresenta,<br />
modos que impõe, liberdades que me tira ao<br />
lados das liberdades que dá. Talvez, como em<br />
todos os outros idiomas, faltem nela palavras<br />
para traduzir sentimentos complexos onde os<br />
vocabulários são simples. Faltam chaves. Faltam,<br />
por exemplo, termos para traduzir a voz<br />
dos seres que se movem e nos imitam nos actos<br />
do sono e do amor, mas não falam nenhuma<br />
linguagem que se entenda. Faltam as palavras<br />
para traduzir o que diríamos se fôssemos seres<br />
inanimados que não nos dizem nada e nos<br />
quais julgamos existir uma natureza significativa.<br />
Uma vez que somos pouco e o mundo da<br />
expressão é vasto, por que razão as línguas não<br />
são tão vastas, nem tão dúcteis, nem tão universais<br />
quanto sonhamos para que a Literatura seja<br />
um campo sem barreiras? De facto, a vocação<br />
da Literatura é fundir-se com o próprio segredo<br />
do mundo que permanentemente questiona,<br />
como se antes de nós tivesse havido um acto<br />
interrompido e as palavras acima das fronteiras<br />
das línguas ainda pudessem ligar o mundo ao<br />
seu sentido. Estar aí, saber que não posso sair<br />
desse dilema nem o posso resolver, é a minha<br />
pertença.
A MUDANÇA DA TERRA<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
132 133<br />
O retratista de corações<br />
Luísa Monteiro<br />
Praia da Rocha, anos 50. Arquivo Museu Municipal de Portimão
Pareciam sempre velhos, sempre branca<br />
a barba rala, ramela ao canto do olho<br />
cansado de tanto azul, sentados nas areias.<br />
Finas. Sul.<br />
Permanentes nos seus rolos de espuma,<br />
as ondas cantavam nas madrugadas<br />
molhadas a saudade da ternura das mulheres<br />
– e elas secando, secando na enxerga<br />
do desejo: como medusas lançadas ao sol.<br />
Tal gaivota alada, surgia então o acenar<br />
de uma grossa e calejada mão de remo e<br />
era a riso de feno que cheirava o mar; bafo<br />
molhado de pão. Chegavam sem amarras,<br />
embriagados de mar, oscilando, lembrando<br />
que não devia tardar a manhã para<br />
sonhar. (Amar).<br />
Depois, o arrieiro enchia as duas<br />
canastras de empreita, feitas de paciência e<br />
paixão num serão de sono e calafrios femininos.<br />
Enchiam-se de sardinhas, carapaus,<br />
safios, cheias ficavam como seios redondos<br />
prontos a amamentar, prontos a parir,<br />
era hora de partir.<br />
Como se de uma loucura se tratasse, o<br />
velho arrieiro enlaçava com um baraço as<br />
duas taças de vida, quais laços de cetim<br />
em roda de cinturas virgens, entrançava,<br />
cobiçava a forma fresca daquele festim<br />
(que embaraço pensar em coisa alguma<br />
que não fosse fincar os pés descalços na<br />
areia fina).<br />
Cada canastra na margem da vara,<br />
varada a testa de suor, toca a levantar, elevar<br />
aos magros ombros e carregar, toca a<br />
andar, do mar à lota, nunca afrouxar até<br />
arrear, gritar, propagandear, o preço baixar<br />
até que alguém o braço levante, «chui!»,<br />
era a forma de assinalar negócio tão marinheiro,<br />
incerto, matreiro... (Quanto<br />
menos malandro, mais o pão é traiçoeiro).<br />
Fazia-se então manhã ante os olhos,<br />
fria ante os dedos dos pés. A praia enchia-<br />
-se dos primeiros banhistas às riscas, risonhos,<br />
redondos, rosados, rolantes. E logo<br />
lá em cima no passeio, imponente, mágico<br />
(nada vale a pena se não for mágico), surgia<br />
o retratista, com o cavalo de madeira<br />
ao ombro (tentador) e uma senhora pernalta<br />
de saia preta na mão (assustadora).<br />
Todos sabiam o quanto ele mentia.<br />
Dizia-se dono do tempo. Entre a taberna e<br />
o barbeiro, o cigarro e o pano preto, o<br />
retratista prometia um passarinho em<br />
troca de 25 tostões. E a praia ficava deserta<br />
de crianças. Todas queriam chegar ao<br />
cavalo do tamanho de trazer pelo primeiro<br />
sono.<br />
E quando as mandava ficarem quietas,<br />
de laços brancos a penderem-lhe da testa<br />
sombria, parecia que o cavalo de madeira<br />
de cor esbatida pelo sol ganhava vida. (E se<br />
o cavalo agora voasse, se galopasse pelas<br />
ruas? Não haveria retrato com tons de<br />
espuma, madrugada e luas).<br />
O retratista mandava no tempo, até o<br />
mandava parar – para poder espreitar pelo<br />
grande e negro olho mágico os corações<br />
nervosos das crianças.<br />
Conta-se a história que houve um<br />
arrieiro velho que aguardou toda a manhã<br />
pelo passarinho, imaginando-o a esvoaçar<br />
a partir dos olhos azuis dos meninos que<br />
montavam o cavalinho de madeira pintado<br />
de branco, com uma sela amarela, ou<br />
então da saia preta em que o retratista<br />
mergulhava a cabeça, ou talvez da sua boca<br />
vermelha.<br />
Mas, à medida que as caixas metálicas<br />
de retratos instantâneos foram crescendo<br />
nas esquinas acolhedoras de maresia, o<br />
cavalinho foi apodrecendo na praia; há<br />
algas ainda a fazerem das farpas jangadas<br />
de saudade, porque já não há retratos com<br />
as cores da alma e laços brancos enfunados<br />
sobre a testa. Nem canastras, nem canastras...<br />
Os retratos de agora já não têm a aragem<br />
vinda do bater de asas do passarinho,<br />
aquele que renascia sempre que uma<br />
criança se sentava no dorso do cavalinho<br />
de sela amarela, com brisa de mar nos<br />
rolos de cabelo.<br />
Era assim há meio século. Agora, o<br />
retratista encontra-se escondido atrás da<br />
lua, com o manto da noite inteira sobre a<br />
cabeça; está a fotografar as ondas azuis, as<br />
que se levantam mais alto por causa da<br />
bater d’asas da alma do passarinho... e<br />
cada retrato, ainda pelo preço de 25 tostões.<br />
Sabe a modernidade que o velho<br />
arrieiro trocou o coração de mar por um<br />
retrato. Sem cavalo de madeira, nem sela<br />
amarela. E, talvez por timidez ou incerteza,<br />
ocultou o olhar com óculos de sol<br />
importados.
A COMPANHIA DOS LIVROS 134 135<br />
N.5 OUTONO INVERNO 2006 2007<br />
Gastão Cruz A moeda do tempo ASSÍRIO & ALVIM<br />
O poeta derrama o corpo e as emoções na praia do poema, onde se espraiam as coisas contemporâneas e se escuta<br />
como num búzio o som do mundo que ecoa nos versos que escreve e na recordação dos versos de outros poetas.<br />
A infância, a memória, os amigos, a perda, a eternidade da morte. A experiência do tempo como experiência do<br />
mundo e da linguagem sujeita a um tratamento reflexivo que reconstrói o passado no presente. O mar, os barcos, as<br />
aves, as árvores como fulgurações de instantes do passado irrompendo no presente, coisas contemporâneas de uma<br />
vida/ que excede a minha vida e se confrontam com as ameaças de um mundo que um dia irá apagar [os versos]<br />
e a incerta esperança que o próprio mundo original seja a casa dos escritos [e] dos poetas que emudecem. Um livro<br />
de ondulações verbais onde se renovam as sonoridades do correr da água/ anterior à água das palavras.<br />
Joaquim Mestre O perfumista OFICINA DO LIVRO<br />
Romance atravessado por uma espécie de sopro de realismo mágico alentejano, cuja acção decorre, no primeiro quartel<br />
do século XX, num território particularmente pobre das margens do Guadiana, conta-nos a história de Manuel Gasparim,<br />
um perfumista apaixonado que cria aromas, faz misturas, inventa subtis olores que levam as mulheres à perdição, chegando<br />
mesmo, nas últimas páginas, a soltar-se um clima de loucura inebriante quando o intenso cheiro a benjoim percorre<br />
a vila inteira perante a perplexidade de todos. É um Alentejo profundo, atravessado pelas várias dimensões da vida,<br />
aquele que se derrama na planície e no silêncio deste livro, que retoma a melhor tradição dos escritores alentejanos, de<br />
que Manuel da Fonseca é o expoente máximo.<br />
Teolinda Gersão A mulher que prendeu a chuva SUDOESTE<br />
Uma nova editora, a Sudoeste [Sextante]. Um editor com a paixão dos livros, João Rodrigues. Um livro de contos de<br />
Teolinda Gersão. Pequenas histórias que são como mundos interiores, mundos de figuras erráticas, deslizantes, de<br />
mulheres cuja interioridade enigmática a autora persegue através de geografias distintas – Nova Iorque, Berlim,<br />
Florença, Lisboa – atravessadas pela morte e pela solidão. Um resto de memória atravessando a cortina do tempo para,<br />
numa fulguração do passado no presente, a realidade nos chegar como uma revelação, uma epifania profana que se<br />
abre à experiência quotidiana transfigurada. Gente em ruínas. Cidades a ruírem. Lisboa, como uma premonição.<br />
Lídia Jorge Combateremos a sombra DOM QUIXOTE<br />
Do outro lado da sombra é um país inteiro que se esconde. Um país que se afunda dentro de um autocarro que cai a um<br />
rio. Gente enredada numa teia pantanosa de mesquinhez, de mentira, de toda a espécie de tráficos silenciados. Uma<br />
omertà à portuguesa. Uma teia que não mostra os fios, apenas os nós. Um livro político? Nem tanto. Lídia Jorge prefere-o<br />
como uma ficção com um assomo político, em que Portugal se deita no divã. Psicanálise de um país à procura de uma pele<br />
nova. Um livro escrito num impulso de melancolia, mas também de raiva contra o nosso processo de revisão cíclica de marcar<br />
passo. Assombros: Osvaldo Campos, o meu Dom Quixote de estimação, as três mulheres, Maria London, a paciente magnífica,<br />
Rossiana, Ana Fausto, vidas de papel que se assemelham à vida de pessoas, um consultório de um psicanalista,<br />
um onirismo revelador, um país fantasmal, uma ficção com um assomo político. Um livro para combater a sombra.<br />
Enrique Vila-Matas Doutor Pasavento TEOREMA<br />
Doutor Pasavento, de Enrique Vila-Matas, é um meta-romance-ensaio onde se respira a mesma ironia shandiana dos<br />
livros anteriores do autor, agora utilizando um estilo mais sóbrio, menos impertinente, mas sempre com uma escrita<br />
culta, lúdica, provocatória quanto baste, que propõe uma desconstrução da figura do autor, concluindo, assim, a sua trilogia<br />
metaliterária (O mal de Montano, Bartlebly & Companhia e Doutor Pasavento). Ao mesmo tempo, trata-se de uma<br />
viagem às regiões inferiores de Robert Walser, que escrevia a lápis para estar mais perto do desaparecimento, do eclipse; de<br />
Emmanuel Bove, que parecia estar sempre à espera que o esquecessem; de Thomas Pynchon, que se esconde em Nova Iorque;<br />
de Kafka, que queria era continuar a existir sem ser incomodado; de Salinger, o escritor que vive em paz, oculto; de W. G.<br />
Sebald, para quem o desaparecimento sempre existiu; de Joseph Roth, que narra a viagem errática de um desaparecido. Uma<br />
poética da extinção.
Nuno Júdice As coisas mais simples DOM QUIXOTE<br />
Na casa do poeta cresce o deslumbramento diante de coisas tão simples como os figos ou a mulher da fotografia – o quotidiano<br />
irrompendo furtivamente no poema para logo ser desfocado, transfigurado, através da alegoria, do devaneio. O<br />
tronco da figueira/ (é agora um) corpo de mulher nua; (…) e o figo que o poeta tem na mão (fá-lo) sentir os seus seios macios;<br />
há também a intertextualidade que o poeta convoca desde a sua biblioteca numa busca da essencialidade poética – D. H.<br />
Lawrence, Shelley, os poetas gregos –. Há um trabalho sobre a história; há navegações errantes, partidas e chegadas,<br />
regressos, há um conceito de paisagem e uma imagem da cidade por entre as ruas cheias de gente; na casa da Mexilhoeira<br />
Grande, Nuno Júdice escreve um livro à luz do apocalipse,/ as primeiras linhas do ocaso: descrições, narrações, personagens,<br />
memórias, odes, uma carta. O livro chama-se As Coisas Mais Simples e foi escrito com os cinco sentidos mais um,<br />
aquele que só os verdadeiros poetas têm.<br />
Urbano Tavares Rodrigues Ao contrário das ondas DOM QUIXOTE<br />
A ele se deve a recuperação de Manuel Teixeira-Gomes. A ele se deve, também, uma obra ficcional de enorme fôlego<br />
com mais de 40 títulos publicados desde 1952, indispensável para compreender o universo social do Portugal contemporâneo.<br />
Em Ao Contrário das Ondas tudo se passa numa Lisboa, entre a Lapa e as Avenidas Novas, num quadro mental<br />
que convoca referências culturais de uma burguesia de esquerda aí retratada com a agilidade e o desembaraço da<br />
escrita que se conhece em Urbano Tavares Rodrigues. Um olhar lúcido sobre as representações urbanas do país, com<br />
um misto de espanto e desencantamento face ao paradigma político actual. Uma crónica realista do tempo que passa.
INSTITUTO DE CULTURA IBERO-ATLÂNTICA<br />
Associação Cultural sem Fins Lucrativos e Pessoa Colectiva de Utilidade Pública DR II série, n.º 8, 11.01.06<br />
1995-2007<br />
MAIS DE UMA DÉCADA DE DIÁLOGO INTERCULTURAL<br />
www.institutoculturaibero-atlantica.pt<br />
SEDE: Largo Dr. Bastos n.º 13 8500-654 PORTIMÃO<br />
CONTACTOS: iciaptm@mail.telepac.pt Telef. 351 282 470822 Fax 351 282 470749
PROCEDIMENTOS DA ARBITRAGEM CIENTÍFICA<br />
Ponto 1.<br />
Da selecção de autores de textos e de imagens para publicação na <strong>Revista</strong> <strong>Atlântica</strong><br />
1.1. Os textos e as imagens podem ser solicitados a autores pelo Conselho Editorial ou pelo Director da <strong>Revista</strong>, de acordo com<br />
o seu mérito científico, artístico, literário ou cultural.<br />
1.2. As propostas formuladas pelos autores serão sujeitas a apreciação pelo Conselho Editorial, mediante os critérios definidos.<br />
Ponto 2.<br />
Dos critérios de selecção dos textos e imagens<br />
2.1. Os textos de natureza científica apresentados ao Conselho Editorial para publicação deverão obedecer aos seguintes critérios:<br />
2.1.1. Rigor científico, aparato crítico.<br />
2.1.2. Clareza do discurso e correcção linguística.<br />
2.1.3. Dimensão adequada a cada rubrica ou secção.<br />
2.2. Os textos de natureza literária apresentados ao Conselho Editorial para publicação deverão obedecer aos seguintes critérios:<br />
2.2.1. Estética da linguagem.<br />
2.2.2. Clareza do discurso e correcção linguística.<br />
2.2.3. Coerência com a rubrica ou secção em que se integram.<br />
2.2.4. Dimensão adequada a cada rubrica ou secção.<br />
2.3. Os textos de natureza cultural apresentados ao Conselho Editorial para publicação deverão obedecer aos seguintes critérios:<br />
2.3.1. Actualidade do tema.<br />
2.3.2. Clareza do discurso e correcção linguística.<br />
2.3.3. Coerência com a rubrica ou secção em que se integram.<br />
2.3.4. Dimensão adequada a cada rubrica ou secção.<br />
2.4. As imagens apresentadas ao Conselho Editorial para publicação deverão obedecer aos seguintes critérios:<br />
2.4.1. A iconografia de arquivo deve mencionar adequadamente a fonte, de acordo com a norma.<br />
2.4.2. As fotografias, os desenhos ou as gravuras originais devem adequar-se esteticamente à concepção artística global<br />
da <strong>Revista</strong>, podendo ser reduzidas, ampliadas ou fragmentadas de forma a integrar-se nos textos que pretendem ilustrar.<br />
2.4.3. Todas as imagens deverão integrar-se com coerência nos conteúdos da <strong>Revista</strong>.<br />
2.5. Das antologias ou excertos de obras já publicadas:<br />
2.5.1. Todos os textos ou imagens já publicados, na totalidade ou em parte, só poderão ser reproduzidos com autorização<br />
escrita dos autores, editores ou arquivos, conforme o caso.<br />
2.6. Dos direitos de autor:<br />
2.6.1. Todos os textos ou imagens são da responsabilidade dos autores, em respeito absoluto pela apreciação vinculativa<br />
do Conselho Editorial.<br />
2.6.2. Todos os textos ou imagens terão a menção da autoria.<br />
2.6.3. Os textos traduzidos serão sempre sujeitos a concordância dos autores.<br />
2.6.4. Todos os textos ou imagens publicados são propriedade da <strong>Revista</strong> <strong>Atlântica</strong> por cedência de direitos dos respectivos<br />
autores.<br />
2.7. Da apreciação do Conselho Editorial:<br />
2.7.1. Eventuais propostas de alteração, correcção ou reformulação dos textos formuladas pelo Conselho Editorial terão de<br />
ser aceites pelos autores, sob pena de não publicação.
PUBLICAÇÃO SEMESTRAL<br />
EDIÇÃO<br />
Instituto de Cultura Ibero-<strong>Atlântica</strong><br />
(Associação Cultural, Pessoa<br />
Colectiva de Utilidade Pública,<br />
DR n.º 8, II Série, 11 de Janeiro<br />
de 2006)<br />
DIRECTOR<br />
João Ventura<br />
REDACÇÃO<br />
João Ventura<br />
Maria da Graça A. Mateus Ventura<br />
ASSISTENTE EDITORIAL<br />
Patrícia Canha<br />
CONSELHO EDITORIAL<br />
António Borges Coelho<br />
(Universidade de Lisboa<br />
- Portugal)<br />
Armando Martínez Garnica<br />
(Universidade Industrial de<br />
Santander - Colômbia)<br />
Caio Boschi (PUC Minas Gerais<br />
- Brasil)<br />
Gerardo Caetano (Universidade<br />
de la República, Montevideu<br />
- Uruguai)<br />
João de Melo (Portugal)<br />
Julio Pantoja (Argentina)<br />
Luis Sepúlveda (Chile)<br />
Maria da Graça A. Mateus Ventura<br />
(Portugal)<br />
Osvaldo Henrique Urbano<br />
(Universidade San Martín de<br />
Porres, Lima - Peru)<br />
PROJECTO EDITORIAL<br />
João Ventura<br />
PATROCÍNIO<br />
APOIOS<br />
IEFP Governo da República Portuguesa<br />
<strong>Revista</strong> atlântica de cultura ibero-americana<br />
DESIGN<br />
Atelier Henrique Cayatte<br />
com Susana Cruz e Cristina Viotti<br />
FOTOGRAFIA<br />
Daniel Barraco<br />
Duarte Belo<br />
Eric Facon<br />
Grau Serra Espriu<br />
João Garcia<br />
João Mariano<br />
João Ventura<br />
Julio Pantoja<br />
Paulo Barata<br />
CAPA E CONTRACAPA<br />
João Mariano<br />
COLABORARAM<br />
NESTA EDIÇÃO<br />
António Ramos Rosa<br />
Boaventura de Sousa Santos<br />
Caio Boschi<br />
Carmen Yáñez Hidalgo<br />
Daniel Barraco<br />
Duarte Belo<br />
Grau Sierra Espriu<br />
João Garcia<br />
João Mariano<br />
João Ventura<br />
Jorge Couto<br />
José Luís Peixoto<br />
José Manuel Fajardo<br />
Julio Pantoja<br />
Lídia Jorge<br />
Luísa Monteiro<br />
Luiz António de Assis Brasil<br />
Maria Adelina Amorim<br />
Maria da Graça A. Mateus Ventura<br />
Direcção Regional de Educação do Algarve<br />
OS PEDIDOS DE ASSINATURA DA REVISTA E PERMUTAS DEVEM SER ENCAMINHADOS PARA:<br />
<strong>Revista</strong> <strong>Atlântica</strong> Instituto de Cultura Ibero-<strong>Atlântica</strong> Largo Dr. Bastos n.º 13 8500-654 Portimão - Portugal<br />
E-mail: info@revista-atlantica.com T. (351) 282 470 822 F. (351) 282 470 749<br />
A <strong>Revista</strong> aceita permuta | Piedese canje | We demande exchange | Demande l’échange<br />
Maria Mansilla<br />
Paulo Barata<br />
Roger Sogues Marco<br />
Sergio Vuskovic Rojo<br />
Urbano Tavares Rodrigues<br />
Vítor Serrão<br />
Virginia Vidal<br />
Volodia Teitelboim<br />
TRADUÇÃO<br />
Maria da Graça A. Mateus Ventura<br />
Patrícia Canha<br />
REVISÃO & COPY DESK<br />
António José Massano<br />
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS<br />
Arquivo Histórico Ultramarino<br />
Arquivo do Museu Municipal<br />
de Portimão<br />
PROPRIEDADE<br />
Instituto de Cultura<br />
Ibero-<strong>Atlântica</strong><br />
Presidente<br />
Maria da Graça A. Mateus Ventura<br />
Vice-Presidente<br />
Valdemar Coutinho<br />
Vogais<br />
Margarida Mimoso Cunha<br />
José Gonçalves Canelas<br />
REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO<br />
Largo Dr. Bastos, n.º 13<br />
8500-654 Portimão<br />
E-mail: iciaptm@mail.telepac.pt<br />
T. (351) 282 470 822<br />
F. (351) 282 470 749<br />
PROMOÇÃO E PUBLICIDADE<br />
info@revista-atlantica.com<br />
pcanha.atlantica@gmail.com<br />
PRÉ-IMPRESSÃO<br />
Critério – Produção Gráfica, Lda<br />
IMPRESSÃO<br />
Norprint<br />
DISTRIBUIÇÃO<br />
ICIA<br />
ISSN<br />
1646-1002<br />
DEPÓSITO LEGAL<br />
219149/04<br />
Registo ICS<br />
124731<br />
PREÇO POR NÚMERO<br />
15 €<br />
SÓCIOS DO ICIA<br />
Gratuito<br />
ASSINATURA ANUAL<br />
25 €<br />
© Instituto de Cultura<br />
Ibero-<strong>Atlântica</strong> e autores<br />
dos textos e das fotografias<br />
www.revista-atlantica.com<br />
www.institutoculturaibero-atlantica.pt<br />
AGRADECE A GENEROSIDADE DOS AUTORES<br />
QUE TORNARAM POSSÍVEL ESTA EDIÇÃO.<br />
OS TEXTOS ASSINADOS SÃO DA EXCLUSIVA<br />
RESPONSABILIDADE DO[S] AUTOR[ES].<br />
APOIOS MEDIA
<strong>Revista</strong> atlântica de cultura ibero-americana | Número 05 Outono Inverno 2006 2007